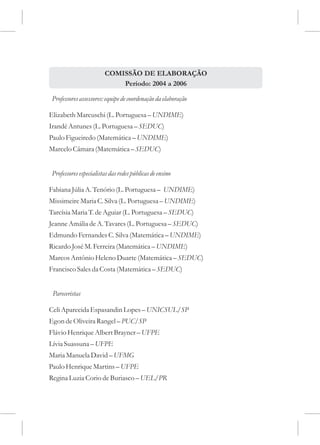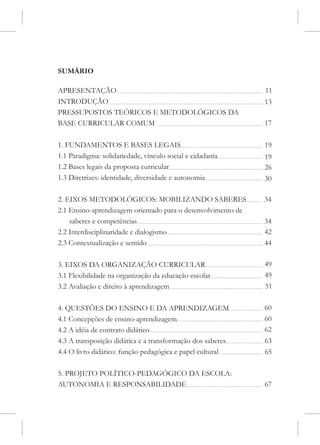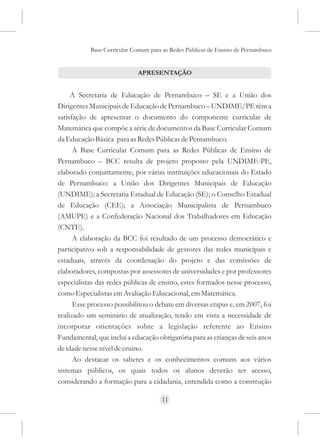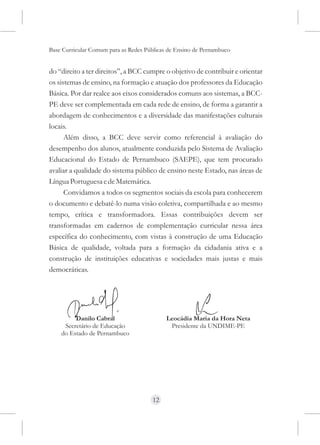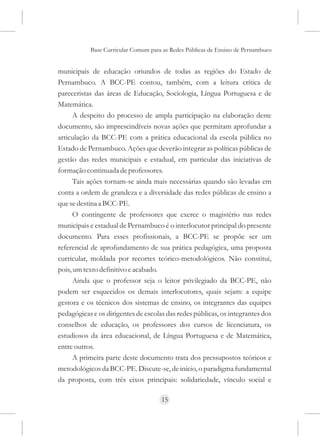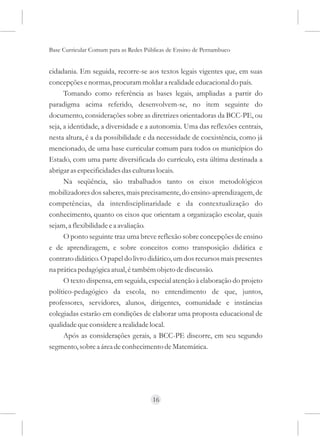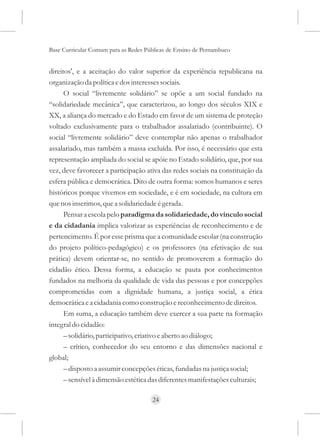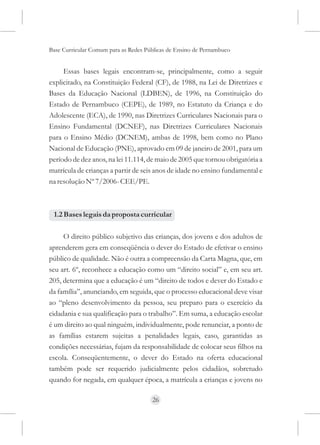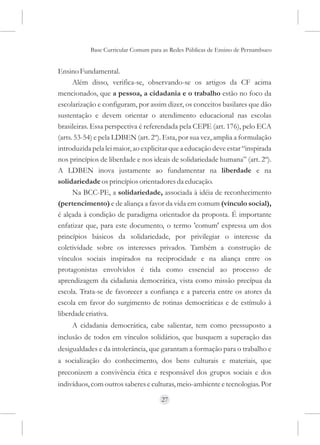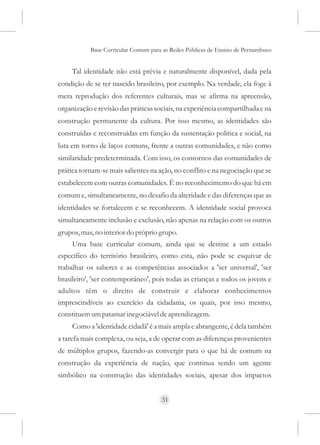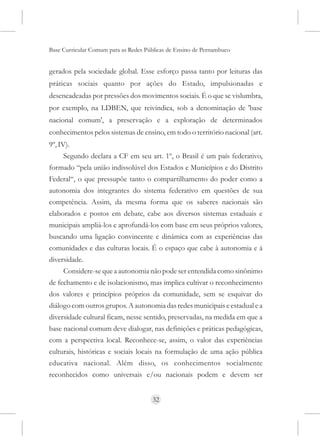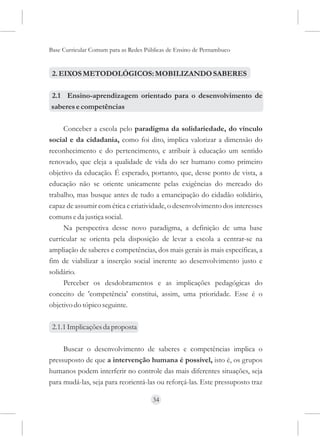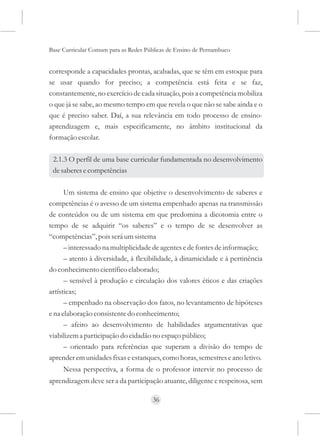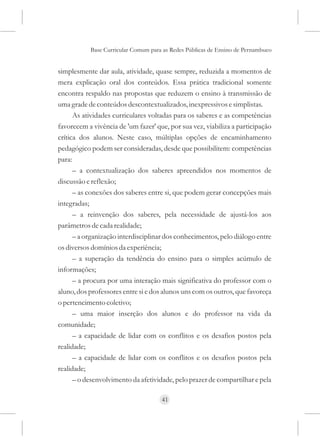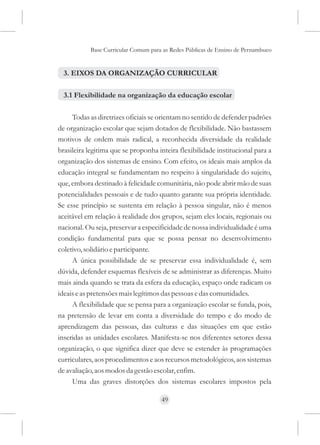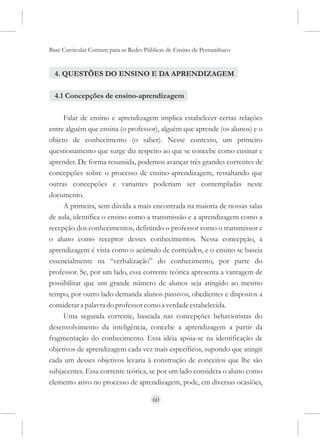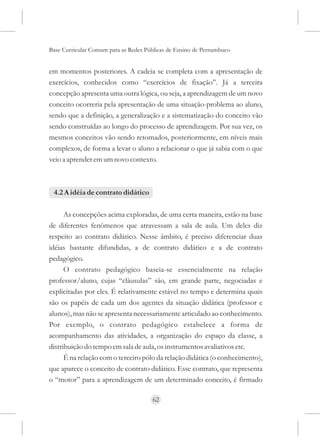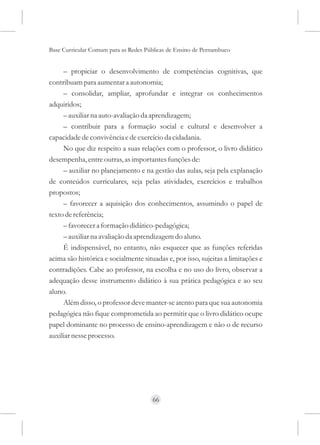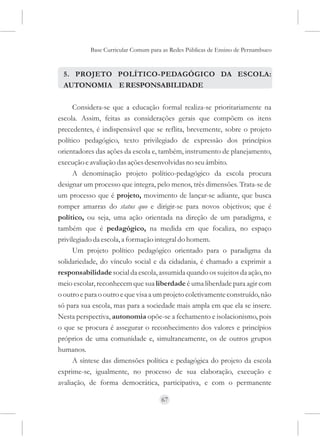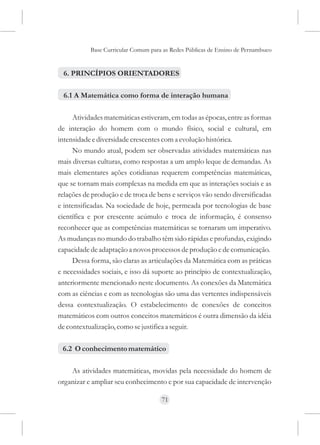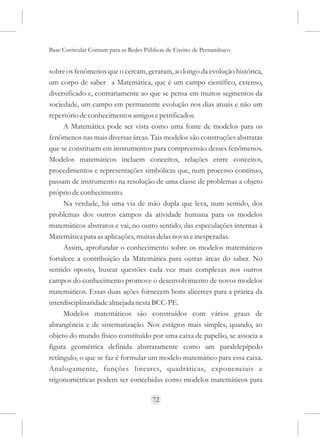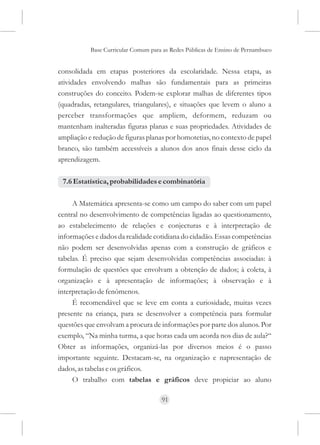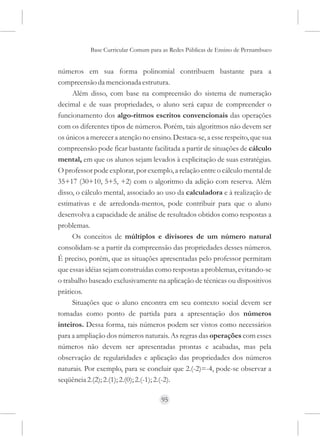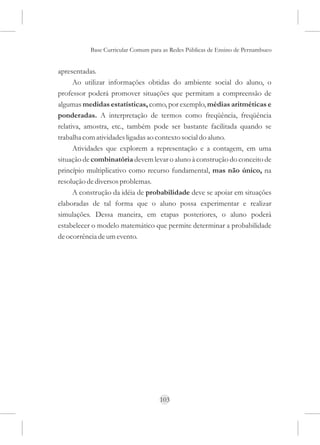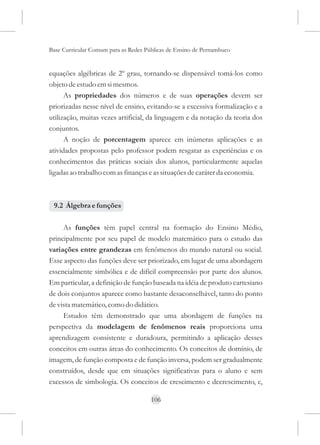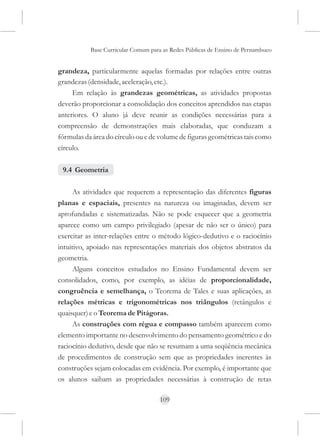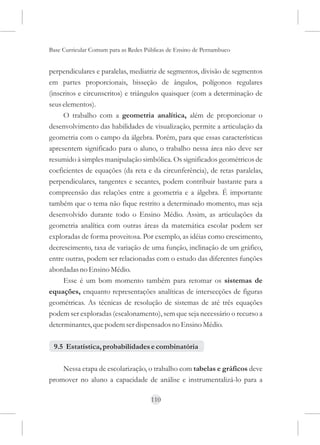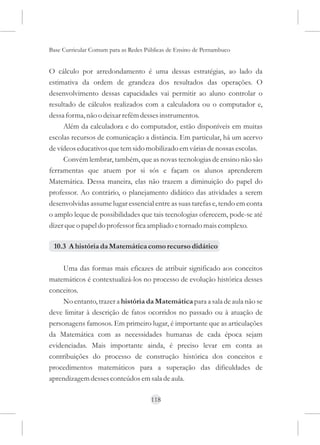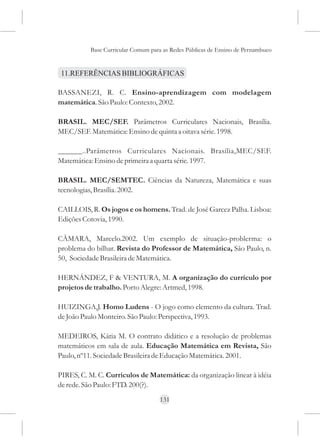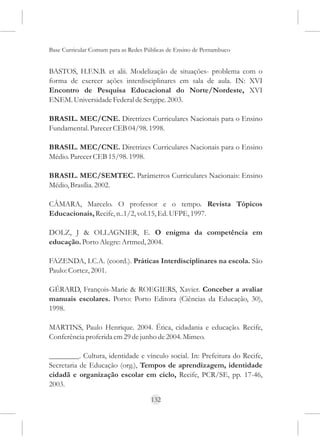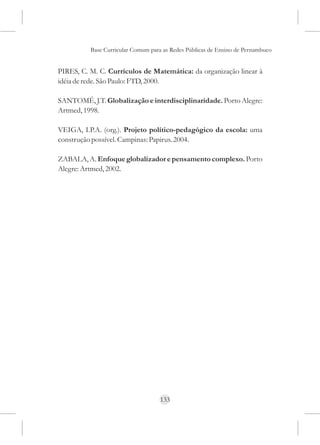Bccmat
- 2. P452b Pernambuco. Secretaria de Educação Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambu- co: matemática / Secretaria de Educação. - Recife : SE. 2008. 134p. Inclui bibliografia. 1. CURRÍCULO ESCOLAR - METODOLOGIA - ENSINO FUNDAMENTAL. 2. CURRÍCULO ESCOLAR - METODOLOGIA - ENSINO MÉDIO. 3. MATAMÁ- TICA- CURRÍCULOS. 4. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS - PER- NAMBUCO. 5. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. 1996 - BRASIL. 6. LIVROS DIDÁTICOS - ASPECTOS EDUCACIONAIS. 7. INTERDISCIPLINA- RIDADE. 8. APRENDIZAGEM. 9. POLÍTICA PEDAGÓGICA. 10. CONSTRUTIVIS- MO (EDUCAÇÃO - PERNAMBUCO. 11. PRÁTICA PEDAGÓGICA. 15. EDUCA- ÇÃO E ESTADO. II. Título. CDU 371.214 CDD 375 PeR - BPE 08-0216
- 3. BASE CURRICULAR COMUM PARA AS REDES PÚBLICAS DE ENSINO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO Eduardo Henrique Accioly Campos SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO Danilo Jorge de Barros Cabral CHEFE DE GABINETE Nilton da Mota Silveira Filho UNDIME-PE Presidentes Estaduais Edla Lira Soares Leocádia Maria da Hora Neta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Secretária Executiva de Gestão de Rede Margareth Costa Zaponi Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação Aída Maria Monteiro da Silva Gerente de Políticas Educacionais de Educação Infantil e Ensino Fundamental Zélia Granja Porto Gerente de Políticas Educacionais do Ensino Médio Cantaluce Mércia Ferreira Paiva de Barros Lima Gerente Geral do Programa de Correção de Fluxo Escolar Ana Coelho Viera Selva Gerente de Políticas Educacionais em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania Genilson Cordeiro Marinho Gerente de Políticas de Educação Especial Albanize Cardoso da Silva Gerente de Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais Maria Epifânia de França Galvão Gerente de Normatização do Ensino Vicência Barbosa de Andrade Torres REVISÃO FINAL Ana Prosini CAPA UNDIME-PE DIAGRAMAÇÃO Josué Paulo Santiago Júnior
- 4. COMISSÃO DE ELABORAÇÃO Período: 2004 a 2006 Professores assessores: equipe de coordenação da elaboração Elizabeth Marcuschi (L. Portuguesa – UNDIME) Irandé Antunes (L. Portuguesa – SEDUC) Paulo Figueiredo (Matemática – UNDIME) Marcelo Câmara (Matemática – SEDUC) Professores especialistas das redes públicas de ensino Fabiana Júlia A. Tenório (L. Portuguesa – UNDIME) Missimeire Maria C. Silva (L. Portuguesa – UNDIME) Tarcísia Maria T. de Aguiar (L. Portuguesa – SEDUC) Jeanne Amália de A. Tavares (L. Portuguesa – SEDUC) Edmundo Fernandes C. Silva (Matemática – UNDIME) Ricardo José M. Ferreira (Matemática – UNDIME) Marcos Antônio Heleno Duarte (Matemática – SEDUC) Francisco Sales da Costa (Matemática – SEDUC) Pareceristas Celi Aparecida Espasandin Lopes – UNICSUL/SP Egon de Oliveira Rangel – PUC/SP Flávio Henrique Albert Brayner – UFPE Lívia Suassuna – UFPE Maria Manuela David – UFMG Paulo Henrique Martins – UFPE Regina Luzia Corio de Buriasco – UEL/PR
- 5. COMISSÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO Período: 2007 Acácia Silva Pereira Gilka Nascimento de Novaes Adalse Mª Arcanjo da Silva Givaldo da Silva Costa Adalva Mª Nascimento S. de Almeida Graça Oliveira Adriana Maria Vidal Nery Machado Hilda Susiane Muniz Silva Ana Francinete V. Cavalcanti Iraneide Domingos da Silva Ana Maria Morais Rosa Isva Mª Modesto Moraes de Souza Ana Paula Bezerra da Silva Jeane de Oliveira Lima Ana Paula Pacheco da Silva José Carlos Julião de Melo Anelúcia Maria de Souza Correia José Luiz Lucena Travassos Angélica Maria Gomes de José Wagner Queiroz de Almeida Vasconcelos Josefa Rita de Cássia Lima Serafim Antonia Isalida B. de Almeida Josemar Barbosa de Almeida Ari José Rodrigues da Silva Jussara Maria Pereira de Azevedo Ariandne Araújo Alves Kátia Araújo Arundo Nunes da Silva Júnior Kátia Cilene de Silva Pereira Aurelúcio Braga de Oliveira Leda Soares de Almeida Dayse Cabral de Moura Lúcia Amélia Paiva Lins Eládio Alves dos Santos Luís Renan Leal de Melo Elizabeth Gomes de Araújo Sousa Mª das Dores da Silva Vasconcelos Emércia Oliveirad Araújo Maria de Lourdes de Sá Eriberto Vitorino da Silva Mª Inêz de Menezes Lafayette Evanilson Landim Alves Marcela Simone Santos Secundes Ezinete Alencar de Sá Mendes Márcia Andrada Brito Fabiana Oliveira de Araújo Márcia Regina Vilaverde Lopes Flávia Jones da Costa Lima Marconi Benedito da Silva Francinete Monteiro da Silva Marcos Antônio Heleno Duarte Francisco Jairo Timóteo de Sá Maria Aparecida Silva Rufino Geisa B. de N. Conceição Maria Cristiane Dutra
- 6. Maria da Conceção B. de Albuquerque Onilda Patrícia de Sousa Belo Maria da Conceição Viana Zoby Paulo José Alves Pedrosa Maria do Carmo Barbosa Almeida Pedro Marques de Souza Maria do Socorro de Sá Tavares Regina Celi de Melo André Santos Ricardo José Oliveira Maria Emília Soares da S. Santos Ricardo Marins da Silva Maria José de Almeida Carvalho Robson Gustavo de Santana Maria José Holanda Barbosa Rosa Maria de Souza Leal Santos Maria José Pereira Gomes Rosimere Carlos Ferreira da Costa Maria Jucileide Lopes Alencar Rozineide Novaes Ferraz Maria Lúcia A. Freire Sandra Maria Santos Maria Lúcia Angelina Torres Silvania Félix Barbosa Maria Lúcia da Silveira Santos Silvãnia Maria da Silva Amorim Maria Marcia Moura Brito Sônia Virgínia Martins Pereira Maria Núbia De Jesus Silva Tarcisia Maria Travassos de Aguiar Maria Valéria Sabino R. Carvalho Valdir Ferreira da Silva Marilene Raimunda Da Silva Veléria Batista Costa Marinaldo Alves de Souza Valéria Maria Tavares Marizete de Farias Gomes Fonsêca Vanda Maria Braga Cardoso Milton Perseus Santos de Melo Vânia de Moura Barbosa Músia Arlane Alves Batista Verônica de Queiroz Arruda Nayra Maria Chaves Wilson Pereira de Miranda
- 7. SUMÁRIO APRESENTAÇÃO 11 INTRODUÇÃO 13 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA BASE CURRICULAR COMUM 17 1. FUNDAMENTOS E BASES LEGAIS 19 1.1 Paradigma: solidariedade, vínculo social e cidadania 19 1.2 Bases legais da proposta curricular 26 1.3 Diretrizes: identidade, diversidade e autonomia 30 2. EIXOS METODOLÓGICOS: MOBILIZANDO SABERES 34 2.1 Ensino-aprendizagem orientado para o desenvolvimento de saberes e competências 34 2.2 Interdisciplinaridade e dialogismo 42 2.3 Contextualização e sentido 44 3. EIXOS DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 49 3.1 Flexibilidade na organização da educação escolar 49 3.2 Avaliação e direito à aprendizagem 51 4. QUESTÕES DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 60 4.1 Concepções de ensino-aprendizagem 60 4.2 A idéia de contrato didático 62 4.3 A transposição didática e a transformação dos saberes 63 4.4 O livro didático: função pedagógica e papel cultural 65 5. PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA: AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE 67
- 8. 6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 71 6.1 A Matemática como forma de interação humana 71 6.2 O conhecimento matemático 71 6.3 A Matemática e a construção da cidadania 75 7. COMPETÊNCIAS E SABERES 76 7.1 A matemática na primeira etapa do Ensino Fundamental 79 7.2 Números e operações 80 7.3 Álgebra e funções 85 7.4 Grandezas e medidas 86 7.5 Geometria 89 7.6 Estatística, probabilidades e combinatória 91 8.A MATEMÁTICA NA SEGUNDA ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL 93 8.1 Números e operações 94 8.2 Álgebra e funções 98 8.3 Grandezas e medidas 99 8.4 Geometria 101 8.5 Estatística, probabilidades e combinatória 102 9 .A MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 104 9.1 Números e operações 105 9.2 Álgebra e funções 106 9.3 Grandezas e medidas 108 9.4 Geometria 109 9.5 Estatística, probabilidades e combinatória 110
- 9. 10. ASPECTOS DIDÁTICOS 112 10.1 O papel da resolução de problemas na aprendizagem em matemática 112 10.2 A Matemática e as novas tecnologias 116 10.3 A história da Matemática como recurso didático 118 10.4 Jogos matemáticos 119 10.5 Outros recursos no ensino-aprendizagem da Matemática 122 10.6 A avaliação em Matemática 126 11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 131
- 11. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco APRESENTAÇÃO A Secretaria de Educação de Pernambuco – SE e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco – UNDIME/PE têm a satisfação de apresentar o documento do componente curricular de Matemática que compõe a série de documentos da Base Curricular Comum da Educação Básica para as Redes Públicas de Pernambuco. A Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco – BCC resulta de projeto proposto pela UNDIME-PE, elaborado conjuntamente, por várias instituições educacionais do Estado de Pernambuco: a União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); a Secretaria Estadual de Educação (SE); o Conselho Estadual de Educação (CEE); a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). A elaboração da BCC foi resultado de um processo democrático e participativo sob a responsabilidade de gestores das redes municipais e estaduais, através da coordenação do projeto e das comissões de elaboradores, compostas por assessores de universidades e por professores especialistas das redes públicas de ensino, estes formados nesse processo, como Especialistas em Avaliação Educacional, em Matemática. Esse processo possibilitou o debate em diversas etapas e, em 2007, foi realizado um seminário de atualização, tendo em vista a necessidade de incorporar orientações sobre a legislação referente ao Ensino Fundamental, que inclui a educação obrigatória para as crianças de seis anos de idade nesse nível de ensino. Ao destacar os saberes e os conhecimentos comuns aos vários sistemas públicos, os quais todos os alunos deverão ter acesso, considerando a formação para a cidadania, entendida como a construção 11
- 12. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco do “direito a ter direitos”, a BCC cumpre o objetivo de contribuir e orientar os sistemas de ensino, na formação e atuação dos professores da Educação Básica. Por dar realce aos eixos considerados comuns aos sistemas, a BCC- PE deve ser complementada em cada rede de ensino, de forma a garantir a abordagem de conhecimentos e a diversidade das manifestações culturais locais. Além disso, a BCC deve servir como referencial à avaliação do desempenho dos alunos, atualmente conduzida pelo Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Pernambuco (SAEPE), que tem procurado avaliar a qualidade do sistema público de ensino neste Estado, nas áreas de Língua Portuguesa e de Matemática. Convidamos a todos os segmentos sociais da escola para conhecerem o documento e debatê-lo numa visão coletiva, compartilhada e ao mesmo tempo, crítica e transformadora. Essas contribuições devem ser transformadas em cadernos de complementação curricular nessa área específica do conhecimento, com vistas à construção de uma Educação Básica de qualidade, voltada para a formação da cidadania ativa e a construção de instituições educativas e sociedades mais justas e mais democráticas. Danilo Cabral Leocádia Maria da Hora Neta Secretário de Educação Presidente da UNDIME-PE do Estado de Pernambuco 12
- 13. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco INTRODUÇÃO A proposta de uma base curricular comum para as redes públicas de ensino de Pernambuco tem raízes na necessidade de se colocar em outro patamar a educação em nosso Estado. Hoje, quase todas as crianças brasileiras têm vaga assegurada nas redes públicas de Ensino Fundamental. Contudo, é preciso procurar atingir o estágio em que, além de não haver crianças e jovens fora da escola, a relação idade-série se revele adequada, e a qualidade da educação oferecida seja ampliada. Educação que está, reconhecidamente, longe de atender aos requisitos imprescindíveis a uma formação que incorpore crítica e articuladamente os conhecimentos, os saberes e as competências atinentes aos campos cultural, social, estético, ético, científico e tecnológico. No espírito do regime de colaboração preceituado pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN), o documento da BCC- PE responde, em primeiro plano, à aspiração dos sistemas públicos de ensino localizados no Estado de Pernambuco de disponibilizar uma base curricular que sirva de referência à formação educacional do conjunto de crianças, jovens e adultos neles inserido com vistas a contribuir para responder aos desafios da educação do Estado. Por tentar convergir diferentes realidades e concepções, a formulação de uma base curricular comum é um processo muito complexo. No caso de Pernambuco, a versão aqui apresentada é um momento especial desse processo, mas novos encaminhamentos que ampliem seu alcance e eficácia são indispensáveis. Uma clara e imprescindível ampliação deverá incluir as demais áreas do conhecimento que fazem parte do sistema escolar. Ao se restringir à Língua Portuguesa e à Matemática, esse processo inicial responde a demandas específicas, que têm reivindicado uma maior participação da escola na 13
- 14. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco formação para o uso social da linguagem e dos saberes matemáticos. No entanto, impõe-se o prosseguimento de ações que permitam incorporar à BCC-PE, as demais áreas do currículo da Educação Básica. Uma outra ampliação, não menos relevante, deverá contemplar a etapa da Educação Infantil e a modalidade da Educação de Jovens e Adultos. A primeira, usualmente dedicada a crianças de 0 a 5 anos, tem sua inegável importância cada vez mais reconhecida na legislação e na prática educacional em todo o mundo. A segunda, destinada às pessoas que não tiveram acesso às oportunidades educacionais na idade esperada, tem a tarefa de assegurar a escolarização e a inserção mais efetiva na sociedade desse significativo contingente de indivíduos. O documento da BCC-PE foi produzido em frutífero processo, iniciado em 2004, sob responsabilidade de gestores das redes municipais e estadual, da coordenação do projeto, das comissões de elaboradores, compostas por assessores de universidades e por professores especialistas das redes públicas de ensino. Desse processo, constou uma seqüência de oito reuniões ampliadas e de seis seminários regionais, nos quais foram debatidos temas relevantes para a BCC-PE e sugeridas modificações no documento. Esses encontros ocorreram ao longo de todo o processo de elaboração da BCC-PE e deles participaram debatedores convidados (das áreas de Sociologia, Educação, Ciências Políticas, História, Arte, Ciências, Língua Portuguesa e Matemática), membros da SEDUC e da diretoria da UNDIME, professores da educação básica das redes públicas, gestores municipais e estaduais de todos os níveis, integrantes de movimentos sociais, como a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco (COPIPE) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), representantes dos núcleos de avaliação instalados em várias redes municipais, representantes do Conselho Estadual de Educação e de conselhos 14
- 15. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco municipais de educação oriundos de todas as regiões do Estado de Pernambuco. A BCC-PE contou, também, com a leitura crítica de pareceristas das áreas de Educação, Sociologia, Língua Portuguesa e de Matemática. A despeito do processo de ampla participação na elaboração deste documento, são imprescindíveis novas ações que permitam aprofundar a articulação da BCC-PE com a prática educacional da escola pública no Estado de Pernambuco. Ações que deverão integrar as políticas públicas de gestão das redes municipais e estadual, em particular das iniciativas de formação continuada de professores. Tais ações tornam-se ainda mais necessárias quando são levadas em conta a ordem de grandeza e a diversidade das redes públicas de ensino a que se destina a BCC-PE. O contingente de professores que exerce o magistério nas redes municipais e estadual de Pernambuco é o interlocutor principal do presente documento. Para esses profissionais, a BCC-PE se propõe ser um referencial de aprofundamento de sua prática pedagógica, uma proposta curricular, moldada por recortes teórico-metodológicos. Não constitui, pois, um texto definitivo e acabado. Ainda que o professor seja o leitor privilegiado da BCC-PE, não podem ser esquecidos os demais interlocutores, quais sejam: a equipe gestora e os técnicos dos sistemas de ensino, os integrantes das equipes pedagógicas e os dirigentes de escolas das redes públicas, os integrantes dos conselhos de educação, os professores dos cursos de licenciatura, os estudiosos da área educacional, de Língua Portuguesa e de Matemática, entre outros. A primeira parte deste documento trata dos pressupostos teóricos e metodológicos da BCC-PE. Discute-se, de início, o paradigma fundamental da proposta, com três eixos principais: solidariedade, vínculo social e 15
- 16. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco cidadania. Em seguida, recorre-se aos textos legais vigentes que, em suas concepções e normas, procuram moldar a realidade educacional do país. Tomando como referência as bases legais, ampliadas a partir do paradigma acima referido, desenvolvem-se, no item seguinte do documento, considerações sobre as diretrizes orientadoras da BCC-PE, ou seja, a identidade, a diversidade e a autonomia. Uma das reflexões centrais, nesta altura, é a da possibilidade e da necessidade de coexistência, como já mencionado, de uma base curricular comum para todos os municípios do Estado, com uma parte diversificada do currículo, esta última destinada a abrigar as especificidades das culturas locais. Na seqüência, são trabalhados tanto os eixos metodológicos mobilizadores dos saberes, mais precisamente, do ensino-aprendizagem, de competências, da interdisciplinaridade e da contextualização do conhecimento, quanto os eixos que orientam a organização escolar, quais sejam, a flexibilidade e a avaliação. O ponto seguinte traz uma breve reflexão sobre concepções de ensino e de aprendizagem, e sobre conceitos como transposição didática e contrato didático. O papel do livro didático, um dos recursos mais presentes na prática pedagógica atual, é também objeto de discussão. O texto dispensa, em seguida, especial atenção à elaboração do projeto político-pedagógico da escola, no entendimento de que, juntos, professores, servidores, alunos, dirigentes, comunidade e instâncias colegiadas estarão em condições de elaborar uma proposta educacional de qualidade que considere a realidade local. Após as considerações gerais, a BCC-PE discorre, em seu segundo segmento, sobre a área de conhecimento de Matemática. 16
- 17. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA BASE CURRICULAR COMUM Ao longo deste item são apresentados os eixos básicos, que procuram fundamentar a proposta da Base Curricular Comum para as Redes Públicas do Estado de Pernambuco, considerando-se as etapas do Ensino Fundamental, que recentemente foi ampliado para nove anos pela Lei Federal no 11.114/ 2005 e do Ensino Médio. Parte-se do princípio, como estabelecido pela Constituição Federal em seu art. 205, de que a educação é direito de todos, caracterizando-se a escola como um espaço pedagógico, no qual o ensino deve se ministrado em “igualdade de condições para o acesso e permanência” (art. 206, I). Frente a esse direito, impõe-se como dever do Estado e das redes públicas de ensino, a universalização da oferta educacional com qualidade social. Para além dessas conquistas firmadas pela Constituição, ampliou-se, mais recentemente, a idéia de escola, que passou a agregar não apenas a responsabilidade de promover a aprendizagem do aluno, mas de fazê-lo respeitando os tempos e os modos distintos em que essa aprendizagem se processa. As reflexões iniciais dos Pressupostos Teóricos e Metodológicos da Base Curricular Comum configuram a solidariedade, que se afirma no vínculo social e na cidadania, como paradigma, e a identidade, vista na diversidade e na autonomia, como diretriz da proposta educacional. Discorrem ainda a respeito das bases legais que estabelecem orientações curriculares obrigatórias para o país. O texto ocupa-se também dos eixos metodológicos mobilizadores dos saberes e da aprendizagem, mais precisamente, das competências, da interdisciplinaridade e da contextualização, bem como dos eixos da flexibilidade e da avaliação, em torno dos quais a rede estadual e as redes municipais públicas de ensino de Pernambuco são convocadas a se organizar. Por reconhecer que a educação formal transcorre prioritariamente na 17
- 18. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco escola, o documento dá especial destaque à elaboração do projeto político- pedagógico. O exercício da autonomia escolar pressupõe, entre outros aspectos, a convergência de esforços de professores, servidores, alunos, dirigentes, comunidade e instâncias colegiadas, na construção de uma proposta político-pedagógica que traduza, no cotidiano da instituição, sua responsabilidade, partilhada com o conjunto da sociedade, em garantir o direito do aluno à educação de qualidade. 18
- 19. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 1. FUNDAMENTOS E BASES LEGAIS 1. 1 Paradigma: solidariedade, vínculo social e cidadania No contexto de elaboração do projeto educacional moderno, o século XX foi intensamente marcado por reflexões a respeito do papel da escola nos processos de formação. Esta indagação foi sendo elaborada no bojo de múltiplos debates e inquietações, que, observados sócio-historicamente, colocavam em xeque a visão de mundo predominante até meados do século XVIII e buscavam construir um novo projeto para a humanidade. Tal como o percebemos hoje, o projeto ocidental de modernidade (iniciado no século XVI e consolidado no século XVIII) emerge associado à desconstrução do entrelaçamento dos sistemas político, científico e religioso, vistos até então como inseparáveis. Sob esse prisma, no mundo ocidental, a ordem sagrada deixa de ser responsabilizada pelas vitórias e desgraças da humanidade. Dessa forma, em meio a resistências e contradições, a população não mais aceita que a injustiça social seja atribuída a fatalidades. Como afirma Martins (2003, p.21), “a idéia de modernidade é a de uma sociedade que se libera progressivamente da influência religiosa na organização do mundo do trabalho, permitindo aos indivíduos/grupos refletirem livremente sobre a construção racional de suas próprias identidades históricas”. Analisando sob o prisma contemporâneo, pode-se dizer que essa concepção convocou o homem moderno a assumir as rédeas de seu destino e a recompor sua identidade. Isso não significa, cabe ressaltar, o fim da religiosidade, que, ao contrário, além de se renovar e multiplicar intensamente nas últimas décadas, ocupa importante espaço na vida familiar e social das pessoas. Significa apenas que, ao se proclamar como laico, ou seja, não-vinculado a 19
- 20. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco religião alguma, como é o caso do Brasil (Constituição Federal, art. 19, I), o Estado não pode mais justificar a existência das desigualdades sociais, facilmente identificáveis no país, como sendo decorrentes de determinações sagradas. Fundada na tradição, sobretudo a judaico-cristã e a greco-romana, a sociedade moderna, como de resto todo o processo histórico da humanidade, passa a vivenciar situações conflitantes, provocadas pelo confronto entre o velho e o novo. Assim, mesmo preso ao tradicional, para o homem moderno, o passado deixa de ser, em certa medida, a inspiração primeira para se pensar a civilização. Nesse conflito, é para a utopia do futuro que se voltam os esforços de renovação dos saberes e da busca do conhecimento. A felicidade é percebida agora no progresso do ser humano, a qual implica o aperfeiçoa-mento das condições inventivas e tecnológicas da humanidade, e a implementação da ordem da cultura, que se sobrepõe à ordem da natureza. É a cultura, pois, que pode oferecer os subsídios necessários à compreensão do que há de diferente e de comum entre os povos. No interior desse percurso, consolida-se a crescente contestação feita a verdades estabelecidas como inquestionáveis, as quais vão sendo substituídas por outras. Dentre as verdades contestadas, cite-se a certeza até então dominante de que o mundo é organizado de forma estável, e conhecer implica na memorização e na reprodução dessas verdades. Instalada a dúvida frente a dogmas absolutos, constitui-se paulatinamente com a modernidade um indivíduo mais consciente, crítico e questionador, capaz de emancipar-se do obscurantismo e de abraçar a utopia de construir uma sociedade mais justa. Por outro lado, as novas descobertas científicas e a noção de ordem e progresso levam o mundo ocidental a uma visão eurocêntrica. Ganha corpo a convicção de que a sociedade européia e burguesa é superior às demais, 20
- 21. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco tidas como primitivas e inferiores, de que há povos (classes) mais evoluídos, que detêm a prerrogativa de impor sua cultura a outros povos (classes). Nesse contexto, o processo de exclusão expande-se significativamente, não só entre as culturas, mas também no interior de uma mesma cultura. Em um mundo submetido a mutações dessa ordem e grandeza, bem como a uma tensão entre regulação social e emancipação social, a sociedade moderna foi reinventando a realidade, construindo novos paradigmas de organização social e, conseqüentemente, também de educação. Esses paradigmas expressam a diversidade assumida pelo projeto de modernidade, o qual vai incorporar as concepções e os interesses predominantes em seus espaços de consolidação, além das contradições, das resistências e dos movimentos diversificados surgidos em seu interior. Apontar as concepções conflitantes desses paradigmas não significa, no entanto, considerá-los dicotômicos, superados ou caracterizando rupturas, mas implica analisá-los no interior de redes de significação constituídas por nódulos, que se articulam entre si e configuram tanto os valores alçados pelos paradigmas a primeiro plano quanto os desdobramentos daí decorrentes. Como seria de se esperar, o contexto educacional que emerge de um ou outro paradigma é o ponto de maior interesse para o presente documento1. A seguir, três paradigmas são apresentados: o paradigma do interesse, o paradigma da obrigação e o paradigma da solidariedade. Paradigma do interesse: funda-se na concepção de que os objetivos pessoais devem ser priorizados sobre os coletivos, daí advindo a noção de indivíduo como uma célula à parte da sociedade e, de sociedade, como a soma dos indivíduos. Tendo esse fundamento como suporte de sua argumentação, o paradigma do interesse referenda o individualismo 1 As reflexões a respeito dos diferentes paradigmas são baseadas em Martins, P. H. (2003 e 2004). 21
- 22. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco utilitarista. Encontra ainda terreno fértil na idéia de produtividade econômica, como reguladora do desenvolvimento e do bem-estar da sociedade, e no primado da mercadoria como valor. Ocorre, por essa via, a expansão do sistema mercantil e do capitalismo industrial e, com eles, a formação de um indivíduo utilitarista e interessado em bens imediatos, para quem o particular é mais importante do que o todo. A preocupação maior da educação, segundo esse paradigma, deve ser educar para atender o mercado de trabalho, fonte inspiradora e determinante das especializações que devem assumir papel de destaque nos processos de formação. Ao apostar no sucesso pessoal, a responsabilidade pelo bom desempenho e também pelo fracasso na aprendizagem é atribuída quase que exclusivamente ao indivíduo. Ganha corpo nesse contexto a teoria que coloca apenas no aluno a responsabilidade por desenvolver sua capacidade racional. Portanto, para essa teoria, o ser humano possui aptidões inatas (para o cálculo, por exemplo), que se desenvolverão naturalmente. Para isso, basta querer. Quando determinadas aptidões estão ausentes, nada se pode fazer. Por essa perspectiva, a escola assume a proposta didática que julga eficiente, cabendo ao aluno apenas responder à aprendizagem, como o consumidor responde ao produtor. Paradigma da obrigação: desenvolve-se simultaneamente ao paradigma do interesse, como forma de resistência aos valores individualistas e de manutenção de uma tradição autoritária e/ou paternalista. Esta vertente do projeto de modernidade consagra o culto ao poder centralizador, na medida em que o respeito às regras e aos costumes deve prevalecer sobre a liberdade individual. Na modernidade, este paradigma atribui relevância maior à totalidade social, configurada no Estado, do que aos indivíduos; ou seja, o que importa é garantir o sistema social no seu todo, mesmo que se sacrifique o indivíduo. Nessa perspectiva, o paradigma da obrigação opera com a compreensão de que os fenômenos 22
- 23. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco sociais devem ser controlados para garantir a ordem coletiva. A sociedade se organiza a partir de um poder centralizador, o poder estatal, que funciona hierarquicamente e se apresenta como um modelo autônomo, tomado como universal e gerenciador do processo de modernização. No emaranhado de múltiplas compreensões a respeito da modernidade, para alguns grupos, 'ser moderno' envolvia a urgente necessidade de superação do 'atraso'. Em decorrência, em países como o Brasil, a escola assume como uma de suas tarefas a difusão da cultura e dos valores de grandes centros externos, como os da Europa ou os dos Estados Unidos, ou internos, como os de São Paulo ou do Rio de Janeiro, objetivando a formação do cidadão regulamentado, adepto de modelos culturais tidos como desejáveis. A preocupação básica da educação nesse contexto é a de salvaguardar a totalidade idealizada do sistema, preservar as prerrogativas do Estado, com a conseqüente exclusão do sujeito livre no papel de protagonista social. Paradigma da solidariedade: Nas últimas décadas, na cena mundial e também no Brasil, a tensão existente entre as relações individuais e a realidade supra-social (estatal) provocou a inserção de novos atores no debate, empenhados na superação do papel de figurantes, na superação do antagonismo disseminado entre espaço social e indivíduo e, na construção de uma sociedade mais justa e democrática, que se organiza a partir de redes sociais fortalecidas local, regional , nacional e globalmente. Nesse contexto, as forças democratizantes pautam-se por um novo paradigma, o da solidariedade, que neste documento da BCC-PE, é ampliado para abarcar as noções de vínculo social e de cidadania, ambas fundadas no princípio da justiça social e na experiência republicana (experiência da coisa pública). Em suma, a solidariedade é aqui compreendida como a reciprocidade entre grupos e atores sociais; numa relação de intersubjetividade; o vínculo social, como a aliança a favor da comunidade; e a cidadania, como o 'direito a ter 23
- 24. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco direitos', e a aceitação do valor superior da experiência republicana na organização da política e dos interesses sociais. O social “livremente solidário” se opõe a um social fundado na “solidariedade mecânica”, que caracterizou, ao longo dos séculos XIX e XX, a aliança do mercado e do Estado em favor de um sistema de proteção voltado exclusivamente para o trabalhador assalariado (contribuinte). O social “livremente solidário” deve contemplar não apenas o trabalhador assalariado, mas também a massa excluída. Por isso, é necessário que esta representação ampliada do social se apóie no Estado solidário, que, por sua vez, deve favorecer a participação ativa das redes sociais na constituição da esfera pública e democrática. Dito de outra forma: somos humanos e seres históricos porque vivemos em sociedade, e é em sociedade, na cultura em que nos inserimos, que a solidariedade é gerada. Pensar a escola pelo paradigma da solidariedade, do vínculo social e da cidadania implica valorizar as experiências de reconhecimento e de pertencimento. É por esse prisma que a comunidade escolar (na construção do projeto político-pedagógico) e os professores (na efetivação de sua prática) devem orientar-se, no sentido de promoverem a formação do cidadão ético. Dessa forma, a educação se pauta por conhecimentos fundados na melhoria da qualidade de vida das pessoas e por concepções comprometidas com a dignidade humana, a justiça social, a ética democrática e a cidadania como construção e reconhecimento de direitos. Em suma, a educação também deve exercer a sua parte na formação integral do cidadão: – solidário, participativo, criativo e aberto ao diálogo; – crítico, conhecedor do seu entorno e das dimensões nacional e global; – disposto a assumir concepções éticas, fundadas na justiça social; – sensível à dimensão estética das diferentes manifestações culturais; 24
- 25. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco – empenhado em partilhar regras democráticas, construídas com base no interesse comum e no respeito à diversidade. Essa é a utopia, que se apresenta como rica em possibilidades, como catalisadora de esforços, mesmo em uma sociedade marcada pela violência e pela desigualdade, como a sociedade brasileira. É uma questão de foco. Enquanto os dois primeiros paradigmas orientam-se, quase que unicamente, por uma lógica comprometida com índices de produtividade econômica e tecnológica, por uma aprendizagem individual, racional e pragmática, bem como pela transmissão, de forma hierarquizada e cumulativa dos conteúdos, isolados em um conjunto de disciplinas, o terceiro destaca uma aprendizagem relacional, crítica, situada e conjunta, a partir de práticas solidárias, fundadas na reciprocidade, e de práticas contextualizadas. É, portanto, uma aprendizagem mobilizadora de saberes e valores éticos e estéticos, lúdicos e afetivos, criativos e participativos, plurais e sócio-historicamente construídos. Tudo isso, sem desvalorizar, dado seu caráter interdisciplinar e sua atenção à contextualização, nem a natureza lógico-racional do ser humano nem as exigências do mundo do trabalho. Esse paradigma aponta para a possibilidade de construção de uma cidadania democrática e plural (pautada nos princípios da ética, da solidariedade e da justiça social), bem como na perspectiva da autonomia e do respeito à diversidade dos atores sociais envolvidos no processo. Além disso, os argumentos a favor de se assumir o paradigma da solidariedade, do vínculo social e da cidadania como fio condutor da proposta curricular para as redes públicas do Estado de Pernambuco encontram respaldo nas bases legais, de âmbito nacional e local, construídas nas duas últimas décadas, com a participação e a intensa luta dos movimentos sociais organizados (como a desenvolvida pelo “Fórum em defesa da escola pública de qualidade na Constituinte”). 25
- 26. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco Essas bases legais encontram-se, principalmente, como a seguir explicitado, na Constituição Federal (CF), de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, na Constituição do Estado de Pernambuco (CEPE), de 1989, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (DCNEF), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), ambas de 1998, bem como no Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 09 de janeiro de 2001, para um período de dez anos, na lei 11.114, de maio de 2005 que tornou obrigatória a matrícula de crianças a partir de seis anos de idade no ensino fundamental e na resolução Nº 7/2006- CEE/PE. 1.2 Bases legais da proposta curricular O direito público subjetivo das crianças, dos jovens e dos adultos de aprenderem gera em conseqüência o dever do Estado de efetivar o ensino público de qualidade. Não é outra a compreensão da Carta Magna, que, em seu art. 6º, reconhece a educação como um “direito social” e, em seu art. 205, determina que a educação é um “direito de todos e dever do Estado e da família”, anunciando, em seguida, que o processo educacional deve visar ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Em suma, a educação escolar é um direito ao qual ninguém, individualmente, pode renunciar, a ponto de as famílias estarem sujeitas a penalidades legais, caso, garantidas as condições necessárias, fujam da responsabilidade de colocar seus filhos na escola. Conseqüentemente, o dever do Estado na oferta educacional também pode ser requerido judicialmente pelos cidadãos, sobretudo quando for negada, em qualquer época, a matrícula a crianças e jovens no 26
- 27. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco Ensino Fundamental. Além disso, verifica-se, observando-se os artigos da CF acima mencionados, que a pessoa, a cidadania e o trabalho estão no foco da escolarização e configuram, por assim dizer, os conceitos basilares que dão sustentação e devem orientar o atendimento educacional nas escolas brasileiras. Essa perspectiva é referendada pela CEPE (art. 176), pelo ECA (arts. 53-54) e pela LDBEN (art. 2º). Esta, por sua vez, amplia a formulação introduzida pela lei maior, ao explicitar que a educação deve estar “inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana” (art. 2º). A LDBEN inova justamente ao fundamentar na liberdade e na solidariedade os princípios orientadores da educação. Na BCC-PE, a solidariedade, associada à idéia de reconhecimento (pertencimento) e de aliança a favor da vida em comum (vínculo social), é alçada à condição de paradigma orientador da proposta. É importante enfatizar que, para este documento, o termo 'comum' expressa um dos princípios básicos da solidariedade, por privilegiar o interesse da coletividade sobre os interesses privados. Também a construção de vínculos sociais inspirados na reciprocidade e na aliança entre os protagonistas envolvidos é tida como essencial ao processo de aprendizagem da cidadania democrática, vista como missão precípua da escola. Trata-se de favorecer a confiança e a parceria entre os atores da escola em favor do surgimento de rotinas democráticas e de estímulo à liberdade criativa. A cidadania democrática, cabe salientar, tem como pressuposto a inclusão de todos em vínculos solidários, que busquem a superação das desigualdades e da intolerância, que garantam a formação para o trabalho e a socialização do conhecimento, dos bens culturais e materiais, que preconizem a convivência ética e responsável dos grupos sociais e dos indivíduos, com outros saberes e culturas, meio-ambiente e tecnologias. Por 27
- 28. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco sua vez, o parâmetro da liberdade que na BCC-PE se afasta da concepção de liberdade que ignora o direito à liberdade do outro se encontra preservado no respeito às diferenças e é trabalhado e articulado na tessitura da justiça social. No que tange especificamente à construção de uma base curricular comum, o texto constitucional estabelece, no art. 210, que “serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. Se aqui o limite é o Ensino Fundamental, na CEPE, a determinação vale para “a educação fundamental e o ensino médio” (art. 180). Na mesma linha, porém de forma mais explícita, posiciona-se a LDBEN, ao determinar, em seu art. 26, que “os currículos do Ensino Fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. Por um lado, é interessante salientar a descentralização introduzida pela LDBEN, ao atribuir aos sistemas de ensino a co-responsabilidade pela construção curricular; por outro, é preciso cautela quanto ao que pode ser entendido por “características da economia e da clientela”, detalhamento que “as características locais e da cultura” já estariam em condições de absorver. A lei maior da educação conclama ainda (art. 9º, IV) que os currículos sejam norteados por diretrizes que assegurem a formação básica comum em território nacional. Por força da Lei Nº 9131/95, a deliberação a respeito das Diretrizes Curriculares Nacionais, em todos os níveis e modalidades da educação básica, é reservada à Câmara de Educação Básica do Conselho 28
- 29. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco Nacional de Educação (CEB-CNE), tarefa executada, em grande parte, em 1998 e 1999. Os documentos produzidos pela CEB-CNE acarretam, portanto, obrigações legais. Estabelecem as diretrizes que iniciam o processo de articulação da CEB-CNE com Estados e Municípios, através de suas próprias propostas curriculares, definindo ainda um paradigma curricular 2 para o Ensino Fundamental e Médio, que integra a Base Nacional Comum , complementada por uma Parte Diversificada (LDBEN, art. 26), a ser concretizada na proposta pedagógica de cada unidade escolar do País. Assim, compete aos entes federativos a incumbência de, em regime de colaboração e no espírito da flexibilização previstos pela LDBEN, transformar as diretrizes em propostas curriculares, ao mesmo tempo em que devem, em conjunto com as unidades escolares, complementá-las no que tange à parte diversificada. Sendo assim, a LDBEN e também as diretrizes procuram garantir a todos a mobilização de conhecimentos nacional e globalmente relevantes, promovendo-se a ampliação desse conjunto com saberes que respeitem a diversidade cultural. A propósito do respaldo legal para a elaboração de uma base curricular comum não parece haver dúvidas, sobretudo se considerado o regime de colaboração estabelecido pela LDBEN, que, em seu artigo 8º, preceitua: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”. Todavia, restam alguns questionamentos no que tange à aparente contradição de se buscar uma unidade (um currículo para o conjunto do Estado) na diversidade 2 “Base Nacional Comum: refere-se ao conjunto de conteúdos mínimos das Áreas de Conhecimento articulados aos aspectos da Vida Cidadã de acordo com o art. 26 da LDBEN. Por ser a dimensão obrigatória dos currículos nacionais certamente âmbito privilegiado da avaliação nacional do rendimento escolar a Base Nacional Comum deve preponderar substancialmente sobre a dimensão diversificada” (CEB-CNE, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, Brasília, janeiro de 1998). 29
- 30. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco (respeitando-se as diferenças), o que, por isso mesmo, merece um debate específico. 1.3 Diretrizes: identidade, diversidade e autonomia Em oposição à idéia de identidade associada à genética, a uma espécie de propriedade individual e pré-determinada, a um 'fazer parte' inato, extremamente restritivo e conservador, o que se defende aqui é a noção de identidade como pertencimento social e cultural. Assim, a identidade não é vista como definitiva, mas como um processo, uma construção simbólica que leva à incorporação dos indivíduos em determinadas comunidades, segundo valores, práticas sociais e interesses envolvidos. Nesse movimento de construções e reconstruções identitárias, configuram-se igualmente as atitudes, os espaços de atuação, os comportamentos, dentre outras referências socioculturais. Trata-se, portanto, de um movimento de natureza estruturante, criado em torno de interesses comuns, que se delineia nos limites da motivação sociocultural. As comunidades de prática, nas quais o sujeito se reconhece e elabora sua identidade, são plurais e não podem ser vistas como previamente dadas. Assim, o conjunto de vinculações com a qual ele se relaciona pode envolver o local ou a nação, a origem social ou geográfica, o gênero ou a faixa etária, a cidade ou o campo, a raça ou a etnia, para ficar apenas em alguns aspectos. Por isso, um mesmo sujeito pode pertencer simultaneamente a várias comunidades de prática. A identidade social tanto possibilita que o indivíduo seja situado socialmente por outros, quanto permite que ele se localize em um determinado grupo. 30
- 31. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco Tal identidade não está prévia e naturalmente disponível, dada pela condição de se ter nascido brasileiro, por exemplo. Na verdade, ela foge à mera reprodução dos referentes culturais, mas se afirma na apreensão, organização e revisão das práticas sociais, na experiência compartilhada e na construção permanente da cultura. Por isso mesmo, as identidades são construídas e reconstruídas em função da sustentação política e social, na luta em torno de laços comuns, frente a outras comunidades, e não como similaridade predeterminada. Com isso, os contornos das comunidades de prática tornam-se mais salientes na ação, no conflito e na negociação que se estabelecem com outras comunidades. É no reconhecimento do que há em comum e, simultaneamente, no desafio da alteridade e das diferenças que as identidades se fortalecem e se reconhecem. A identidade social provoca simultaneamente inclusão e exclusão, não apenas na relação com os outros grupos, mas, no interior do próprio grupo. Uma base curricular comum, ainda que se destine a um estado específico do território brasileiro, como esta, não pode se esquivar de trabalhar os saberes e as competências associados a 'ser universal', 'ser brasileiro', 'ser contemporâneo', pois todas as crianças e todos os jovens e adultos têm o direito de construir e elaborar conhecimentos imprescindíveis ao exercício da cidadania, os quais, por isso mesmo, constituem um patamar inegociável de aprendizagem. Como a 'identidade cidadã' é a mais ampla e abrangente, é dela também a tarefa mais complexa, ou seja, a de operar com as diferenças provenientes de múltiplos grupos, fazendo-as convergir para o que há de comum na construção da experiência de nação, que continua sendo um agente simbólico na construção das identidades sociais, apesar dos impactos 31
- 32. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco gerados pela sociedade global. Esse esforço passa tanto por leituras das práticas sociais quanto por ações do Estado, impulsionadas e desencadeadas por pressões dos movimentos sociais. É o que se vislumbra, por exemplo, na LDBEN, que reivindica, sob a denominação de 'base nacional comum', a preservação e a exploração de determinados conhecimentos pelos sistemas de ensino, em todo o território nacional (art. 9º, IV). Segundo declara a CF em seu art. 1º, o Brasil é um país federativo, formado “pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal“, o que pressupõe tanto o compartilhamento do poder como a autonomia dos integrantes do sistema federativo em questões de sua competência. Assim, da mesma forma que os saberes nacionais são elaborados e postos em debate, cabe aos diversos sistemas estaduais e municipais ampliá-los e aprofundá-los com base em seus próprios valores, buscando uma ligação convincente e dinâmica com as experiências das comunidades e das culturas locais. É o espaço que cabe à autonomia e à diversidade. Considere-se que a autonomia não pode ser entendida como sinônimo de fechamento e de isolacionismo, mas implica cultivar o reconhecimento dos valores e princípios próprios da comunidade, sem se esquivar do diálogo com outros grupos. A autonomia das redes municipais e estadual e a diversidade cultural ficam, nesse sentido, preservadas, na medida em que a base nacional comum deve dialogar, nas definições e práticas pedagógicas, com a perspectiva local. Reconhece-se, assim, o valor das experiências culturais, históricas e sociais locais na formulação de uma ação pública educativa nacional. Além disso, os conhecimentos socialmente reconhecidos como universais e/ou nacionais podem e devem ser 32
- 33. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco ampliados na 'parte diversificada' da base curricular, conforme reivindicam a LDBEN e as Diretrizes Curriculares Nacionais. A concretização do paradigma e dos princípios aqui pleiteados, no âmbito da BCC-PE, passa por diversas instâncias e requer um conjunto de decisões. Uma dessas decisões diz respeito à atenção e ao cuidado que devem ser dispensados ao desenvolvimento das capacidades dos aprendizes, perspectiva que libera a proposta curricular do mero domínio de conteúdos descontextualizados e fracionados. Ou seja, o que se valoriza, principalmente, é o desenvolvimento de competências e o estudo de campos do saber, aos quais são inerentes a interdisciplinaridade e a contextualização. No próximo item, essas concepções são tratadas mais detalhadamente. 33
- 34. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 2. EIXOS METODOLÓGICOS: MOBILIZANDO SABERES 2.1 Ensino-aprendizagem orientado para o desenvolvimento de saberes e competências Conceber a escola pelo paradigma da solidariedade, do vínculo social e da cidadania, como foi dito, implica valorizar a dimensão do reconhecimento e do pertencimento, e atribuir à educação um sentido renovado, que eleja a qualidade de vida do ser humano como primeiro objetivo da educação. É esperado, portanto, que, desse ponto de vista, a educação não se oriente unicamente pelas exigências do mercado do trabalho, mas busque antes de tudo a emancipação do cidadão solidário, capaz de assumir com ética e criatividade, o desenvolvimento dos interesses comuns e da justiça social. Na perspectiva desse novo paradigma, a definição de uma base curricular se orienta pela disposição de levar a escola a centrar-se na ampliação de saberes e competências, dos mais gerais às mais específicas, a fim de viabilizar a inserção social inerente ao desenvolvimento justo e solidário. Perceber os desdobramentos e as implicações pedagógicas do conceito de 'competência' constitui, assim, uma prioridade. Esse é o objetivo do tópico seguinte. 2.1.1 Implicações da proposta Buscar o desenvolvimento de saberes e competências implica o pressuposto de que a intervenção humana é possível, isto é, os grupos humanos podem interferir no controle das mais diferentes situações, seja para mudá-las, seja para reorientá-las ou reforçá-las. Este pressuposto traz 34
- 35. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco implícito o princípio de que não existe fatalidade nem destino marcado e, que, portanto, as situações não são como são porque “têm que ser”. As situações podem mudar, se as pessoas se dispuserem a intervir, a agir, a inventar, a trabalhar para que elas sejam diferentes; daí, a importância de se procurar desenvolver competências. Ocorre que as atuações humanas são inevitavelmente interacionais. Toda construção humana é, portanto, coletiva, solidária, participativa, de uns com os outros, de uns e de outros. Esses princípios definem a orientação ideológica da proposta de se trabalhar a favor do desenvolvimento de competências ou, em outras palavras, são eles que explicam por que a escola deve dispor-se a desenvolver competências nas diversas áreas do conhecimento. 2.1.2 O conceito de competência Competência é a aptidão dos sujeitos para ligar os saberes que adquiriram ao longo da vida às situações da experiência, a fim de, pelo recurso a esses saberes, vivenciar essas experiências de forma gratificante e eficaz. Equivale, assim, à capacidade de administrar as mais diferentes situações da vida, pelo recurso a intuições, conceitos, princípios, valores, informações, dados, vivências, métodos, técnicas já descobertos ou aprendidos. Conseqüentemente, a competência implica, por um lado, uma relação com o saber uma vez que mobiliza diversos recursos cognitivos e, por outro, uma relação com o fazer, com o realizar uma vez que se afirma no enfrentamento com os mais distintos tipos de situação (Perrenoud, 2000, p. 15). Noutras palavras, a competência supõe a articulação dos saberes com as condições específicas das situações enfrentadas. Dessa forma, a competência é conjuntamente anterior e simultânea às situações, pois incorpora elementos que as precedem e se constrói no embate com cada situação. Isto significa admitir que a competência não 35
- 36. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco corresponde a capacidades prontas, acabadas, que se têm em estoque para se usar quando for preciso; a competência está feita e se faz, constantemente, no exercício de cada situação, pois a competência mobiliza o que já se sabe, ao mesmo tempo em que revela o que não se sabe ainda e o que é preciso saber. Daí, a sua relevância em todo processo de ensino- aprendizagem e, mais especificamente, no âmbito institucional da formação escolar. 2.1.3 O perfil de uma base curricular fundamentada no desenvolvimento de saberes e competências Um sistema de ensino que objetive o desenvolvimento de saberes e competências é o avesso de um sistema empenhado apenas na transmissão de conteúdos ou de um sistema em que predomina a dicotomia entre o tempo de se adquirir “os saberes” e o tempo de se desenvolver as “competências”, pois será um sistema – interessado na multiplicidade de agentes e de fontes de informação; – atento à diversidade, à flexibilidade, à dinamicidade e à pertinência do conhecimento científico elaborado; – sensível à produção e circulação dos valores éticos e das criações artísticas; – empenhado na observação dos fatos, no levantamento de hipóteses e na elaboração consistente do conhecimento; – afeito ao desenvolvimento de habilidades argumentativas que viabilizem a participação do cidadão no espaço público; – orientado para referências que superam a divisão do tempo de aprender em unidades fixas e estanques, como horas, semestres e ano letivo. Nessa perspectiva, a forma de o professor intervir no processo de aprendizagem deve ser a da participação atuante, diligente e respeitosa, sem 36
- 37. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco que, no entanto, ele monopolize o conjunto das ações pedagógicas. O professor, na busca por desenvolver competências, será alguém que, com os alunos (e, não, diante deles ou para eles), pensa, busca, analisa, compara, identifica, estabelece relações entre as coisas e os fatos, reflete, questiona, levanta hipóteses, seleciona, avalia, articula, conclui, admite, generaliza..., para outra vez, pensar, buscar, analisar..., em um processo contínuo, sem data marcada para se consumar. Ou seja, na busca por competências, o professor é alguém que, com o aluno, está-se fazendo, está vivendo a experiência de elaborar os saberes e de, circunstancialmente, mobilizá-los para lidar com as situações da vida. E, assim, ensina não apenas porque detém determinados conhecimentos teóricos, mas, sobretudo, porque é capaz de assumir, na prática, os princípios que defende. O aluno, por sua vez, é alguém que, em interação com o professor, participa ativamente desse processo de construção do saber, seja como indivíduo em formação seja como membro de uma coletividade que se beneficia desta interação para se fazer reconhecer e se representar na esfera pública. Logo, o aluno é alguém que também constrói socialmente o saber; e não alguém que passivamente recebe um conteúdo que o outro domina e lhe veio passar, muitas vezes, sem saber ao certo por que ou para quê. Na perspectiva das competências, não se concede destaque, portanto, à ótica da transferência de conhecimentos nem à figura do professor como mero multiplicador de informações. Esta visão, típica do antigo paradigma da obrigação, desconsidera o fato de que a educação é um processo interativo; desconsidera, igualmente, o fato de que o aluno não é mero recipiente cognitivo e cultural, mas, ao contrário, constitui-se em um elo de uma rede ativa e crítica, formada na aliança, em favor da qualidade de vida do conjunto da população. 37
- 38. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 2.1.4 Que competências privilegiar? Cada momento histórico, com todo o conjunto de suas práticas sociais, é que deve constituir o principal indicador do que deve ser objeto de ensino ou que competências privilegiar na prática pedagógica. As competências-chave não são assim inteiramente definidas a priori, fora dos contextos culturais em que acontecem as situações de ensino- aprendizagem. Daí que é de extrema importância o conhecimento e a análise crítica da realidade, da experiência, a interpretação dos fatos, a identificação das situações-problema, a apreciação da dimensão estética dos bens culturais. A exigência de observar, de sentir, de questionar, de levantar hipóteses, de procurar explicações, de criticar, de avaliar, de sistematizar, de generalizar, de prever, de sugerir, de criar etc. será fundamental para que se possa definir a prioridade das competências. Conforme o resultado de algumas avaliações institucionais3, muitos dados têm apontado para a urgência atual de se fortalecer, na escola, competências para: – a análise, – a reflexão, – a crítica e a autocrítica, – a argumentação consistente, – o discernimento fundamentado, – a apreciação dos valores éticos, afetivos e estéticos. – a compreensão e a expressão dos sentidos culturais, científicos e tecnológicos em circulação nos grupos sociais. Essas competências vão se refletir na definição das identidades, 3 As avaliações de diversas instituições têm, nos últimos anos, disponibilizado informações a respeito da qualidade dos sistemas de ensino no Brasil. Cite-se, como exemplo, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Sistema de Avaliação da Educação em Pernambuco (SAEPE), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), entre outros. Maiores dados sobre as avaliações de âmbito nacional podem ser encontrados na página www.inep.gov.br 38
- 39. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco individuais e sociais, na participação solidária e nos ideais do desenvolvimento coletivo e da justiça social. Nessa perspectiva, é esperado que as competências em análise, leitura e produção das múltiplas linguagens sejam as competências prioritárias das atividades realizadas na escola. Vale ressaltar que essas competências são extremamente significativas para todas as áreas do saber, uma vez que a análise, a produção e a circulação do conhecimento são processos que passam, necessariamente, pelo uso das linguagens. É importante destacar ainda que essas situações, em função das quais se vai propor a aprendizagem de algum saber, não devem ser apenas situações restritas à vida escolar. A escola deve ultrapassar os esquemas que têm como parâmetro apenas aquilo que se supõe ser útil dentro dela própria, como se a escola apenas existisse para consumo interno, e nela se devesse ensinar para o dia da prova, para o vestibular, ou para o aluno passar de ano. A sociedade sofre os efeitos de uma formação escolar impregnada de um ensino com ênfase no acúmulo de informações fragmentadas e socialmente irrelevantes. Tanto que, em vez de contribuir para a superação das desigualdades sociais, a escola por vezes tem concorrido para reproduzi-las, acentuá-las e reforçar o imobilismo social de que os mais favorecidos se aproveitam (Dolz & Ollagnier, 2004). Embora as diversas situações com que nos deparamos sejam heterogêneas e complexas, não permitindo conclusões simplistas, os elementos que as constituem se articulam em redes de diferentes tipos, de modo que procurar entender essas situações exige um olhar amplo, uma postura relacional, capaz de estruturar os saberes afins no seio de um campo ou de um domínio. Perder a visão de unidade leva à fragmentação detalhista, à supervalorização das questões pontuais e irrelevantes e à generalização descontextualizada. 39
- 40. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 2.1.5 Competências e saberes Uma base curricular orientada para o desenvolvimento de competências e saberes não implica ter que optar entre conteúdos, de um lado, e competências, de outro, como se uma coisa excluísse a outra. Implica, na verdade, ter que reorganizar e ampliar os paradigmas existentes, ou mudar o foco de visualização dos objetos, a fim de priorizar os saberes consistentes, relevantes, funcionais e simbólicos. Isto leva a uma mudança do ângulo de visualização dos objetos educativos e à priorização de saberes enriquecidos pela interatividade. Nessa perspectiva, os saberes ganham relevância enquanto possibilitam o enfrentamento dos diversos desafios imediatos e mediatos e o pleno desenvolvimento da pessoa e da sociedade. A relevância dos conteúdos que circulam nas múltiplas atividades escolares decorre do quanto esses conteúdos permitem à escola cumprir seu papel social de cultivar os valores da ética, da integridade pessoal, da criatividade, da solidariedade e do bem-estar comunitário. Assim, e aliada a outras instituições, a escola poderá atuar na superação das desigualdades e da exclusão de grande parte das pessoas que constituem a sociedade brasileira. 2.1.6 Práticas pedagógicas na construção de um currículo orientado para saberes e competências A construção de um currículo orientado para o desenvolvimento de saberes e competências implica conceder um lugar de primazia às atividades curriculares que envolvam diferentes práticas de pesquisa, de reflexão, de observação, de análise, de expressão, de sistematização, de exercício da sensibilidade e do gosto estético. Quer dizer: uma pedagogia voltada para a ampliação de saberes e competências ultrapassa a prática tradicional de 40
- 41. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco simplesmente dar aula, atividade, quase sempre, reduzida a momentos de mera explicação oral dos conteúdos. Essa prática tradicional somente encontra respaldo nas propostas que reduzem o ensino à transmissão de uma grade de conteúdos descontextualizados, inexpressivos e simplistas. As atividades curriculares voltadas para os saberes e as competências favorecem a vivência de 'um fazer' que, por sua vez, viabiliza a participação crítica dos alunos. Neste caso, múltiplas opções de encaminhamento pedagógico podem ser consideradas, desde que possibilitem: competências para: – a contextualização dos saberes apreendidos nos momentos de discussão e reflexão; – as conexões dos saberes entre si, que podem gerar concepções mais integradas; – a reinvenção dos saberes, pela necessidade de ajustá-los aos parâmetros de cada realidade; – a organização interdisciplinar dos conhecimentos, pelo diálogo entre os diversos domínios da experiência; – a superação da tendência do ensino para o simples acúmulo de informações; – a procura por uma interação mais significativa do professor com o aluno, dos professores entre si e dos alunos uns com os outros, que favoreça o pertencimento coletivo; – uma maior inserção dos alunos e do professor na vida da comunidade; – a capacidade de lidar com os conflitos e os desafios postos pela realidade; – a capacidade de lidar com os conflitos e os desafios postos pela realidade; – o desenvolvimento da afetividade, pelo prazer de compartilhar e pela 41
- 42. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco felicidade de poder dividir espaços e ações; – formas coletivas de produção do conhecimento, constituindo-se, assim, em práticas educativas para a igualdade de oportunidades, a solidariedade e o respeito às diferenças. 2.2 Interdisciplinaridade e dialogismo Um currículo que privilegie o desenvolvimento de competências básicas requer que o papel hoje desempenhado pelas disciplinas escolares seja profundamente revisto e passe a incorporar a perspectiva da interdisciplinaridade. O debate sobre o conceito de interdisciplinaridade vem ocorrendo entre educadores brasileiros há algumas décadas. Uma constante nesse debate é a denúncia da fragmentação do saber ensinado nas escolas, alimentada pela organização do currículo em disciplinas justapostas e estanques. Hoje, na escola, ainda predomina uma prática pedagógica meramente multidisciplinar. Nessa prática, cada disciplina compete por seu espaço e seus objetivos particulares, distanciando-se do diálogo com outras disciplinas. Dessa maneira, a interdisciplinaridade é ainda uma prática rara na escola, apesar de defendida por muitos educadores, de ter sido objeto de debates entre professores, de estar contemplada em documentos de ampla divulgação como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Ensino Fundamental de nove anos: Orientações para a inclusão das crianças de seis anos, além de ser uma das diretrizes curriculares estabelecidas para o Ensino Médio. São muitos os obstáculos a entravar a prática da interdisciplinaridade na escola e seria ilusório julgá-los de fácil superação. Na verdade, tal prática 42
- 43. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco requer transformações amplas, que atingem todo o sistema educacional: os currículos, as modalidades de avaliação, a organização do tempo e dos espaços na escola (laboratórios de informática, ciências, linguagens, bibliotecas), o livro didático, entre outros. Atingem, em especial, as formações inicial e continuada dos educadores, que exercem inegável papel na moldagem das concepções desses educadores. As críticas ao modelo disciplinar adotado na escola encontram apoio em teorias sobre conhecimento, cognição, linguagem e aprendizagem, as quais conquistaram amplo reconhecimento social. Algumas dessas teorias delineiam o conhecimento como uma rede de significações, que são inter-relacionadas, de forma complexa, por meio de múltiplas conexões. Uma organização curricular fundada na ausência de integração entre as disciplinas escolares certamente está longe de se harmonizar com tal visão do conhecimento. Outras teorias postulam que a aprendizagem se dá de forma mais eficaz quando o sujeito é exposto a diferentes enfoques sobre um mesmo objeto de conhecimento. O trabalho interdisciplinar oferece a ocasião apropriada para o exercício dessa multiplicidade de olhares. O termo interdisciplinaridade surge, assim, com vários significados, entre os quais o de uma metodologia de trabalho pedagógico em que se superam os contornos fechados das disciplinas, que passam a interagir com outros saberes. Interdisciplinaridade não implica, por outro lado, uma diminuição da importância das áreas específicas do conhecimento. Ao contrário, uma perspectiva interdisciplinar adequada nutre-se do aprofundamento nas várias áreas do saber, desde que esses saberes sejam articulados da forma mais diversificada e consistente possível. Instala-se, dessa maneira, uma dupla exigência. Em uma direção, procurar interligar vários saberes; buscar temas comuns a vários campos do 43
- 44. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco conhecimento; tentar construir modelos para situações complexas presentes na realidade. Em outra direção, aprofundar o conhecimento disciplinar; construir modelos para um recorte específico da realidade. Encontrar a organização e o tempo pedagógicos para garantir essas duas direções constitui-se em um dos maiores desafios para a concretização da perspectiva interdisciplinar na escola atual. É importante mencionar que várias experiências têm sido propostas para incorporar a interdisciplinaridade na prática pedagógica. Conhecer as bases teóricas em que se apóiam tais experiências, os contextos escolares a que se referem e os resultados obtidos, pode contribuir para que se formulem propostas interdisciplinares adequadas à realidade das nossas escolas. A título de fornecer elementos para esses estudos, pode-se citar, em nosso Estado, o projeto descrito em Bastos et alli (2003). Nos âmbitos nacional e internacional, dentre muitos outros, podem ser mencionados os trabalhos de Fazenda (2001, 2003), Pires (2000), Zabala (2002) e Santomé (1998). 2.3 Contextualização e sentido Como apresentado anteriormente, a ênfase que vem sendo dada à questão da interdisciplinaridade tem, em sua origem, a busca do estabelecimento de relações, não somente dentro das próprias disciplinas, mas também entre os diferentes conjuntos de conhecimentos. Dessa forma, a idéia de contextualização aparece como um elemento catalisador de quebra dos mecanismos estanques de uma excessiva disciplinarização dos saberes. Em outras palavras, a contextualização objetiva levar o aluno a estabelecer relações entre os diferentes conhecimentos com os quais ele 44
- 45. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco entrará em contato, buscando, nessas relações, identificar as complementaridades, as divergências e as convergências entre eles. Ao mesmo tempo, não se pode esquecer que todo conhecimento está intimamente relacionado às práticas sociais, que servem de referência a esses conhecimentos. Dessa forma, falar de contextualização significa também compreender a dinâmica de produção e circulação dos saberes que chegarão à escola. Nessa dinâmica, são os diferentes movimentos de contextualização e descontextualização que irão possibilitar ao aluno a construção do significado dos conhecimentos, permitindo que ele identifique e se identifique com as situações que lhe são apresentadas, seja em seu contexto escolar, seja no exercício de sua plena cidadania. Mesmo tendo sua origem nas práticas e nas necessidades sociais, o conjunto de conhecimentos que servirá de motor para as aprendizagens escolares precisa, até mesmo para tornar possível a sua circulação, sofrer algumas transformações. Ele deverá ser submetido a um processo de descontextualização, ou seja, ele sofrerá uma espécie de ruptura com as situações, problemas e práticas sociais que lhe deram origem, apresentando-se lapidado. A partir desse momento, um novo trabalho é realizado sobre esses conhecimentos, buscando torná-lo “ensinável” pela escola. Esse conjunto de conhecimentos se apresenta sob a forma de um “texto escolar”, e se manifesta, em geral, na forma de orientações curriculares e livros didáticos. A partir desse momento, duas opções, pelo menos, se oferecem ao professor: apresentá-lo tal qual aparece no texto escolar aos alunos, ou promover uma re-contextualização desse conhecimento. No primeiro caso, ainda bastante freqüente em grande parte das salas de aula, parte-se da idéia de que cabe ao professor apresentar esse conhecimento aos alunos, enquanto o papel do aluno seria de ser capaz de reproduzir esse conhecimento, o que demonstraria que “ele aprendeu”. 45
- 46. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco Desse ponto de vista, caberia ao aluno ser capaz de promover uma re- contextualização desse conhecimento, em situações em que houvesse a necessidade de buscar solução para um determinado problema. Nesse modelo, caberia ao professor “ensinar”, e ao aluno caberia “aprender”, ou seja, as responsabilidades de cada um dos parceiros do processo de ensino- aprendizagem ficam bem separadas. Os limites desse modelo são bastante conhecidos. Na realidade, o que se tem encontrado são alunos que não conseguem promover essa re- contextualização face aos problemas com que deparam. Mesmo dentro de uma própria disciplina se encontra esse tipo de dificuldade. Quantas vezes o professor se depara com alunos que não sabem resolver uma determinada situação, mesmo tendo acabado de “aprender” os conhecimentos necessários ao enfrentamento dessa situação. Costuma-se dizer, então, que o aluno não está sendo capaz de mobilizar certos conhecimentos, ou, em poucas palavras, que ele “não aprendeu”. No segundo caso, caberia ao professor promover uma re- contextualização do conhecimento em jogo na relação didática, ou seja, promover uma situação de aprendizagem em que o conhecimento que se deseja que o aluno aprenda apareça na forma de uma situação a ser enfrentada, situação essa que se apresenta de maneira contextualizada. Seria como se, guardadas as devidas proporções, o aluno fosse levado a “reconstruir ou 'reinventar' o conhecimento didaticamente transposto para a sala de aula” (Parecer do CNE no 15/98). Nesse modelo, o aluno aparece com um papel essencialmente diferente do citado anteriormente, e as responsabilidades são profundamente modificadas. Aqui, o papel do professor passa a ser o de provocador, oferecendo ao aluno as condições para que ele entre no jogo. Já o aluno, passa a representar o papel de “re-construtor” do conhecimento em questão. Caberia então, ao aluno, por meio de situações de 46
- 47. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco aprendizagem oferecidas pelo professor, chegar a uma nova descontextualização do conhecimento, o que favorece a sua luta por reconhecimento e por pertencimento. Dessa forma, espera-se que o aluno, confrontado com uma nova situação, diferente daquela que deu origem ao conhecimento, seja capaz de mobilizá-lo, com o objetivo de resolver a questão. Nesse caso, costuma-se dizer que houve uma “aprendizagem efetiva”. Portanto, pode-se afirmar que, para cada um dos modelos apresentados, duas possibilidades de contextualização se podem ser identificadas, uma posterior ao processo de aprendizagem, e outra anterior a esse processo. A primeira possibilidade aparece estreitamente ligada ao primeiro modelo, que se caracteriza por um ensino baseado em três fases. Na primeira o professor apresenta, de forma descontextualizada, o conhecimento para o aluno. Na segunda fase, são indicados os “exemplos” de situações em que aquele conhecimento poderá ser utilizado; são os conhecidos “modelos” que o aluno deverá incorporar. Finalmente, na terceira fase, caberá ao aluno a repetição mecânica dos modelos anteriores em atividades que lhe são apresentadas. Diz-se que o aluno aprendeu se ele for capaz de mobilizar os “modelos” necessários para resolver exercícios análogos. Essa utilização da contextualização não apresenta grandes dificuldades, pois, o que interessa, é a estrutura subjacente à situação apresentada, ou seja, em que medida ela se mostra semelhante a algum “exemplo” já apresentado ao aluno. Nesse quadro as situações de contextualização podem se aproximar fortemente do cotidiano dos alunos, visto que basta substituir o “aipim” pela “macaxeira”. Já a segunda possibilidade de contextualização, aquela anterior à apresentação do conhecimento, aparece associada ao segundo modelo de 47
- 48. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco aprendizagem, ou seja, aquele em que o conhecimento é introduzido na relação didática a partir de um problema a ser resolvido, e que funciona como ponte entre a informação abstrata e a realidade concreta do aluno. De certa forma, tem-se nesse modelo uma situação que pode parecer paradoxal, na medida em que a solução de uma situação conflituosa exige a utilização de um certo conhecimento que o aluno ainda não possui. Como resultado, o aluno é levado a assumir um papel ativo no processo de aprendizagem, sendo estimulado a (re)construir o conhecimento em questão. Nesse caso, a contextualização já não pode ser realizada de maneira ingênua e unilateral, visto que a interatividade é fundamental para as aprendizagens a serem realizadas. 48
- 49. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 3. EIXOS DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 3.1 Flexibilidade na organização da educação escolar Todas as diretrizes oficiais se orientam no sentido de defender padrões de organização escolar que sejam dotados de flexibilidade. Não bastassem motivos de ordem mais radical, a reconhecida diversidade da realidade brasileira legitima que se proponha inteira flexibilidade institucional para a organização dos sistemas de ensino. Com efeito, os ideais mais amplos da educação integral se fundamentam no respeito à singularidade do sujeito, que, embora destinado à felicidade comunitária, não pode abrir mão de suas potencialidades pessoais e de tudo quanto garante sua própria identidade. Se esse princípio se sustenta em relação à pessoa singular, não é menos aceitável em relação à realidade dos grupos, sejam eles locais, regionais ou nacional. Ou seja, preservar a especificidade de nossa individualidade é uma condição fundamental para que se possa pensar no desenvolvimento coletivo, solidário e participante. A única possibilidade de se preservar essa individualidade é, sem dúvida, defender esquemas flexíveis de se administrar as diferenças. Muito mais ainda quando se trata da esfera da educação, espaço onde radicam os ideais e as pretensões mais legítimos das pessoas e das comunidades. A flexibilidade que se pensa para a organização escolar se funda, pois, na pretensão de levar em conta a diversidade do tempo e do modo de aprendizagem das pessoas, das culturas e das situações em que estão inseridas as unidades escolares. Manifesta-se nos diferentes setores dessa organização, o que significa dizer que deve se estender às programações curriculares, aos procedimentos e aos recursos metodológicos, aos sistemas de avaliação, aos modos da gestão escolar, enfim. Uma das graves distorções dos sistemas escolares impostos pela 49
- 50. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco unilateralidade de visões e de organização é, sem dúvida, apagar as possibilidades de que seja reconhecida e respeitada a identidade de cada pessoa e de cada grupo. Nesse sentido, convém lembrar o extremo cuidado que se deve ter para considerar a realidade típica das escolas do campo e das escolas localizadas em comunidades indígenas, quilombolas, assentados, re- assentados, ribeirinhas e afrodescendentes (sugestão e nota de rodapé sobre a Lei n° 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira). No entanto, considerar esta realidade não significa optar por conceituações e práticas simplistas e reducionistas, na suposição de que, dessa forma, a escola estaria adequando-se às condições da comunidade, vista, por esta ótica, como incapaz de desenvolver competências mais complexas e elaboradas. A base curricular comum que se pretende para todos os municípios do Estado de Pernambuco não pode, portanto, afastar-se desse ideal de flexibilidade, para que se possa preservar o “rosto” de cada comunidade, de cada região, ao mesmo tempo em que se garanta, por outro lado, os mais amplos e legítimos objetivos da educação nacional. Vale ressaltar que a flexibilidade aqui em questão não abarca apenas esse aspecto do respeito às particularidades de cada escola ou de cada região. Concerne também àquele outro que envolve a diversidade da produção cultural e o diálogo da escola com o repertório de conhecimentos e crenças já disponíveis e já sedimentados em cada comunidade. A flexibilidade pretendida pela BCC-PE vai além, portanto, da postura de abertura a novos modelos ou, ainda, do cuidado de entrar em sintonia com as particularidades culturais de cada lugar. Pretende, isso sim, perder qualquer vínculo com todas as manifestações do etnocentrismo sutil que confere superioridade a determinadas regiões, a determinados grupos, perdendo, assim, a necessária flexibilidade para considerar legítimas e passíveis de adoção todas as manifestações culturais. O princípio de que 50
- 51. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco não existem, intrinsecamente, opções culturais melhores ou mais perfeitas que outras pode representar, para a escola, um valioso parâmetro de definição de currículos, objetivos e atividades. Além de poder significar um fundamento seguro para a superação de atitudes preconceituosas e discriminatórias. Como desdobramento da flexibilidade aqui considerada, cabe ainda ao sistema de ensino, no espírito do que preceitua a LDBEN, a abertura para poder adotar o regime de organização do currículo, por ciclo, ou por série, ou por etapas, considerando-se a realidade local e a busca da oferta da educação de qualidade. Em suma, aceitar a flexibilidade na organização curricular, é incluir como referência para as escolhas pedagógicas aspectos peculiares à realidade; é buscar a integração com a herança cultural sedimentada; é dialogar com os conhecimentos e as práticas sociais já consagrados pela comunidade; é desacreditar de qualquer espécie de superioridade cultural e, assim, deixar as fronteiras que dividem o mundo em “urbano” e “rural”, ou que dividem as regiões em “centro” e “periferia”. Tudo isso com o propósito de estabelecer com todas as manifestações culturais um contato de reciprocidade, numa “mão dupla” que dá e recebe, sem deixar, evidentemente, de ter em conta as diretrizes comuns que garantem a unidade e a identidade nacional e regional, e o direito dos alunos a uma educação de qualidade. 3.2 Avaliação e direito à aprendizagem No âmbito do ensino-aprendizagem, a avaliação detém função relevante, pois lhe é atribuída, na quase totalidade das vezes, a prerrogativa de orientar a tomada de decisões, tanto no que se refere ao tempo destinado 51
- 52. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco à aprendizagem, quanto aos conteúdos, fenômenos e procedimentos que devem ser privilegiados no decorrer da escolarização. Essa expressiva força da avaliação em nossa cultura advém da autoridade que lhe é concedida, tanto social quanto institucionalmente, para credenciar ou descredenciar os estudantes em suas aspirações de ocuparem os diferentes patamares em que se acha organizada a educação formal no país. Via de regra, para fins de reconhecimento social, aos saberes do aluno e, por esse meio, também a ele próprio, é atribuído um perfil valorativo, que é elaborado com base em um complexo feixe de variáveis agrupado por motivações de natureza cultural e institucional. Mas, que elementos integram esse feixe e entram na composição do valor concedido? Não é simples responder a essa pergunta. Pode-se, no entanto, afirmar, que os elementos aí envolvidos não são homogêneos. Ao contrário, comumente, o processo de atribuição das variáveis e os traços selecionados para integrar a valoração alternam-se consideravelmente, conforme o papel conferido à escola, a noção de aprendizagem subjacente ao projeto de sociedade e ao projeto político-pedagógico pretendidos, bem como as concepções culturalmente construídas e pressupostas a respeito dos conhecimentos a serem priorizados, entre tantos outros aspectos. A ação avaliativa envolve concepções de mundo, conhecimentos partilhados e um conjunto de valores. Diante dos múltiplos aspectos que podem ser acionados para construir a avaliação, o professor salienta os que lhe são culturalmente relevantes, no confronto com um conjunto de critérios tomado como referência. Vale salientar que, tanto o valor atribuído quanto o critério referencial são dinâmicos e passíveis de alterações, estando sujeitos a versões variadas, culturalmente situadas, no decorrer do processo interacional. Desse modo, a avaliação tende a renovar-se e a reorganizar-se continuamente, na medida em que a ela são agregados novos conhecimentos, experiências e informações, sendo sensível ao entorno 52
- 53. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco sócio-histórico em que se acha inserida. 3.2.1 A tradição avaliativa no Brasil No Brasil, a avaliação tem sido tradicionalmente realizada na perspectiva somativa, sendo associada a categorias que analisam preferencialmente os resultados atingidos pelos educandos, quando comparados aos de seus colegas de turma, em fenômenos observáveis e transparentes, ao término de um período burocraticamente fixado. Com isso, os resultados dos estudantes são apresentados em termos da posição relativa dos indivíduos na turma. Em função do desempenho de um aluno, tido como o ideal, o melhor de todos, elege-se o grau de excelência da turma. O segundo melhor desempenho é conferido ao estudante que demonstra ter o menor número de carências, quando comparado ao primeiro lugar, ou, dito de outra forma, o maior número de traços coincidentes com o estudante melhor ranqueado, e assim sucessivamente. O pior desempenho será então atribuído ao aprendiz que mais se afasta do perfil tomado como medida, justamente aquele revelado pelo aluno mais bem colocado. Esse tipo de avaliação ocorre em períodos demarcados, sem o propósito de interferir no processo de ensino-aprendizagem, mas de fixar etapas para o tratamento do conteúdo por parte do docente, bem como de punir, premiar, rotular e classificar o educando. Por essas características, estimula a hierarquização, padronização e seletividade no interior dos grupos e, opera de forma polarizada, na medida em que apenas o certo ou o errado, o verdadeiro ou o falso são possíveis. Não há respostas parcialmente aceitas, pois o processo, o conhecimento em construção, os pequenos ganhos não são considerados. O principal é o resultado. Com base no produto é observado o que o aluno demonstra ter aprendido na 53
- 54. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco comparação com o que foi ensinado (e, o que é mais surpreendente, às vezes são testados até mesmo os conhecimentos que sequer chegaram a ser objeto da reflexão pedagógica). No controle da aprendizagem, predominam em grande parte as situações de exame e a preocupação precípua é a de atingir uma avaliação objetiva, que possa ser quantificada, contabilizando-se para tanto os desvios detectados nas tarefas, com foco no conteúdo. Os resultados produzidos no âmago da avaliação assim encaminhada são costumeiramente traduzidos em nota e retroativos, ou seja, funcionam a posteriori, pois informam, ao final de uma seqüência de aprendizagem, de duração variada, quais educandos obtiveram fracasso ou sucesso, tendo em vista o grau de excelência pretendido. Os grupos de estudantes são tratados como homogêneos e espera-se que, por terem sido expostos às mesmas estratégias de ensino, desenvolvidas pelo mesmo educador, em igual período de tempo, apresentem nível de desempenho aproximado ou mesmo igual. Quando isso não ocorre, a responsabilidade pelo fracasso é atribuída ao aluno. É a chamada lógica do “leito de Procusto”4, que exclui do processo educacional, pela perversidade e homogeneização, um número significativo de aprendizes. O aluno, por sua vez, atento ao contrato didático que se estabelece entre educador e educandos em sala de aula, em torno de acordos tácitos sobre o saber e sua avaliação, não demora a perceber que deve investir seus esforços nos conteúdos e estratégias realmente valorizados pelo professor nos momentos dedicados à avaliação. Afinal, com base em sua experiência de aluno, o aprendiz permite-se concluir que é o conhecimento escolar, revelado no momento certo e em doses suficientes, que propicia os bons resultados na avaliação. 4 Segundo a mitologia grega, Procusto convidava os viajantes a deitarem num mesmo leito. Caso não coubessem exatamente na cama, Procusto esticava ou cortava as pernas dos passantes, adequando-os ao leito. 54
- 55. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 3.2.2 A proposta da BCC-PE: avaliação formativa, inclusiva e processual Não apenas do ponto de vista do ordenamento jurídico, mas também das concepções que veiculam, a CF e a LDBEN trouxeram uma significativa contribuição à reconfiguração do encaminhamento avaliativo no âmbito educacional brasileiro. Assim, a Carta Magna, no parágrafo único de seu art. 1o assevera que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, reconhecendo que o poder exercido por intermédio da delegação de representatividade deve ser associado à cogestão efetuada com a participação direta da população. Logo após a promulgação da CF, esse direito à participação em instâncias colegiadas deixou de ser exercido de forma plena, em virtude da ausência de informações a respeito da qualidade do ensino oferecido nas unidades escolares. Os dados então disponíveis, além de serem pontuais, diziam respeito basicamente à expansão e manutenção da rede física. Diante disso, evidenciou-se a necessidade de serem implementados sistemas de avaliação educacional, que disponibilizassem informações qualitativas sobre a aprendizagem dos alunos, de forma a melhor orientar a tomada de decisão das administrações públicas e a contribuir decisivamente para o exercício da gestão democrática. Esse conjunto de fatores levou à construção do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), conduzido pelo MEC, do Sistema Intermunicipal de Avaliação de Rede, desenvolvido por municípios de capital e de médio porte do Nordeste e, mais recentemente, do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE). Desde então, a avaliação educacional tem atuado como indutora de políticas, subsidiando medidas efetivas na luta por uma escola inclusiva, democrática e socialmente justa. Por sua vez, pautada em grande parte pelo direito do aluno aprender, a 55
- 56. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco LDBEN reivindica atenção permanente para com o conjunto dos educandos, tanto por parte da unidade escolar, a quem compete “prover meios de recuperação dos alunos de menor rendimento” (art. 12, V), como por parte dos professores, incumbidos de “zelar pela aprendizagem dos alunos” e de “estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento” (art. 13, III e IV). Em seu art. 24, a lei maior da educação determina as regras comuns que organizam a educação básica nos níveis fundamental e médio. O inciso V desse artigo explicita os critérios a serem observados na verificação do rendimento escolar, a saber: “a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos”. Como se observa, são priorizados os critérios qualitativos sobre os quantitativos, a serem considerados no decorrer do processo de aprendizagem, abrindo-se a possibilidade de construção de uma avaliação contínua e não pontual. Também a exigência, até então rigorosa, do aluno percorrer e mostrar desempenho satisfatório série por série, disciplina por disciplina, é rompida, na medida em que são oferecidas oportunidades de aceleração e de avanço aos educandos, bem como de aproveitamento de estudos não necessariamente realizados na escola. Essas determinações legais oferecem o patamar básico à luta por uma escola solidária, que, fundada em princípios da ética democrática, respeite as diferenças e supere as desigualdades. 56
- 57. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco Na contramão das quatro primeiras alíneas do art. 24, a quinta reivindica a oferta de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. Se o fato das atividades de recuperação não serem colocadas ao término de etapas escolares burocraticamente agendadas pode ser considerado um avanço, a indicação dessas atividades como “paralelas” está sujeita a ressalvas. Esse encaminhamento provoca uma inadequada cisão entre a avaliação e a aprendizagem, o que acaba endossando as características da avaliação como medida. Para a BCC-PE, coerente com os pressupostos de uma educação inclusiva, comprometida com a dignidade humana, a justiça social, a ética democrática e a construção da cidadania, a avaliação acha-se integrada ao (e não-distinta do) processo ensino-aprendizagem. Presumida essa integração e com base na expectativa de aprendizagem proposta e nos pontos críticos identificados em atividades diversificadas, defende-se que a avaliação deve assumir caráter formativo, ou seja, encaminhar estratégias que potencializem a construção das competências, do conhecimento, das atitudes, pelo conjunto dos alunos. Por ser plurirreferencial, a avaliação formativa admite a adoção de vários caminhos no enfrentamento dos desafios que se colocam à construção da aprendizagem definida como socialmente relevante para a totalidade dos estudantes. Os procedimentos avaliativos não podem se limitar à avaliação do aluno pelo professor, mas pressupõem igualmente a avaliação interativa, encaminhada em grupo, e a auto-avaliação. A avaliação conjunta, em pequenos grupos ou maiores, favorece a experiência de pertencimento, pois envolve a negociação compartilhada de indicadores e instrumentos de avaliação, bem como atua no desenvolvimento da autonomia, da postura crítica e da ética democrática. Simultaneamente a experiências desse tipo, o aluno deve ser desafiado a realizar sua auto-avaliação, ou seja, a avaliar sua inserção nas atividades desenvolvidas ao longo de todo o processo, em 57
- 58. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco função de critérios previamente acordados. Esse tipo de análise leva o educando a compreender melhor sua condição de “eterno aprendiz” e fornece subsídios ao professor sobre aspectos pedagógicos que precisam ser redirecionados. Nesse encaminhamento avaliativo, o erro é observado a partir de seu aspecto positivo, pois está potencialmente em condições de informar as hipóteses construídas pelo aprendiz sobre o conhecimento avaliado, bem como de indicar as aprendizagens que precisam ser retomadas e retrabalhadas pelo professor. Em lugar de provocar uma sanção, a falta, nesse caso, incita a busca de respostas a respeito da aprendizagem realizada, pois o erro não pode ser entendido como carência total de conhecimento, como se o educando fosse uma tabula rasa, mas deve ser observado a partir do saber elaborado, ainda que de modo parcial. Inverte-se assim o eixo de observação, que até então penalizava a ausência de evidências a respeito da aprendizagem e passa-se agora a valorizar os saberes construídos ou em construção. O foco avaliativo não se resume, portanto, apenas a constatar se determinada atividade foi adequadamente realizada ou não, atribuindo-se a ela uma pontuação valorativa, mas em observar e descrever a capacidade do aluno em mobilizar e articular recursos e competências para encaminhá-la e até mesmo reformulá-la. Assim, o que interessa é concretizar a premissa, segundo a qual a avaliação, além de estar a serviço das aprendizagens, deve ainda permitir a adaptação e o redimensionamento do processo de formação empreendido pelo docente, levando o máximo de alunos à aprendizagem. Portanto, não se trata de verificar, através da avaliação, se o aluno está adaptado ao ensino que lhe foi propiciado, mas de regular o ensino de forma a possibilitar que o aluno construa os conhecimentos pretendidos. O parâmetro destacado no processo avaliativo assim encaminhado é a 58
- 59. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco posição assumida pelo indivíduo no confronto com suas próprias posições anteriores, à vista das aprendizagens desejadas e acordadas. O que se busca é determinar até que ponto cada educando alcançou as competências definidas como básicas e necessárias para o processo de escolarização em andamento, oferecendo-se para tanto as devidas oportunidades, pois os alunos efetivam a aprendizagem em velocidades distintas e por procedimentos variados. Dessa forma, a avaliação não pode ser tida como fixa, nem pré- determinada, mas deve ser vista como inserida em contextos sociais, dinâmicos e processuais de construção de conhecimento, vinculando-se a objetivos pedagógicos sócio-culturalmente elaborados. Posiciona-se, portanto, em estado permanente de negociação quanto aos elementos a considerar e às estratégias a adotar ao longo do processo de formação. Nesse sentido, a deliberação sobre o como avaliar pressupõe uma construção coletiva que considere as experiências culturais das pessoas, permita ajustes e envolva diversos agentes e várias instâncias, sendo uma delas (talvez a mais relevante), a sala de aula, na interação do aluno com outros colegas e do professor com os alunos. 59
- 60. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 4. QUESTÕES DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 4.1 Concepções de ensino-aprendizagem Falar de ensino e aprendizagem implica estabelecer certas relações entre alguém que ensina (o professor), alguém que aprende (os alunos) e o objeto de conhecimento (o saber). Nesse contexto, um primeiro questionamento que surge diz respeito ao que se concebe como ensinar e aprender. De forma resumida, podemos avançar três grandes correntes de concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem, ressaltando que outras concepções e variantes poderiam ser contempladas neste documento. A primeira, sem dúvida a mais encontrada na maioria de nossas salas de aula, identifica o ensino como a transmissão e a aprendizagem como a recepção dos conhecimentos, definindo o professor como o transmissor e o aluno como receptor desses conhecimentos. Nessa concepção, a aprendizagem é vista como o acúmulo de conteúdos, e o ensino se baseia essencialmente na “verbalização” do conhecimento, por parte do professor. Se, por um lado, essa corrente teórica apresenta a vantagem de possibilitar que um grande número de alunos seja atingido ao mesmo tempo, por outro lado demanda alunos passivos, obedientes e dispostos a considerar a palavra do professor como a verdade estabelecida. Uma segunda corrente, baseada nas concepções behavioristas do desenvolvimento da inteligência, concebe a aprendizagem a partir da fragmentação do conhecimento. Essa idéia apóia-se na identificação de objetivos de aprendizagem cada vez mais específicos, supondo que atingir cada um desses objetivos levaria à construção de conceitos que lhe são subjacentes. Essa corrente teórica, se por um lado considera o aluno como elemento ativo no processo de aprendizagem, pode, em diversas ocasiões, 60
- 61. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco levar o aluno a centrar sua atenção nos fragmentos do conhecimento, tornando-o, muitas vezes, impossibilitado de apreender o conceito como um todo. Finalmente, uma terceira corrente, ainda pouco explorada em nossos sistemas de ensino, transfere para o aluno a co-responsabilidade pela sua própria aprendizagem, na medida em que o coloca como ator principal nesse processo. A perspectiva sociointeracionista da aprendizagem, baseada sobretudo nas idéias de Vygotsky, parte do princípio que a aprendizagem se realiza pela construção dos conceitos pelo próprio aluno, na medida em que o aprendiz é desafiado a colocar em confronto antigas concepções e levado à elaboração dos novos conceitos pretendidos pela escola. Nesse cenário, cabe ao professor o papel de mediador, ou seja, de elemento gerador de situações que propiciem o confronto de concepções, cabendo ao aluno o papel de construtor de seu próprio conhecimento. No âmbito de sua teoria, Vygotsky elaborou o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), assumindo que há uma diferença entre as competências e habilidades que o aluno é capaz de desenvolver sozinho e as que ele é capaz de realizar com a ajuda de adultos ou parceiros mais experientes. Há ainda um outro patamar do conhecimento, no qual o aluno ainda não consegue se movimentar, mesmo com a ajuda de outras pessoas. Compete ao professor ter sensibilidade suficiente para identificar os conceitos já construídos pelo aluno, de forma a favorecer sua autonomia nas atividades adequadas, apoiando-o na medida do necessário, mas sem exigir o que estiver acima de sua capacidade. Confrontando a primeira concepção com a terceira, pode-se dizer que a primeira se baseia no modelo DEFINIÇÃO EXEMPLOS EXERCÍCIOS, ou seja, a introdução de um novo conceito se daria pela sua apresentação direta, seguida de um certo número de exemplos, que serviriam como modelos, os quais os alunos iriam seguir de forma acrítica 61
- 62. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco em momentos posteriores. A cadeia se completa com a apresentação de exercícios, conhecidos como “exercícios de fixação”. Já a terceira concepção apresenta uma outra lógica, ou seja, a aprendizagem de um novo conceito ocorreria pela apresentação de uma situação-problema ao aluno, sendo que a definição, a generalização e a sistematização do conceito vão sendo construídas ao longo do processo de aprendizagem. Por sua vez, os mesmos conceitos vão sendo retomados, posteriormente, em níveis mais complexos, de forma a levar o aluno a relacionar o que já sabia com o que veio a aprender em um novo contexto. 4.2 A idéia de contrato didático As concepções acima exploradas, de uma certa maneira, estão na base de diferentes fenômenos que atravessam a sala de aula. Um deles diz respeito ao contrato didático. Nesse âmbito, é preciso diferenciar duas idéias bastante difundidas, a de contrato didático e a de contrato pedagógico. O contrato pedagógico baseia-se essencialmente na relação professor/aluno, cujas “cláusulas” são, em grande parte, negociadas e explicitadas por eles. É relativamente estável no tempo e determina quais são os papéis de cada um dos agentes da situação didática (professor e alunos), mas não se apresenta necessariamente articulado ao conhecimento. Por exemplo, o contrato pedagógico estabelece a forma de acompanhamento das atividades, a organização do espaço da classe, a distribuição do tempo em sala de aula, os instrumentos avaliativos etc. É na relação com o terceiro pólo da relação didática (o conhecimento), que aparece o conceito de contrato didático. Esse contrato, que representa o “motor” para a aprendizagem de um determinado conceito, é firmado 62
- 63. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco com base em “cláusulas” cultural e cognitivamente construídas. Sua percepção é mais evidente, quando uma das regras é rompida por um dos parceiros da relação. É esse contrato que define, de uma certa maneira, quais as expectativas de cada um dos elementos da relação didática com os demais, sendo renegociado continuamente, em função dos objetos que estão em jogo no processo de aprendizagem. De forma resumida poderíamos dizer que, enquanto o contrato pedagógico se baseia no funcionamento da classe, o contrato didático tem suas cláusulas ancoradas no conhecimento que está em jogo nessa classe. Por exemplo, no caso da Matemática, as regras que norteiam o trabalho com a geometria não seriam necessariamente as mesmas no caso da álgebra. A ruptura de cada um desses contratos de forma unilateral pode provocar efeitos diferentes. No caso do contrato pedagógico, aparecem mudanças e conflitos na relação estabelecida entre o professor e os alunos. No caso do contrato didático, a sua ruptura unilateral pode levar à criação de verdadeiros obstáculos à aprendizagem. 4.3 A transposição didática e a transformação dos saberes Ancorada nas concepções de aprendizagem, e fortemente articulada ao conceito de contrato didático, aparece a idéia de transposição didática, freqüentemente dividida em dois grandes momentos, a transposição didática externa e a transposição didática interna. A primeira toma como referência as transformações, inclusões e exclusões sofridas pelos objetos de conhecimento desde o momento de sua produção, até o momento em que eles chegam à porta das escolas. Atuando, de certa forma, em uma esfera exterior à escola (mas sempre como resposta a demandas dela), o produto dessa transposição didática externa se materializa, em sua maior 63
- 64. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco parte, pelos livros didáticos e pelas orientações curriculares, como o presente documento. Por outro lado, a transposição didática interna se apresenta, por sua própria natureza, no interior da escola, e, mais particularmente, em cada uma de nossas salas de aula. É o momento em que cada professor vai transformar os conhecimentos que lhes foram designados para serem ensinados em objetos de conhecimento efetivamente ensinados. As escolhas efetuadas pelo professor é que determinam, de certa maneira, a qualidade das aprendizagens realizadas pelos alunos. Nesse processo de transposição, a temporalidade, associada à aparição dos objetos de conhecimento no cenário didático, também surge como elemento importante nas aprendizagens realizadas pelos alunos. Se nos referirmos ao processo de transposição didática externa, podemos pensar que a apresentação do conhecimento que chega à porta de nossas escolas aparece segundo uma organização linear, regida pelo tempo legal, ou seja, aquele determinado pelos referenciais curriculares, e pelo tempo lógico, que organiza, de uma certa maneira, a apresentação e a articulação dos objetos de conhecimento, criando uma espécie de cadeia. A partir desse momento, com a entrada em ação da transposição didática interna, um outro tempo deverá entrar em ação, diretamente articulado com o tempo de ensino, o tempo de aprendizagem. Atualmente, diversos estudos têm mostrado que esse tempo de aprendizagem é próprio de cada aluno, se caracterizando essencialmente pela não-linearidade. Em outras palavras, trata-se de um tempo que não obedece à mesma lógica do tempo de ensino, que, normalmente, se caracteriza pela linearidade. Assim, o professor aparece como elemento importante nessa gestão do tempo em sala de aula, na medida em que lhe cabe ajustar a linearidade própria do tempo didático à não-linearidade do tempo de aprendizagem do aluno. Pode-se até mesmo afirmar, que a tentativa de associar os tempos de 64
- 65. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco ensino e de aprendizagem tem se mostrado uma importante fonte do fracasso escolar (Câmara, 1997). 4.4 O livro didático: função pedagógica e papel cultural No processo de ensino-aprendizagem em nossas escolas, um fator interveniente que não pode ser esquecido é o livro didático. Em primeiro lugar, por um dado de conjuntura, pois, na última década, programas nacionais do Ministério de Educação têm avaliado e distribuído livros didáticos para as escolas públicas do país. Observa-se, além do mais, que muitos desses livros têm sido concebidos segundo princípios teórico- metodológicos e de ensino-aprendizagem que estão em sintonia com os propostos nesta BCC-PE, embora haja outros que deles se afastam bastante. Em segundo lugar, é amplamente aceito pela maioria dos educadores que cabe ao livro um papel destacado entre os recursos didáticos que podem ser mobilizados. O texto didático traz para o processo de ensino- aprendizagem mais um personagem, o seu autor, que passa a dialogar com o professor e com o aluno. Nesse diálogo, o autor do texto didático intervém com sua perspectiva sobre o saber a ser estudado e sobre o modo de se conseguir aprendê-lo mais eficazmente. Estabelece-se, assim, um enredado feixe de relações interligando quatro pólos: o autor e o texto didático formam um deles, o professor, o aluno e o saber compõem os outros três. Tais relações expressam funções importantes para o processo de ensino- aprendizagem. Tomando como base Gérard & Roegiers (1998), as funções mais importantes do livro didático na relação com o aluno, são – favorecer a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes; 65
- 66. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco – propiciar o desenvolvimento de competências cognitivas, que contribuam para aumentar a autonomia; – consolidar, ampliar, aprofundar e integrar os conhecimentos adquiridos; – auxiliar na auto-avaliação da aprendizagem; – contribuir para a formação social e cultural e desenvolver a capacidade de convivência e de exercício da cidadania. No que diz respeito a suas relações com o professor, o livro didático desempenha, entre outras, as importantes funções de: – auxiliar no planejamento e na gestão das aulas, seja pela explanação de conteúdos curriculares, seja pelas atividades, exercícios e trabalhos propostos; – favorecer a aquisição dos conhecimentos, assumindo o papel de texto de referência; – favorecer a formação didático-pedagógica; – auxiliar na avaliação da aprendizagem do aluno. É indispensável, no entanto, não esquecer que as funções referidas acima são histórica e socialmente situadas e, por isso, sujeitas a limitações e contradições. Cabe ao professor, na escolha e no uso do livro, observar a adequação desse instrumento didático à sua prática pedagógica e ao seu aluno. Além disso, o professor deve manter-se atento para que sua autonomia pedagógica não fique comprometida ao permitir que o livro didático ocupe papel dominante no processo de ensino-aprendizagem e não o de recurso auxiliar nesse processo. 66
- 67. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 5. PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA: AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE Considera-se que a educação formal realiza-se prioritariamente na escola. Assim, feitas as considerações gerais que compõem os itens precedentes, é indispensável que se reflita, brevemente, sobre o projeto político pedagógico, texto privilegiado de expressão dos princípios orientadores das ações da escola e, também, instrumento de planejamento, execução e avaliação das ações desenvolvidas no seu âmbito. A denominação projeto político-pedagógico da escola procura designar um processo que integra, pelo menos, três dimensões. Trata-se de um processo que é projeto, movimento de lançar-se adiante, que busca romper amarras do status quo e dirigir-se para novos objetivos; que é político, ou seja, uma ação orientada na direção de um paradigma, e também que é pedagógico, na medida em que focaliza, no espaço privilegiado da escola, a formação integral do homem. Um projeto político pedagógico orientado para o paradigma da solidariedade, do vínculo social e da cidadania, é chamado a exprimir a responsabilidade social da escola, assumida quando os sujeitos da ação, no meio escolar, reconhecem que sua liberdade é uma liberdade para agir com o outro e para o outro e que visa a um projeto coletivamente construído, não só para sua escola, mas para a sociedade mais ampla em que ela se insere. Nesta perspectiva, autonomia opõe-se a fechamento e isolacionismo, pois o que se procura é assegurar o reconhecimento dos valores e princípios próprios de uma comunidade e, simultaneamente, os de outros grupos humanos. A síntese das dimensões política e pedagógica do projeto da escola exprime-se, igualmente, no processo de sua elaboração, execução e avaliação, de forma democrática, participativa, e com o permanente 67
- 68. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco objetivo de organizar/ reorganizar o trabalho pedagógico desenvolvido no espaço escolar. No âmbito dos princípios, também é importante que o projeto político pedagógico procure transformar a escola em um espaço público de debate, onde, solidariamente, gestores, professores, alunos e a comunidade circunvizinha sejam capazes de organizar as ações educativas. É importante, além disso, procurar evitar os procedimentos burocratizados e segmentados, tão enraizados nas redes de ensino, e buscar não ceder passivamente às injunções hierárquicas externas. Esta é uma das formas de se construir o espaço da identidade, da diversidade e da cidadania, uma das diretrizes norteadoras da BCC-PE. Do ponto de vista de seu conteúdo, o projeto político pedagógico da escola deveria abranger as diversas dimensões da vida escolar. Em primeiro plano, os objetivos curriculares, em harmonia com as finalidades mais amplas da escola; a organização das ações pedagógicas, que incluem, entre seus múltiplos aspectos, a formação de turmas e de grupos, o planejamento do tempo escolar e das atividades fora da sala de aula e o processo de avaliação da aprendizagem. Deveria também incluir a organização interna da escola: estrutura, funcionamento, processo decisório, entre outros. Segundo Veiga (2004, pp. 16-19), um item indispensável no projeto político-pedagógico da escola é o da valorização do magistério, reconhecida como permanente preocupação com formação inicial e continuada dos quadros docentes e gestores e com as condições adequadas de trabalho para esses quadros. Para o presente documento da BBC-PE, o primeiro dos conteúdos acima, os objetivos curriculares, são de especial importância. Além disso, dentre os mecanismos por meio dos quais se produz a interação do contexto social com o currículo, destacam-se a seleção e a organização dos saberes, alvo da ação educativa da escola. 68
- 69. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco Considera-se que a seleção e a organização dos saberes que chegam à porta da escola, o “texto escolar”, tem sido produzidas por setores da sociedade que, de alguma forma, atuam no sentido de regular o funcionamento escolar. Aí figurariam, por exemplo, formuladores de política, autores de livros didáticos, meios de comunicação, instâncias de formação inicial e continuada. Por outro lado, caberia à escola, no âmbito de seu projeto, uma nova seleção e organização dos saberes, para, assim, transformá-los em saberes a serem ensinados. Este movimento é influenciado por práticas sociais específicas da comunidade local, apresentando, às vezes, necessidades e anseios não obrigatoriamente harmonizados com aqueles da sociedade mais ampla. Além disso, não se pode esquecer a sala de aula, espaço em que os saberes a serem ensinados são transformados em efetivas aprendizagens, por parte dos alunos, cabendo aos professores uma parte expressiva dessa responsabilidade. Voltam à cena, no contexto mais específico da organização curricular, as duas idéias fundamentais já referidas, a autonomia e a responsabilidade, que poderão, em grande parte das vezes, determinar o sucesso ou o fracasso do projeto de aprendizagem, função maior de qualquer escola. A autonomia surge então como uma necessidade, na medida em que cabe à escola incorporar as práticas sociais de referência da comunidade em que está inserida. A escola assume então um papel importante, na direção de identificar saberes específicos, contemplados em sua proposta pedagógica. Esses saberes refletiriam o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional compreende como parte diversificada de uma proposta curricular. Não se pode esquecer que, como dito anteriormente, a dimensão da autonomia aparece intrinsecamente associada a uma outra dimensão, a da 69
- 70. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco responsabilidade. Essa responsabilidade, por sua vez, se manifesta em duas vertentes. Uma diz respeito à responsabilidade por um projeto maior de escola, que responda às necessidades da sociedade mais ampla e, também, da comunidade local. A segunda, inerente à própria função da escola, é a de promover a efetiva aprendizagem dos alunos. 70
- 71. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 6.1 A Matemática como forma de interação humana Atividades matemáticas estiveram, em todas as épocas, entre as formas de interação do homem com o mundo físico, social e cultural, em intensidade e diversidade crescentes com a evolução histórica. No mundo atual, podem ser observadas atividades matemáticas nas mais diversas culturas, como respostas a um amplo leque de demandas. As mais elementares ações cotidianas requerem competências matemáticas, que se tornam mais complexas na medida em que as interações sociais e as relações de produção e de troca de bens e serviços vão sendo diversificadas e intensificadas. Na sociedade de hoje, permeada por tecnologias de base científica e por crescente acúmulo e troca de informação, é consenso reconhecer que as competências matemáticas se tornaram um imperativo. As mudanças no mundo do trabalho têm sido rápidas e profundas, exigindo capacidade de adaptação a novos processos de produção e de comunicação. Dessa forma, são claras as articulações da Matemática com as práticas e necessidades sociais, e isso dá suporte ao princípio de contextualização, anteriormente mencionado neste documento. As conexões da Matemática com as ciências e com as tecnologias são uma das vertentes indispensáveis dessa contextualização. O estabelecimento de conexões de conceitos matemáticos com outros conceitos matemáticos é outra dimensão da idéia de contextualização, como se justifica a seguir. 6.2 O conhecimento matemático As atividades matemáticas, movidas pela necessidade do homem de organizar e ampliar seu conhecimento e por sua capacidade de intervenção 71
- 72. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco sobre os fenômenos que o cercam, geraram, ao longo da evolução histórica, um corpo de saber a Matemática, que é um campo científico, extenso, diversificado e, contrariamente ao que se pensa em muitos segmentos da sociedade, um campo em permanente evolução nos dias atuais e não um repertório de conhecimentos antigos e petrificados. A Matemática pode ser vista como uma fonte de modelos para os fenômenos nas mais diversas áreas. Tais modelos são construções abstratas que se constituem em instrumentos para compreensão desses fenômenos. Modelos matemáticos incluem conceitos, relações entre conceitos, procedimentos e representações simbólicas que, num processo contínuo, passam de instrumento na resolução de uma classe de problemas a objeto próprio de conhecimento. Na verdade, há uma via de mão dupla que leva, num sentido, dos problemas dos outros campos da atividade humana para os modelos matemáticos abstratos e vai, no outro sentido, das especulações internas à Matemática para as aplicações, muitas delas novas e inesperadas. Assim, aprofundar o conhecimento sobre os modelos matemáticos fortalece a contribuição da Matemática para outras áreas do saber. No sentido oposto, buscar questões cada vez mais complexas nos outros campos do conhecimento promove o desenvolvimento de novos modelos matemáticos. Essas duas ações fornecem bons alicerces para a prática da interdisciplinaridade almejada nesta BCC-PE. Modelos matemáticos são construídos com vários graus de abrangência e de sistematização. Nos estágios mais simples, quando, ao objeto do mundo físico constituído por uma caixa de papelão, se associa a figura geométrica definida abstratamente como um paralelepípedo retângulo, o que se faz é formular um modelo matemático para essa caixa. Analogamente, funções lineares, quadráticas, exponenciais e trigonométricas podem ser concebidas como modelos matemáticos para 72
- 73. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco fenômenos em que a variação de uma grandeza é relacionada com a variação de outra. Tais modelos particulares são, quase sempre, enfeixados em teorias matemáticas gerais que se constituem em modelos abstratos para amplas classes de fenômenos em vários outros campos do saber. A geometria euclidiana, a teoria das estruturas algébricas, a teoria das probabilidades, são exemplos desses modelos matemáticos mais gerais. Por outro lado, muitas vezes, parte-se de um conceito ou ente matemático e procura-se no mundo físico um fenômeno ou objeto que o represente. Neste caso, tal objeto ou fenômeno é chamado modelo concreto do ente matemático. Assim, uma caixa de papelão pode ser um modelo concreto da figura geométrica definida como paralelepípedo retângulo. Outros exemplos são os denominados materiais concretos, de uso freqüente como recurso didático no ensino da Matemática. Em muitos casos, tais materiais prestam-se a atividades de construção e manuseio por parte dos alunos, e são, por vezes, denominados materiais de manipulação. Outra classe importante de modelos concretos de entes matemáticos são os desenhos, que cumprem papel importante nas atividades em que intervêm as habilidades de visualização. Outra característica importante do conhecimento matemático está relacionada à sua metodologia de validação. Os homens recorreram, nas práticas matemáticas, a diversos métodos para validar e organizar o conhecimento nesse campo do saber. Dentre esses, o método axiomático- dedutivo, em especial, a partir da civilização grega, predomina na Matemática e assume a primazia de ser o único método aceito, na comunidade científica, para comprovação de um fato matemático. Os conceitos de axioma, definição, teorema, demonstração, são centrais nesse método e, por extensão, passaram a ser, para muitos, a face mais visível da Matemática. No entanto, duas ressalvas se impõem. Primeiramente, o próprio 73
- 74. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco conceito de rigor lógico a ser atingido nas demonstrações mudou, no decorrer da história, mesmo no âmbito da comunidade matemática. Em segundo lugar, trata-se de um método de validação do fato matemático, muito mais do que um método de descoberta ou de uso do conhecimento matemático. Na construção efetiva desse conhecimento, faz-se uso permanente da imaginação, de raciocínios indutivos, plausíveis, de conjecturas, tentativas, verificações empíricas, enfim, recorre-se a uma variedade complexa de outros procedimentos. Contudo, é indispensável que, gradualmente, se estabeleça a diferença entre os vários procedimentos de descoberta, invenção e validação e, em particular, se compreenda a distinção entre uma prova lógico-dedutiva e uma verificação empírica, baseada na visualização de desenhos, na construção de modelos materiais ou na medição de grandezas. O acervo acumulado do conhecimento matemático tem sido, a partir de certo ponto de sua evolução, organizado em disciplinas e subdisciplinas, tais como as conhecidas aritmética, álgebra, geometria, estatística, probabilidade, entre outras. Entretanto, a Matemática não deve ser encarada como uma justaposição de subdisciplinas estanques, mas como um campo em que os conhecimentos são muito articulados entre si. O conceito de número e as operações numéricas, por exemplo, permeiam todas as áreas da Matemática. A resolução de equações algébricas repousa em propriedades dos sistemas numéricos, a medição de grandezas geométricas esteve sempre associada à produção de números, que estão, também, na base da estatística e da probabilidade. Outro aspecto importante da Matemática é a diversidade de formas simbólicas presentes em seu corpo de conhecimento. Língua natural, linguagem simbólica, desenhos, gráficos, tabelas, diagramas, ícones, entre outros, desempenham papel central, não só para representar os conceitos, relações e procedimentos, como também na própria formação desses 74
- 75. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco conteúdos. Por exemplo, um mesmo número racional pode ser representado por símbolos tais como ¼, 0,25, 25%, ou pela área de uma região plana ou, ainda, pela expressão 'um quarto'. Uma função pode ser representada, entre outras possibilidades, por uma tabela, por um gráfico cartesiano ou por símbolos matemáticos. 6.3 A Matemática e a construção da cidadania A convivência na sociedade atual, cada vez mais complexa, tem sido marcada por graves tensões sociais, geradas por persistentes desigualdades no acesso a bens e serviços e às esferas de decisão política. Tem sido marcada, também, por uma supervalorização das idéias de mercado e de consumo. Além disso, ainda prevalece no mundo uma ordem social contrária aos princípios da solidariedade, da igualdade de oportunidades para todos; contrária, ainda, ao estabelecimento de vínculos sociais e à constituição da cidadania plena. Na superação desse quadro indesejável, múltiplos papéis podem ser atribuídos ao ensino de Matemática. Dois deles são mencionados a seguir. Em primeiro lugar, deve-se defender um ensino que reconheça saberes e práticas matemáticas dos cidadãos e das comunidades locais – que são competências prévias relativamente eficientes – mas não se abdique do saber matemático mais universal. Em segundo lugar, é preciso desenvolver competências e habilidades matemáticas que contribuam mais diretamente para auxiliar o cidadão a ter uma visão crítica da sociedade em que vive e a lidar com as formas usuais de representar indicadores numéricos de vários fenômenos econômicos, sociais, físicos, entre outros. 75
- 76. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 7. COMPETÊNCIAS E SABERES Como afirmado anteriormente, construir uma base curricular que privilegie a idéia de competência implica fazer escolhas que promovam no sujeito as condições para que possa interpretar e intervir em sua realidade de cidadão. Para tanto, é necessário romper com um ensino de Matemática marcado pela concepção de que a aprendizagem de conteúdos matemáticos levaria, de forma automática, à construção de competências. Pela simples observação da realidade, não é difícil reconhecer o fracasso desse modelo. Por outro lado, é preciso reconhecer que a construção de competências não prescinde da construção de saberes, pois são exatamente tais saberes que estão na base das competências. O trabalho com os saberes, no entanto, deve ser orientado para as competências que se deseja que o aluno construa. Nessa perspectiva, é indicado um conjunto de competências da área de Matemática, advertindo-se que elas não esgotam todas as possibilidades, nem devem ser vistas como verdades absolutas. Ao contrário, este elenco pode e deve ser adaptado, em função das diversidades do projeto pedagógico de cada escola. Um conjunto de competências mais gerais inclui: ! Estabelecer conexões entre os campos da Matemática e entre esta e as outras áreas do saber. ! Raciocinar, fazer abstrações com base em situações concretas, generalizar, organizar e representar. ! Comunicar-se utilizando as diversas formas de linguagem empregadas na Matemática. ! Resolver problemas, criando estratégias próprias para sua resolução, desenvolvendo a imaginação e a criatividade. ! Utilizar a argumentação matemática apoiada em vários tipos de raciocínio: dedutivo, indutivo, probabilístico, por analogia, plausível, etc. 76
- 77. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco ! Utilizar as novas tecnologias de computação e de informação. Além dessas, deve-se desenvolver a sensibilidade para as ligações da Matemática com as atividades estéticas no agir humano e, ainda, para perceber a beleza das construções matemáticas, muitas vezes expressa na simplicidade, na harmonia e na organicidade dessas construções. Outras competências, igualmente fundamentais, estão associadas a campos matemáticos mais específicos e são mencionadas a seguir. As atividades matemáticas no mundo atual incluem, desde os níveis mais primitivos aos mais complexos, a contagem de coleções, as comparações e quantificações de grandezas e as codificações que estão intrinsecamente associadas à aritmética, à álgebra e à combinatória. Ainda nesse campo, convém referir-se à utilização do cálculo mental e das estimativas em contagens, medições e cálculos. Atividades de interação espacial com os objetos e os movimentos no mundo físico acompanham as pessoas desde os primeiros dias, gerando seu conhecimento geométrico. Associadas ao campo da estatística, probabilidade e combinatória, são cada vez mais relevantes as questões relativas a dados da realidade física ou social, que precisam ser coletados, selecionados, organizados, apresentados e interpretados criticamente. Também são importantes as competências para fazer inferências com base em informações qualitativas ou dados numéricos e lidar com o conceito de chance. Buscar construir, com os alunos, as competências brevemente mencionadas nos parágrafos anteriores, sem excluir outras a serem formuladas, requer uma reflexão mais pormenorizada sobre os conteúdos matemáticos envolvidos nessa construção. Convém esclarecer que, neste documento, a expressão 'conteúdos matemáticos' refere-se a situações, conceitos, representações e procedimentos matemáticos. No ensino dos conteúdos matemáticos propostos a seguir, é 77
- 78. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco indispensável que sejam mobilizados, de forma sistemática, os recursos metodológicos referidos anteriormente, bem como observados os princípios norteadores expostos nas seções precedentes, em particular, a contextualização e a interdisciplinaridade. É importante que, ao ensinar Matemática, o professor não isole os conteúdos em blocos estanques e auto-suficientes e, além disso, leve em conta que a aprendizagem é mais eficiente quando os conteúdos são revisitados, de forma progressivamente ampliada e aprofundada, durante todo o percurso escolar. Estudos têm demonstrado que, para grande parte dos conceitos e procedimentos trabalhados na escola, a aprendizagem não se realiza num período muito limitado de tempo. Esse ponto de vista tem levado algumas instituições escolares à adoção de ciclos mais extensos de aprendizagem. Com base em um ponto de vista análogo, optou-se, neste documento, por apresentar os conteúdos em três grandes etapas de escolaridade: anos iniciais do Ensino Fundamental; anos finais do Ensino Fundamental; e Ensino Médio. Uma reflexão sobre conteúdos curriculares para a Educação Infantil e para a Educação de Jovens e Adultos fica, dessa forma, para posteriores desdobramentos desta BCC-PE. Em cada etapa da escolaridade, os conteúdos serão apresentados em blocos de conhecimentos. Porém, tal agrupamento visa, apenas, facilitar a organização do trabalho pedagógico. É imprescindível que o professor procure, de forma constante e sistemática, estabelecer relações entre os diferentes blocos de conteúdos aqui propostos, a saber: a) números e operações; b) geometria; c) álgebra e funções; d) grandezas e medidas; e) estatística, probabilidades e combinatória. 78
- 79. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 7.1 A Matemática na primeira etapa do Ensino Fundamental A criança, ao chegar à escola, traz consigo um conjunto de saberes matemáticos construídos em interação com seu meio social. Trata-se, então, de incentivá-la a utilizar tais conhecimentos para resolver situações que apresentem significado para ela e que facilitem a construção de saberes mais elaborados nas etapas posteriores. É recomendável que a introdução dos conceitos, procedimentos, simbologia, nomenclatura e sistematização característicos da Matemática enquanto conhecimento estruturado se faça de forma progressiva e com extremo cuidado para que não se gerem dificuldades de aprendizagem. Nessa etapa da escolaridade, a Matemática adquire um aspecto mais informal, e apresenta como referência o espaço social da criança. Por isso, é fundamental que o professor resgate esse espaço para a construção dos conceitos. A relação do aluno com o conhecimento é, de início, marcadamente individualista (“meu quadrado”, “minha conta” ...), como também o são as representações utilizadas por ele. Embora sirvam de ponto de partida para a construção dos conceitos e possam, portanto, ser vistas como normais, o professor é chamado a levar o aluno a perceber as limitações dessas representações pessoais, por meio de atividades e de debates coletivos em classe. O apoio em materiais de manipulação também pode ser necessário nessa etapa. Porém, é desejável que as situações criadas pelo professor levem o aluno a operar mentalmente. Tal passagem, bastante delicada, deve ser realizada de forma cuidadosa e sem imposições, deixando-se que o próprio aluno perceba as limitações do material concreto. A forte ligação entre a língua materna e a linguagem matemática também é uma característica dessa etapa. Os símbolos matemáticos devem aparecer não como uma imposição do professor ou como uma 79
- 80. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco característica do conhecimento matemático, mas como elementos facilitadores da comunicação. As relações entre causa e efeito e as inferências lógicas começam a aparecer nessa fase. Os alunos começam a descobrir propriedades e regularidades nos diversos campos da Matemática e cabe ao professor construir situações que promovam a consolidação progressiva dessas idéias, evitando, cuidadosamente, antecipar respostas a problemas e questionamentos vindos do aluno, o que pode permitir o desenvolvimento do pensamento lógico. A sistematização excessiva é totalmente desaconselhável nessa etapa. 7.2 Números e operações Nos anos iniciais da escolaridade, construir os significados dos números naturais aparece como uma das primeiras tarefas da escola. Para tanto, as situações propostas pelo professor devem possibilitar ao aluno identificar um número natural em seus quatro aspectos: o de indicador da quantidade de elementos de uma coleção discreta (cardinalidade); o de medida de grandezas (2 quilos, 3 dias, etc); o de indicador de posição (número ordinal); e o de código (número de telefone, placa de carro, etc.). É preciso ressaltar, porém, que essas distinções não devem ser introduzidas formalmente, mas construídas a partir de situações de uso do número natural. É também em seu cotidiano social que o aluno toma contato com as primeiras leituras e escritas numéricas. As atividades propostas devem, então, buscar números que sejam familiares aos alunos, nos primeiros anos de escolaridade. Nessa fase, ocorrem escritas diretamente articuladas com a linguagem natural, como, por exemplo, escrever 136 como 100306. A partir da observação da escrita de números familiares é que o aluno vai 80
- 81. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco construindo os procedimentos adequados para lidar com as representações numéricas. Estudos têm mostrado que a introdução precoce de procedimentos muito rígidos de escrita dos números pode, muitas vezes, provocar o aparecimento de dificuldades de aprendizagem. Nos anos finais dessa etapa de escolaridade, essa abordagem articulada com o ambiente social do aluno pode facilitar a interpretação e escrita de outros números, incluindo a escrita dos números racionais em sua forma decimal. Nessa fase, ao chegar à escola, o aluno já apresenta certa familiaridade com as operações fundamentais. São as situações trazidas de seu convívio social que deverão servir de ponto de partida para o trabalho com tais operações. É muito importante fugir do esquema, ainda bastante encontrado nas escolas, de procurar que o aluno automatize os resultados das operações básicas de adição e multiplicação com números de um dígito (tabuada, fatos básicos), seguindo-se da apresentação dos algoritmos e de uma seqüência de problemas. Atividades baseadas em situações de vida do aluno levam, progressivamente, à automatização da tabuada sem a necessidade de exercícios de memorização, que apenas criam a idéia de uma matemática cansativa e desprovida de significados. As situações mencionadas acima também são bastante propícias para que se explorem os diferentes significados das operações fundamentais. Por exemplo, para a adição e a subtração devem ser propostas, aos alunos, atividades que levem à compreensão de: a) ações de juntar, separar e tirar; b) transformações de quantidades, com aumento ou diminuição; c) comparação de duas quantidades. Para a multiplicação, são essenciais situações em que surjam: a) a idéia de multiplicação comparativa (duas vezes mais...); b) a noção de proporcionalidade (um custa 2 reais, 3 quanto custam?); a contagem de configurações retangulares (em 6 filas de 5 bancas, quantas bancas há?); a combinação de elementos de diferentes maneiras (3 camisas e 4 saias). A divisão pode ocorrer em situações de: a) 81
- 82. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco partição (repartir igualmente 24 chocolates para 6 crianças); b) busca do número de cotas (quantas prestações de 24 reais são necessárias para pagar 72 reais); c) de proporcionalidade (se 8 viagens custam 24 reais quanto custa uma viagem?). Os algoritmos escritos convencionais para as operações devem ser construídos de forma bem cautelosa. Um primeiro aspecto a observar é que os alunos desenvolvem estratégias pessoais de cálculo escrito, que devem ser compreendidas, valorizadas pelo professor e confrontadas com as de outros alunos. A aquisição da habilidade de calcular com os algoritmos convencionais das quatro operações, em papel e lápis, deve ocorrer ao longo de um processo gradual, se desenvolver durante toda a primeira etapa do Ensino Fundamental e, até mesmo, atingir a etapa posterior de escolarização. É fundamental nesse processo, o trabalho com o cálculo mental, quase sempre apoiado em diversas estratégias de decomposição dos números e de realização das operações. Fazer estimativas e arredondamentos são outras habilidades numéricas a serem desenvolvidas desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. O uso da calculadora, nessa fase, deve ser bastante criterioso. A familiaridade com tal recurso de cálculo deve ser adquirida com base em atividades que incentivem o aluno a fazer explorações com números e com as operações, a confrontar os resultados com o cálculo mental e as estimativas. Por outro lado, é necessário cautela para que o uso da calculadora não se constitua em entrave ao desenvolvimento de outras formas de realização dos cálculos numéricos. Explorar os diversos algoritmos de cálculo mencionados é um dos instrumentos para a construção do significado do sistema de numeração decimal. Além disso, na articulação entre o cálculo escrito ou mental e as propriedades do sistema de numeração decimal, é bastante aconselhável o trabalho com números decompostos em sua forma polinomial, por 82
- 83. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco exemplo, compreender que 345 significa 300 mais 40 mais 5. O estudo da relação de ordem usual nos números naturais é fundamental para o desenvolvimento de competências numéricas. Atividades que envolvam a reta numérica podem contribuir para a construção de idéias como maior, menor, bem como para a identificação de um número entre dois outros. Propor situações cujas soluções não se encontram no campo dos números naturais pode levar o aluno a perceber a necessidade de ampliar seu universo numérico para incluir os números racionais. A literatura em Educação Matemática tem mostrado a riqueza dessas situações, entre as quais se destacam as que envolvem as frações. Desde cedo, a criança, em seu universo social, entra em contato com as idéias de “metade da turma”, “um terço da largura da mesa”, “a quarta parte da fita”, “meio quilo de carne”, etc. Como mostram os exemplos, as frações surgem em situações que envolvem, quase sempre, uma grandeza, seja discreta (uma coleção de objetos ou entidades), seja contínua (comprimento, área, volume, massa, etc.). Explorar essa diversidade de contextos certamente contribui para a evolução da compreensão do conceito de fração. As situações envolvendo frações aparecem, também, associadas ao quociente de dois números naturais, como no exemplo: “repartir igualmente dois chocolates para três pessoas) e, ainda, para representar uma razão entre duas quantidades (numa turma, a razão do número de meninas para o de meninos é de 2/3). Explorar as denominadas frações fundamentais (1/2, 1/3, 1/4, etc.) é um dos bons caminhos para auxiliar o aluno na compreensão do próprio conceito de fração, além de contribuir para a aprendizagem da equivalência, da comparação e das operações básicas no âmbito das frações. Por exemplo, “3/4 da fita” pode ser entendido como “três pedaços de ¼ da fita”, o que levaria à operação “3 x ¼ = ¾). De modo análogo, outras situações contribuem para idéias como “um quinto mais dois quintos resulta em três 83
- 84. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco quintos” (1/5+2/5=3/5); “um quarto cabe oito vezes em duas unidades” (2:1/4=8). Os algoritmos das operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) devem receber um tratamento gradual e ancorado em situações significativas, evitando-se, a todo custo, a redução ao automatismo de aplicação de regras. Além disso, é recomendável que parte do estudo das operações, em particular, a adição e a subtração com frações de denominadores diferentes, e a multiplicação e a divisão de frações sejam deixadas para a etapa seguinte de escolarização. Os números racionais, no entanto, não são representados apenas por frações. Cada vez mais, a representação decimal desses números ganha importância nas práticas sociais e, por isso, torna-se indispensável no ensino da Matemática. A articulação da representação decimal dos números naturais com tal representação no caso dos racionais é uma tarefa difícil, mas necessária, a ser realizada nessa fase da escolarização. São boas auxiliares para isso as atividades com o nosso sistema monetário, que devem estar presentes desde o início da formação do aluno. A construção da idéia de porcentagem pode ser iniciada, nessa etapa, em estreita relação com situações encontradas no cotidiano do aluno. As porcentagens utilizadas devem ser simples, do tipo 10%, 20%, 50%, etc, de modo a favorecer a passagem para outras representações, tais como décimo, quinta parte, metade, etc., além do emprego do cálculo mental. É preciso evidenciar que cabe sempre ao professor determinar a profundidade com que os conceitos serão explorados em sua sala de aula, em função do desenvolvimento dos alunos. E mais, nessa etapa de escolaridade, é importante que os conceitos matemáticos sejam construídos como respostas a problemas e que devam ser priorizados problemas que pertençam ao universo sociocultural do aluno. É recomendável que se evitem os excessos na sistematização e se garanta que 84
- 85. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco as atividades propostas favoreçam o envolvimento efetivo do aluno na aprendizagem da Matemática. 7.3 Álgebra e funções Durante muito tempo, a organização dos conteúdos escolares de Matemática foi realizada em três blocos, geometria, aritmética e álgebra. Usualmente, o estudo dos números tem sido associado ao campo da aritmética, enquanto o trabalho com as “letras” tem sido ligado à álgebra. Na realidade, as tendências atuais em Educação Matemática encaram a álgebra não mais como um bloco de conteúdos, mas como uma forma de pensar matematicamente, caracterizada, entre outros aspectos, pela busca de generalizações e de regularidades. Adotado esse ponto de vista, é recomendável que o ensino de álgebra seja desenvolvido desde a primeira etapa do Ensino Fundamental, com o cuidado de não o reduzir a simples manipulação simbólica. Destaca-se, com relação à formação em álgebra, não o trabalho com símbolos, mas a busca, por parte de aluno, de identificar regularidades em seqüências, sejam elas numéricas, de figuras ou de outro tipo. As atividades propostas pelo professor devem, entre outros aspectos, procurar levar o aluno a identificar os elementos e as regras de formação dessas seqüências. Tal trabalho pode ser muito bem articulado com o estudo dos números, em especial com o emprego da reta numérica. Outra articulação importante com os números e suas operações pode ser efetivada em situações em que o aluno seja levado à determinação do elemento desconhecido em uma igualdade matemática. Nesse nível de ensino, tais situações podem ser exploradas utilizando a idéia de operações inversas, como, por exemplo, “determinar o número que, multiplicado por 85
- 86. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco quatro, é igual a vinte”. Porém, é preciso cautela na utilização da linguagem simbólica convencional na Matemática, pois as representações próprias dos alunos merecem muita atenção. A familiaridade deles com as operações inversas será uma das bases para o progressivo emprego da simbologia convencional da álgebra. Em geral, o efetivo trabalho com “letras” somente será realizado na etapa posterior de escolaridade. O pensamento funcional também deve ser valorizado nessa etapa de escolaridade. Em particular, a noção de proporcionalidade pode ser introduzida por meio de situações ligadas ao cotidiano do aluno. Por exemplo, “se um pão custa dez centavos, três pães custam trinta centavos”. Nesse sentido, as situações e problemas devem ser elaborados de forma a permitir que o aluno desenvolva estratégias próprias de resolução, sendo desaconselhável a apresentação de regra fixas ou algoritmos únicos. Essas situações podem ser uma ótima ocasião de promover a articulação com o bloco do tratamento da informação, nas atividades com gráficos de segmentos. O aluno poderá, então, construir a associação da proporcionalidade entre grandezas com o gráfico linear. Estudos em Educação Matemática também têm demonstrado que, nos anos finais dessa etapa de escolaridade, os alunos demonstram a competência de resolver, utilizando estratégias próprias, situações simples envolvendo a proporcionalidade inversa entre grandezas. Por exemplo, se ele gasta certo tempo para se deslocar de sua casa até a escola, dobrando seu ritmo (sua velocidade) ele gastará, aproximadamente, a metade do tempo para cumprir o mesmo percurso, triplicando o ritmo, o tempo cai para a terça parte, e assim sucessivamente. 7.4 Grandezas e medidas Usualmente, o ensino de grandezas e medidas tem privilegiado a apresentação das unidades padronizadas de comprimento, massa, tempo, 86
- 87. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco área e capacidade; além disso, tem sido dada excessiva importância à conversão de unidades de medida. Em alguns casos, chega-se à apresentação e à aplicação de fórmulas de cálculo de perímetro e de área de figuras planas. Essa estratégia tem se mostrado não somente ineficiente em relação à aprendizagem, mas, muitas vezes, geradora de dificuldades para futuras aprendizagens. Embora a criança nessa faixa de escolarização já chegue na escola com algum conhecimento sobre grandezas, ainda não apresenta, principalmente nos primeiros anos, compreensão de seu significado. São comuns as confusões, quando se considera um objeto, entre seus diversos “tamanhos”, que ora é o comprimento, ora é a área ou mesmo o volume. Além disso, apesar de a criança estar exposta ao uso social freqüente das unidades de medida convencionais, falta-lhe, muitas vezes, uma estimativa da ordem de grandeza dessas unidades de medida. Por exemplo, ela sabe que o comprimento de uma avenida é de três quilômetros, mas ainda não tem a compreensão do comprimento (ou distância) equivalente a um quilômetro. As situações apresentadas podem, então, nos anos iniciais, levar o aluno a compreender o significado de algumas grandezas e desenvolver a capacidade de estimativa de medidas. Por exemplo, compreender o que significa o comprimento de um segmento de linha reta ou de linha curva; saber que comprimentos podem ser medidos com um metro e não com um metro quadrado; ser capaz de estimar uma distância (ou comprimento) de um metro, a área de um metro quadrado, e assim por diante. Convém destacar a necessidade de ligação do estudo das grandezas e medidas a situações do cotidiano do aluno. A construção da idéia de medição também pode ser realizada nos primeiros anos dessa etapa de escolarização. As situações apresentadas ao aluno podem levá-lo a compreender que grandezas podem ser medidas e comparadas. É importante, nesse momento, não dar exclusividade à 87
- 88. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco utilização de unidades do sistema métrico, insistindo-se na utilização de unidades não-convencionais que sejam significativas para a criança. Quando se faz uso da medição para comparar duas grandezas, é preciso que seja utilizada a mesma unidade de medida. Por exemplo, ao comparar dois comprimentos medidos em “palitos”, é necessário que os “palitos” empregados sejam do mesmo comprimento nas duas medições efetuadas. Por isso, na comunicação entre culturas, foi sendo estabelecida, progressivamente, uniformização das unidades adotadas, para que os dados envolvendo medidas de grandezas pudessem ser comparados. Por exemplo, para estimar o comprimento do corredor da escola quando são utilizados os passos de dois alunos, as medidas do referido comprimento podem ser diferentes. A sistematização das unidades convencionais de medida somente deve ser realizada após a construção dos significados das grandezas envolvidas. É importante ressaltar que essas unidades devem estar intimamente ligadas ao cotidiano do aluno. Por exemplo, a conversão de uma medida em hectômetros para decâmetros não apresenta nenhum valor formativo, enquanto lidar com hectares ou braças pode estar relacionado às necessidades do aluno, e contribua mais para sua formação. O trabalho com as grandezas geométricas (comprimentos e perímetros, áreas, etc.) deve merecer especial atenção nesse momento de escolarização. A apresentação de fórmulas e sua aplicação em uma série exaustiva de problemas têm-se mostrado ineficaz e geradora de obstáculos futuros, como, por exemplo, a confusão entre perímetro e área. É importante que as situações apresentadas pelo professor propiciem ao aluno construir a distinção entre os três elementos envolvidos no trabalho com as grandezas geométricas, a figura (quadrados, retângulos, etc.), a grandeza associada à figura (comprimento de 2m, perímetro de 12m, 4m2 de área, capacidade de 30 l, etc.) e o número associado à medição dessa grandeza numa dada unidade (2, 12, 4, etc.). 88
- 89. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco Nos anos iniciais dessa etapa, é fundamental a apresentação de situações que levem o aluno a comparar grandezas, sem recorrer a medições. Por exemplo, verificar que “a distância da escola à padaria é maior que a distância da escola ao supermercado”, identificar que “em certo recipiente cabe mais água que em outro”, etc. Também podem ser trabalhadas situações que explorem a distinção entre figura e grandeza. Por exemplo, situações em que figuras diferentes tenham o mesmo perímetro; em que recipientes diferentes tenham a mesma capacidade, etc. É igualmente importante que o aluno compreenda que o número associado à grandeza, quando se realiza a medição, depende da unidade escolhida. Assim, certa área não é igual a dois; de fato, a área pode medir dois, ou quatro, ou oito, etc., dependendo da unidade escolhida. É preciso, porém, lembrar que a exploração de fórmulas deve ser deixada para a etapa de escolarização seguinte. Em classes em que o professor perceba que as construções anteriormente citadas já se apresentam consolidadas, a expressão que fornece a área do retângulo pode ser sistematizada, a partir dos resultados obtidos pelos alunos em situações associadas às disposições retangulares. Por exemplo, em uma situação de determinação da medida da área de um retângulo em papel quadriculado, o aluno pode perceber que não há necessidade de contar todos os quadradinhos da figura, realizando a multiplicação do número de quadradinhos em um dos lados pelo número de quadradinhos no lado adjacente. 7.5 Geometria Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o trabalho com a geometria deve estar centrado na exploração do espaço que envolve o aluno. As situações em que o aluno seja levado a se situar no espaço que o cerca 89
- 90. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco devem ser particularmente exploradas. Assim, em momentos iniciais podem ser propostas atividades que o levem a compreender as idéias de: pontos de referência; deslocamentos: esquerda; direita; acima; abaixo; etc. Essas situações podem avançar na direção de analisar deslocamentos, verificando os mais longos e os mais curtos, por exemplo. O trabalho com malhas, mapas e croquis pode contribuir bastante para o desenvolvimento dessas idéias. É também no espaço que cerca a criança dessa etapa, que ela encontra as diferentes figuras geométricas, planas e espaciais. As situações propostas pelo professor devem, então, levar o aluno a identificar propriedades comuns e diferenças entre essas diversas figuras, sem, contudo, haver a preocupação excessiva com suas denominações. Por exemplo, nessa etapa de escolaridade, é bastante comum o aluno denominar o paralelepípedo por retângulo. É desejável que a atuação do professor se dirija não para enfatizar a nomenclatura das figuras, mas para destacar suas propriedades distintivas ou comuns. Por exemplo, observar que um retângulo é uma figura plana, enquanto o paralelepípedo é espacial. Essa distinção pode ser facilitada no trabalho com, por exemplo, planificações de sólidos geométricos e suas representações, sem, entretanto, buscar a apresentação de procedimentos formais de representações planas. As construções geométricas, com o uso de instrumentos de desenho, também podem contribuir para a identificação das primeiras propriedades das figuras planas. É importante, porém, que o trabalho não se restrinja à apresentação de seqüências de etapas de construção, que acabam por esconder do aluno seus significados. Associada à idéia de proporcionalidade, a noção de semelhança pode ser iniciada nos anos iniciais do Ensino Fundamental. É preciso esclarecer, porém, que essa não é uma idéia que se apresenta de forma pronta e definitiva. Sua construção demanda um longo tempo, e somente será 90
- 91. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco consolidada em etapas posteriores da escolaridade. Nessa etapa, as atividades envolvendo malhas são fundamentais para as primeiras construções do conceito. Podem-se explorar malhas de diferentes tipos (quadradas, retangulares, triangulares), e situações que levem o aluno a perceber transformações que ampliem, deformem, reduzam ou mantenham inalteradas figuras planas e suas propriedades. Atividades de ampliação e redução de figuras planas por homotetias, no contexto de papel branco, são também accessíveis a alunos dos anos finais desse ciclo da aprendizagem. 7.6 Estatística, probabilidades e combinatória A Matemática apresenta-se como um campo do saber com um papel central no desenvolvimento de competências ligadas ao questionamento, ao estabelecimento de relações e conjecturas e à interpretação de informações e dados da realidade cotidiana do cidadão. Essas competências não podem ser desenvolvidas apenas com a construção de gráficos e tabelas. É preciso que sejam desenvolvidas competências associadas: à formulação de questões que envolvam a obtenção de dados; à coleta, à organização e à apresentação de informações; à observação e à interpretação de fenômenos. É recomendável que se leve em conta a curiosidade, muitas vezes presente na criança, para se desenvolver a competência para formular questões que envolvam a procura de informações por parte dos alunos. Por exemplo, “Na minha turma, a que horas cada um acorda nos dias de aula?“ Obter as informações, organizá-las por diversos meios é o passo importante seguinte. Destacam-se, na organização e napresentação de dados, as tabelas e os gráficos. O trabalho com tabelas e gráficos deve propiciar ao aluno 91
- 92. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco compreender essas formas de representação como facilitadoras da organização de informações. Tabelas simples podem ser construídas pelos alunos desde os primeiros anos dessa etapa de escolaridade. Da mesma forma, estudos têm mostrado que a construção de gráficos de barras elementares pode auxiliar bastante o desenvolvimento de atitudes de observação e realização de inferências. É preciso ressaltar, porém, que não se pode esperar de alunos dessa fase a construção formal de gráficos; por exemplo, a correta representação das escalas nos eixos somente será completamente efetiva em etapas posteriores da vida escolar do aluno. A observação e a interpretação das informações contidas nas tabelas e nos gráficos podem levar a discussões relevantes para o estabelecimento de relações entre as variáveis envolvidas no fenômeno observado. Uma oportunidade privilegiada de articulação desse bloco com o campo das operações numéricas é a exploração das idéias de combinatória. O professor pode elaborar situações em que o aluno seja levado a realizar diferentes combinações de elementos. Por exemplo, situações em que se pergunte ao aluno, diante de duas calças e três camisas, de quantas maneiras diferentes ele pode combiná-las e quais são essas maneiras. Da mesma forma, a idéia de chance pode ser trabalhada nessa etapa, preparando o aluno para a construção da idéia de probabilidade, a ser elaborada posteriormente. Por exemplo, podem ser elaboradas situações em que o aluno deva perceber que, ao lançar uma moeda, há metade de chance de sair cara e metade de sair coroa, etc. 92
- 93. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 8. A MATEMÁTICA NA SEGUNDA ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL Essa etapa de escolaridade pode ser vista como continuação da anterior, ou seja, como avanço, ampliação e consolidação das aprendizagens realizadas anteriormente. Isso significa que, nessa fase, o professor precisa conhecer bem as aprendizagens já realizadas pelos alunos, para evitar o aparecimento de rupturas que o possam prejudicar. Partir da premissa de que o aluno não realizou adequadamente aprendizagens anteriores, repetindo certos conceitos de forma esquemática e pouco significativa, pode levar o aluno ao desinteresse e à desmotivação. Por outro lado, considerar as aprendizagens anteriores como definitivamente construídas, tem criado barreiras para que o aluno atribua significado aos novos conhecimentos visados, em particular, no que diz respeito ao conhecimento mais abstrato e simbólico da Matemática. Por exemplo, é normal que os alunos cheguem a esse nível de ensino sem conseguir utilizar de forma adequada a linguagem matemática, o que não significa ausência de aprendizagens anteriores. Cabe, então, ao professor identificá-las e utilizá-las como ponto de partida para as novas aprendizagens e para a ampliação dessa linguagem. Não se espera, porém, que isso esteja plenamente consolidado mesmo ao fim dos anos finais do Ensino Fundamental. O espírito crítico e questionador é uma marca bastante forte nessa fase. Em relação à Matemática, aparecem questões relativas à utilidade de certos conceitos, ao processo de sua construção, etc. Boas respostas a tais questões somente podem ser obtidas se o conhecimento matemático consegue ser portador de significados para o aluno. A construção desses significados somente é possível, nessa etapa da escolarização, se o aluno percebe a construção desse conhecimento como resposta a problemas que 93
- 94. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco lhe são apresentados. É na elaboração de estratégias e na resolução de problemas que o aluno estabelece processos cognitivos importantes, que não podem ser desenvolvidos por meio de um ensino baseado na memorização sem compreensão ou na sistematização precoce de conceitos. A capacidade de realizar inferências e deduções desenvolve-se de maneira importante nessa etapa. As situações propostas pelo professor devem, então, oferecer oportunidades para que o aluno possa confrontar suas idéias e estratégias com as de seus colegas e as do próprio professor e, com isso, validá-las ou reformulá-las. É desejável que esses processos não venham acompanhados, nessa etapa, de linguagens e sistematizações finalizadas. É preciso que o professor leve isso em consideração para criar atividades em que tais processos se consolidem cada vez mais. Os alunos interagem de forma mais aprofundada com seu contexto social, e muitos deles já estão inseridos no mercado de trabalho. Apresentam também preocupação cada vez maior com seu projeto de vida. É preciso, então, que a Matemática se constitua em um elemento importante na construção desse projeto, e que o aluno compreenda sua importância, tanto em seu ambiente social, como para a continuação de seus estudos. 8.1 Números e operações O trabalho com os números naturais deve ser visto como a continuação e a consolidação das aprendizagens anteriores, principalmente em relação à escrita e à leitura desses números. A estrutura do sistema de numeração decimal vai sendo progressivamente consolidada, e as atividades em que sejam exploradas, a composição e a decomposição de 94
- 95. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco números em sua forma polinomial contribuem bastante para a compreensão da mencionada estrutura. Além disso, com base na compreensão do sistema de numeração decimal e de suas propriedades, o aluno será capaz de compreender o funcionamento dos algo-ritmos escritos convencionais das operações com os diferentes tipos de números. Porém, tais algoritmos não devem ser os únicos a merecer a atenção no ensino. Destaca-se, a esse respeito, que sua compreensão pode ficar bastante facilitada a partir de situações de cálculo mental, em que os alunos sejam levados à explicitação de suas estratégias. O professor pode explorar, por exemplo, a relação entre o cálculo mental de 35+17 (30+10, 5+5, +2) com o algoritmo da adição com reserva. Além disso, o cálculo mental, associado ao uso da calculadora e à realização de estimativas e de arredonda-mentos, pode contribuir para que o aluno desenvolva a capacidade de análise de resultados obtidos como respostas a problemas. Os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural consolidam-se a partir da compreensão das propriedades desses números. É preciso, porém, que as situações apresentadas pelo professor permitam que essas idéias sejam construídas como respostas a problemas, evitando-se o trabalho baseado exclusivamente na aplicação de técnicas ou dispositivos práticos. Situações que o aluno encontra em seu contexto social devem ser tomadas como ponto de partida para a apresentação dos números inteiros. Dessa forma, tais números podem ser vistos como necessários para a ampliação dos números naturais. As regras das operações com esses números não devem ser apresentadas prontas e acabadas, mas pela observação de regularidades e aplicação das propriedades dos números naturais. Por exemplo, para se concluir que 2.(-2)=-4, pode-se observar a seqüência 2.(2); 2.(1); 2.(0); 2.(-1); 2.(-2). 95
- 96. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco O conceito de número racional, tanto em sua representação fracionária, como em sua representação decimal, também deve ser ampliado e consolidado sem que o termo consolidação seja entendido como a memorização de procedimentos de cálculo. Os diferentes significados dos números racionais devem ser aprofundados: parte- todo; quociente entre dois números inteiros; medida; razão; e operador. Esta última idéia, que aparece estreitamente associada às operações com os números racionais, deve vir acompanhada de significado que a justifique, como, por exemplo, a compreensão de que a metade de seis corresponde a ½ x 6. A construção dos procedimentos operatórios com esse tipo de número é uma aprendizagem lenta e que não pode ser finalizada em um tempo bem definido. A equivalência de frações ainda deve ser tomada como elemento principal na aprendizagem das operações com as frações. O mais importante é que o aluno seja capaz de construir significado para essas operações. Por exemplo, mais importante do que interpretar a divisão do racional a pelo racional b como o “produto de a pelo inverso de b” seria compreender que tal divisão significa identificar “quantas vezes b cabe em a” ou, ainda, fazer apelo à idéia de divisão como operação inversa da multiplicação. A noção de porcentagem tem suas aplicações ampliadas nessa fase do ensino. As atividades propostas pelo professor devem permitir ao aluno não somente realizar cálculos de porcentagens, mas determinar os valores de reajustes e descontos, decidir a melhor forma de pagar uma compra, determinar o percentual total a partir de composição de porcentagens, etc. É nessa etapa de escolaridade que tem início a construção do significado de número irracional, pela insuficiência dos números racionais para resolver determinados problemas de medição abstrata de grandezas no âmbito da Matemática. Os irracionais devem ser vistos como números que não podem ser expressos por um quociente de inteiros. Sabe- 96
- 97. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco se que os radicais de números inteiros são, em geral, números irracionais. Por exemplo, toda raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito é irracional. No entanto, não é correto induzir o aluno a pensar que esses são os únicos irracionais que ocorrem em Matemática. Muito menos se justifica a excessiva atenção que usualmente é dada ao cálculo com radicais. Na escola básica, pode-se definir um número irracional como uma dízima infinita e não-periódica. Dessa maneira, tem-se um instrumento conceitual capaz de “produzir” números irracionais: basta definir seqüências numéricas infinitas, garantindo-se a não-periodicidade dessa seqüência. Por exemplo: o número b = 0,1234567891011121314... , construído com a própria seqüência numérica dos naturais é irracional. Essa abordagem é útil, ainda, para dar significado ao fato de que um número irracional pode ser aproximado por números racionais com a aproximação que se deseje. Tais aproximações podem ser obtidas aumentando o número de dígitos nas dízimas finitas extraídas da dízima infinita que define o irracional. No exemplo acima, os números racionais 0,123; 0,1234; 0,12345; etc. são aproximações racionais do número irracional b. A compreensão do significado de cada um dos tipos de números é que vai servir de ponto de partida para a compreensão da ordenação desses números. No caso dos números racionais representados na forma decimal, a relação de ordem “maior do que” (ou “menor do que”) tem sido fonte de muita dificuldade na aprendizagem. É comum o aluno afirmar, erroneamente, que 3,15 é maior do que 3,3. Convém observar que atividades com a reta numérica são um recurso importante na abordagem dessas questões. 97
- 98. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 8.2 Álgebra e funções O trabalho com a álgebra deve ser visto como a ampliação do que é estudado na primeira etapa do Ensino Fundamental. Com o surgimento das “letras”, é importante que o aluno construa a noção de variável e reconheça uma expressão algébrica como a interpretação de uma relação entre duas grandezas. Isso indica que o trabalho no nível simbólico, com a ênfase na manipulação de “letras”, tão comum nos anos iniciais dessa etapa, deveria ser evitado. A ampliação do estudo das seqüências, iniciado anteriormente, pode contribuir para dar significado às expressões algébricas, principalmente em atividades que tenham por objetivo determinar a “lei de formação” das seqüências. As equações de primeiro grau devem aparecer de forma natural, não como um objeto de estudo em si mesmo, mas como uma representação de determinado problema a ser resolvido. Assim, cabe ao professor elaborar situações em que, cada vez mais, os procedimentos aritméticos sejam considerados pouco econômicos para resolvê-las, levando os alunos à necessidade de estabelecer outros processos. É preciso, porém, levar em consideração que a passagem acima referida não se dá na forma de uma ruptura, pois há alunos que, sistematicamente, buscam procedimentos aritméticos, sempre que for possível. As técnicas de resolução de equações de primeiro grau também não devem ser consideradas como objetos de estudo, em especial nos anos iniciais da etapa de ensino em tela. Propor situações de resolução de problemas em que as equações sejam ferramentas apropriadas poderá levar o aluno, gradativamente, à construção e à sistematização dessas técnicas. A retomada da idéia de operações inversas, iniciada na etapa anterior, poderá facilitar bastante a construção desse processo. 98
- 99. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco A ampliação da idéia de generalização, por meio de expressões algébricas, é que vai dar origem a algumas fatorações de expressões algébricas simples. Nesse momento, é imprescindível a articulação das propriedades das operações aritméticas com a geometria e as grandezas geométricas. Por exemplo, o aluno pode identificar a expressão algébrica (a+b)² com a que fornece a área de um quadrado de lado (a+b). Ressalta- se, mais uma vez, que atividades envolvendo expressões algébricas podem ser vistas como uma ferramenta para a resolução de problemas, e não como um objeto de estudo independente. Tem-se observado que uma abordagem das equações do segundo grau apenas pela aplicação direta da fórmula de Bhaskara termina por provocar dificuldades posteriores. Os alunos acabam tomando-a como método único e, quando “esquecem a fórmula”, não são capazes de resolver o problema. Assim, é recomendável que, nessa etapa, os alunos sejam incentivados a resolver equações de segundo grau utilizando a fatoração e o processo de completar quadrados, que, além de serem métodos eficazes podem dar significado à fórmula de Bhaskara. O estabelecimento de relações entre grandezas deve ser tomado como ponto de partida para o estudo da noção de função. O aprofundamento dessa noção deve ter sua origem em atividades ligadas a situações do cotidiano do aluno, evitando-se a sistematização precoce. Situações que envolvam a proporcionalidade também podem ser aprofundadas nessa fase. Em particular, a articulação de problemas envolvendo proporcionalidade com o estudo da função linear constitui-se em um tópico relevante. 8.3 Grandezas e medidas Nessa fase de escolaridade, a idéia de medição é ampliada, contemplando as medidas relativas a comprimento, área, volume 99
- 100. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco (capacidade), ângulo, tempo, massa e temperatura, sempre em situações que permitam dar significado a essas grandezas. As atividades envolvendo o sistema monetário devem dar continuidade ao que foi feito na primeira etapa do Ensino Fundamental. O trabalho baseado exclusivamente em transformações de unidades, sem que o aluno consiga perceber as relações entre elas, deve ser evitado. A necessidade do emprego de unidades padronizadas de medida deve ser enfatizada por meio de atividades que tenham sentido para o aluno. Outras unidades de medida podem ser introduzidas e ampliadas, como, por exemplo, as unidades agrárias (particularmente aquelas mais próximas do contexto dos alunos), as utilizadas no contexto da informática (Kb, Mb, etc.) e aquelas relativas a grandezas determinadas pela razão de duas outras (KWh, velocidade, densidade, etc.). No caso da grandeza volume, é desejável que se compreenda capacidade como o volume interno de determinados sólidos e não como a “quantidade de líquido” em tal recipiente, como muitos são levados a pensar, como conseqüência do ensino usual. No trabalho com as grandezas geométricas, a busca de dissociação entre as figuras (triângulo, quadrilátero, etc.), as grandezas associadas à figura (3m, 4cm² , 12 m3, 30º , etc. ) e o número associado à medição dessas grandezas (4, 12, 30, etc.) deve ser amplificada. Iniciar atividades que relacionem a área de algumas figuras planas com a área do retângulo permite o estabelecimento de expressões algébricas que possibilitem generalizar procedimentos de medidas de áreas a outras figuras, levando, assim, à sistematização de algumas fórmulas (áreas de quadrados, paralelogramos, triângulos, trapézios, losangos e comprimento da circunferência). É preciso ressaltar, porém, a necessidade de uma forte articulação com a geometria, buscando-se utilizar as propriedades das figuras planas para generalizar expressões. 100
- 101. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 8.4 Geometria O trabalho com a localização no plano e no espaço, iniciado na etapa anterior de escolaridade, deve ser ampliado com as noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo e perpendicularismo, etc. A introdução da idéia de coordenadas cartesianas pode ser feita com significado, articulada a outros campos do conhecimento (plantas, mapas, coordenadas geográficas, etc.). A distinção entre as diferentes figuras geométricas planas e espaciais deve ser aprofundada nessa etapa, com o estudo de suas propriedades. É importante ressaltar que o aluno começa a mudar seu ponto de vista sobre os objetos geométricos. Se, na primeira etapa do Ensino Fundamental, a ênfase aparece no aspecto global das figuras, nos anos finais as atividades propostas pelo professor devem levar o aluno à percepção de que as figuras geométricas são caracterizadas por suas propriedades. Dessa forma, na etapa posterior, o Ensino Médio, o aluno deverá ter condições para aprofundar essas propriedades e desenvolver o pensamento dedutivo. Construções, planificações e representações das diferentes vistas de figuras espaciais, particularmente de prismas, pirâmides, cilindros e cones são fundamentais para o estabelecimento de suas propriedades. Esse momento também oferece boas possibilidades de realização de um rico trabalho de construções com instrumentos. Em relação às figuras planas, o estudo das propriedades dos triângulos e dos quadriláteros abre possibilidades de desenvolvimento da percepção espacial, mas é importante salientar que a ênfase não deve recair na memorização dessas propriedades e em nomenclatura. As atividades de composição e decomposição de figuras complexas, a partir de figuras geométricas simples, podem auxiliar tanto na articulação dessas propriedades, como na compreensão dos conceitos relativos às grandezas 101
- 102. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco geométricas. As atividades explorando as transformações isométricas de figuras planas (reflexão, translação e rotação) são importantes para desenvolver, no aluno, habilidades de percepção espacial, favorecendo também a construção da noção de congruência de figuras planas. As atividades de ampliação e de redução de figuras vão permitir consolidar a idéia de semelhança, iniciada na etapa anterior. O aluno já deverá ser capaz de identificar os elementos que não se alteram e aqueles que se modificam, em atividades de ampliação e redução. A consolidação dessas idéias irá permitir, nos últimos anos dessa etapa, a compreensão dos Teoremas de Tales e de Pitágoras, bem como suas aplicações em problemas relacionados ao contexto social do aluno. 8.5 Estatística, probabilidade e combinatória Formular questões que envolvam a obtenção de dados da realidade; coletar, organizar e apresentar informações; observar e interpretar fenômenos; são competências que devem ser alvo da atenção da escola, desde a primeira etapa do Ensino Fundamental. Na presente etapa, tais competências devem ser ampliadas e aprofundadas. Em particular, o tipo de questões que podem ser abordadas desloca-se para temas mais gerais, capazes de despertar o interesse do aluno e de favorecer a formação mais ampla. Exemplos desses temas podem ser: preservação da natureza; reciclagem; sexualidade na adolescência; cuidados com a saúde, entre muitos outros. O trabalho com tabelas e gráficos, nessa etapa de escolaridade, deve ir além de atividades de leitura e interpretação, sendo ampliado para situações que propiciem ao aluno trabalhar com conjuntos de informações, elaborar conjecturas e destacar aspectos relevantes das informações 102
- 103. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco apresentadas. Ao utilizar informações obtidas do ambiente social do aluno, o professor poderá promover situações que permitam a compreensão de algumas medidas estatísticas, como, por exemplo, médias aritméticas e ponderadas. A interpretação de termos como freqüência, freqüência relativa, amostra, etc., também pode ser bastante facilitada quando se trabalha com atividades ligadas ao contexto social do aluno. Atividades que explorem a representação e a contagem, em uma situação de combinatória devem levar o aluno à construção do conceito de princípio multiplicativo como recurso fundamental, mas não único, na resolução de diversos problemas. A construção da idéia de probabilidade deve se apoiar em situações elaboradas de tal forma que o aluno possa experimentar e realizar simulações. Dessa maneira, em etapas posteriores, o aluno poderá estabelecer o modelo matemático que permite determinar a probabilidade de ocorrência de um evento. 103
- 104. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 9. A MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO O Ensino Médio caracteriza-se como última e complementar etapa da Educação Básica e deve visar atingir tanto aqueles que vão encerrar sua escolaridade regular e ingressar no mundo do trabalho, como aqueles que ainda se dirigirão a fases posteriores de formação escolar. Portanto, nessa etapa devem ser oferecidas condições para que o aluno possa complementar e consolidar as aprendizagens realizadas no Ensino Fundamental e desenvolver suas capacidades e competências. No âmbito da escola, isso significa, entre outras mudanças, rever e redimensionar alguns dos conteúdos atualmente trabalhados. Implica, também, passar de um ensino livresco ou utilitarista da Matemática, para um ensino com significado para o aluno e articulado com outros campos do saber. Dessa forma, as atenções do professor, tanto na escolha dos temas a serem ensinados como em seu trabalho em sala de aula, devem-se voltar para as questões da contextualização e da interdisciplinaridade. Em outras palavras, as escolhas do professor devem priorizar conceitos e procedimentos que permitam as conexões entre diversas idéias matemáticas, diferentes formas de pensamento matemático e vários campos do conhecimento. Importa, também, favorecer a compreensão da relevância social da Matemática e de seu papel no desenvolvimento histórico da ciência. Pode-se dizer, nessa perspectiva, que a palavra-chave da Matemática do Ensino Médio seria “conexões”; conexões tanto com outras áreas do conhecimento e aplicações sociais, como também com outros campos da própria Matemática. Um ponto de vista muito defendido na comunidade educacional indica que um dos meios de levar o aluno a estabelecer essas conexões é trabalhar, simultaneamente, as idéias matemáticas em diferentes quadros (numérico, algébrico, funcional, geométrico, gráfico, etc.). Por 104
- 105. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco exemplo, o estudo das funções, bastante explorado nos currículos atuais de Ensino Médio, pode ter suas potencialidades ampliadas se houver articulação com a álgebra e a geometria. Contudo, não se pode esquecer que a matemática do Ensino Médio, enquanto disciplina estabelecida, também deve ser vista como uma ciência que apresenta características estruturais específicas. É importante que o aluno perceba o papel das definições, simbologia, demonstrações e encadeamentos conceituais em sua composição interna. Nesse sentido, é importante que o professor esteja atento ao desenvolvimento, por parte do aluno, da capacidade de se expressar em linguagem matemática, de realizar formulações coerentes e validá-las com argumentos apoiados no pensamento dedutivo. Deve ficar claro, porém, que tais competências não se desenvolvem pela “visualização” de demonstrações feitas pelo professor, mas, sobretudo, pela habilidade desse professor em criar, em suas salas de aula, situações de debate, nas quais os alunos sejam levados a construí-las. 9.1 Números e operações Nessa etapa da escolaridade, é preciso proporcionar aos estudantes o conhecimento da diversidade de problemas geradores da ampliação dos campos numéricos e o domínio dos conceitos básicos relativos a tais números, considerando sua perspectiva histórica. Torna-se necessária, também, a plena compreensão dos algoritmos (no âmbito das representações numéricas ou dos símbolos) que envolvem os números reais. A consolidação dos conceitos de número irracional e de reta numérica, apoiada nas idéias já iniciadas nas etapas anteriores, constitui-se em objetivo importante a ser atingido. Os números complexos devem aparecer somente pela insuficiência dos números reais na resolução de 105
- 106. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco equações algébricas de 2º grau, tornando-se dispensável tomá-los como objeto de estudo em si mesmos. As propriedades dos números e de suas operações devem ser priorizadas nesse nível de ensino, evitando-se a excessiva formalização e a utilização, muitas vezes artificial, da linguagem e da notação da teoria dos conjuntos. A noção de porcentagem aparece em inúmeras aplicações e as atividades propostas pelo professor podem resgatar as experiências e os conhecimentos das práticas sociais dos alunos, particularmente aquelas ligadas ao trabalho com as finanças e as situações de caráter da economia. 9.2 Álgebra e funções As funções têm papel central na formação do Ensino Médio, principalmente por seu papel de modelo matemático para o estudo das variações entre grandezas em fenômenos do mundo natural ou social. Esse aspecto das funções deve ser priorizado, em lugar de uma abordagem essencialmente simbólica e de difícil compreensão por parte dos alunos. Em particular, a definição de função baseada na idéia de produto cartesiano de dois conjuntos aparece como bastante desaconselhável, tanto do ponto de vista matemático, como do didático. Estudos têm demonstrado que uma abordagem de funções na perspectiva da modelagem de fenômenos reais proporciona uma aprendizagem consistente e duradoura, permitindo a aplicação desses conceitos em outras áreas do conhecimento. Os conceitos de domínio, de imagem, de função composta e de função inversa, podem ser gradualmente construídos, desde que em situações significativas para o aluno e sem excessos de simbologia. Os conceitos de crescimento e decrescimento, e, 106
- 107. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco em particular, o de taxa de variação de uma função merecem atenção especial, por sua importância no estudo das funções como modelos matemáticos para os fenômenos em que ocorrem relações entre grandezas variáveis. A ligação entre a proporcionalidade e a função linear é um bom exemplo de conexão a ser retomado na presente etapa. A função afim e as funções a ela associadas são, também, tópicos relevantes. Além disso, trabalhar com um ponto de vista funcional as seqüências numéricas tem sido bastante defendido. Em particular, as progressões aritméticas podem ser relacionadas à função afim. A articulação com a geometria analítica, nesse momento, pode permitir um passo importante na direção de desenvolver o pensamento funcional. Essa conexão pode permitir a compreensão das relações entre as resoluções gráfica e algébrica de sistemas de equações do primeiro grau, evitando-se, todavia, a excessiva manipulação simbólico-algébrica, normalmente privilegiada nessa etapa do ensino. O estudo da função quadrática aparece como tema privilegiado para o estabelecimento de relações com o estudo da equação do 2º grau, realizado no Ensino Fundamental. Na presente etapa, é importante recuperar as aprendizagens realizadas anteriormente, destacando-se a resolução de equações do segundo grau pela técnica de completar quadrados, que tem sido abandonada, em troca da aplicação mecânica da fórmula de Bhaskara. As características da parábola, e sua relação com a função quadrática, devem ser exploradas, o que pode evitar, por parte do aluno, a confusão entre “parábola” e outras curvas que são gráficos de funções não-lineares. O estudo da função quadrática pode, por exemplo, ser explorado como modelo para o movimento uniformemente acelerado. A ênfase nas equações e inequações do segundo grau pode, nesse nível de ensino, desviar a atenção do aluno para aspectos pouco relevantes à 107
- 108. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco compreensão da função quadrática, reforçando a manipulação simbólico- algébrica. A função exponencial aparece como de fundamental importância no conhecimento científico, particularmente dentro da própria Matemática. Seu estudo articula-se bem com as progressões geométricas e com a matemática financeira. Devem ser priorizadas as características da função exponencial, seus parâmetros, seu crescimento e seu decrescimento, deixando-se em segundo plano a abordagem puramente algébrica, por meio de equações e inequações. O conceito de logaritmo de um número como elemento facilitador da realização de cálculos numéricos perdeu, há bastante tempo, sua importância, principalmente com o aparecimento e a popularização das calculadoras. A função logaritmo, porém, apresenta importância como inversa da função exponencial. É recomendável que se evite a ênfase na resolução de equações logarítmicas. As funções trigonométricas podem ocupar o lugar central como modelos matemáticos para os fenômenos periódicos. Resulta dessa perspectiva que as funções seno e cosseno, com suas propriedades fundamentais, devem ser privilegiadas no ensino, pois, com base nelas, é possível construir, gradualmente e com compreensão, modelos simples para muitos fenômenos periódicos. Resulta, também, que o excessivo trabalho algébrico com identidades trigonométricas perde o sentido. Em contrapartida, relações trigonométricas, em particular, as leis dos senos e dos cossenos, podem ser revisitadas, visando à resolução de problemas em triângulos quaisquer. 9.3 Grandezas e medidas O trabalho do aluno em outras disciplinas como a Física e a Química, por exemplo, pode servir como motivação para a consolidação da idéia de 108
- 109. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco grandeza, particularmente aquelas formadas por relações entre outras grandezas (densidade, aceleração, etc.). Em relação às grandezas geométricas, as atividades propostas deverão proporcionar a consolidação dos conceitos aprendidos nas etapas anteriores. O aluno já deve reunir as condições necessárias para a compreensão de demonstrações mais elaboradas, que conduzam a fórmulas da área do círculo ou e de volume de figuras geométricas tais como círculo. 9.4 Geometria As atividades que requerem a representação das diferentes figuras planas e espaciais, presentes na natureza ou imaginadas, devem ser aprofundadas e sistematizadas. Não se pode esquecer que a geometria aparece como um campo privilegiado (apesar de não ser o único) para exercitar as inter-relações entre o método lógico-dedutivo e o raciocínio intuitivo, apoiado nas representações materiais dos objetos abstratos da geometria. Alguns conceitos estudados no Ensino Fundamental devem ser consolidados, como, por exemplo, as idéias de proporcionalidade, congruência e semelhança, o Teorema de Tales e suas aplicações, as relações métricas e trigonométricas nos triângulos (retângulos e quaisquer) e o Teorema de Pitágoras. As construções com régua e compasso também aparecem como elemento importante no desenvolvimento do pensamento geométrico e do raciocínio dedutivo, desde que não se resumam a uma seqüência mecânica de procedimentos de construção sem que as propriedades inerentes às construções sejam colocadas em evidência. Por exemplo, é importante que os alunos saibam as propriedades necessárias à construção de retas 109
- 110. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco perpendiculares e paralelas, mediatriz de segmentos, divisão de segmentos em partes proporcionais, bisseção de ângulos, polígonos regulares (inscritos e circunscritos) e triângulos quaisquer (com a determinação de seus elementos). O trabalho com a geometria analítica, além de proporcionar o desenvolvimento das habilidades de visualização, permite a articulação da geometria com o campo da álgebra. Porém, para que essas características apresentem significado para o aluno, o trabalho nessa área não deve ser resumido à simples manipulação simbólica. Os significados geométricos de coeficientes de equações (da reta e da circunferência), de retas paralelas, perpendiculares, tangentes e secantes, podem contribuir bastante para a compreensão das relações entre a geometria e a álgebra. É importante também que o tema não fique restrito a determinado momento, mas seja desenvolvido durante todo o Ensino Médio. Assim, as articulações da geometria analítica com outras áreas da matemática escolar podem ser exploradas de forma proveitosa. Por exemplo, as idéias como crescimento, decrescimento, taxa de variação de uma função, inclinação de um gráfico, entre outras, podem ser relacionadas com o estudo das diferentes funções abordadas no Ensino Médio. Esse é um bom momento também para retomar os sistemas de equações, enquanto representações analíticas de intersecções de figuras geométricas. As técnicas de resolução de sistemas de até três equações podem ser exploradas (escalonamento), sem que seja necessário o recurso a determinantes, que podem ser dispensados no Ensino Médio. 9.5 Estatística, probabilidades e combinatória Nessa etapa de escolarização, o trabalho com tabelas e gráficos deve promover no aluno a capacidade de análise e instrumentalizá-lo para a 110
- 111. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco tomada de decisões. A produção rápida e excessiva de informações na sociedade atual requer um eficiente pensamento analítico para compreender pesquisas de opinião, índices econômicos, doenças, problemas ambientais, etc. Situações em que o aluno precise tomar certas decisões em sua vida cotidiana podem ser trazidas para a discussão de algumas medidas estatísticas, como, por exemplo, medidas de tendência central (média, mediana e moda) e de dispersão (desvio-médio, desvio-padrão e variância). A interpretação de termos como freqüência, freqüência relativa, amostra, espaço amostral, etc., também pode ser consolidada. Em relação à combinatória, algumas noções devem ser consolidadas, como, por exemplo, o princípio multiplicativo, a divisão como um processo de redução de agrupamentos repetidos, etc. Entretanto, as atividades propostas pelo professor devem ser elaboradas de forma que o aluno possa ampliar cada vez mais as estratégias básicas de contagem, evitando-se o ensino restrito a uma extensa lista de fórmulas que não apresentem significado para o aluno. A idéia de probabilidade deve ser ampliada durante o Ensino Médio, de forma que o aluno, ao final desta etapa, seja capaz de estabelecer o modelo matemático que permite determinar a probabilidade de ocorrência de um evento. O conceito pode ser, também, ampliado para situações em que seja necessário identificar a probabilidade da união e da interseção de eventos, os eventos disjuntos e o conceito de independência de eventos. 111
- 112. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 10. ASPECTOS DIDÁTICOS 10.1 O papel da resolução de problemas na aprendizagem em matemática O papel da resolução de problemas no ensino de Matemática foi, de forma coerente com o paradigma educacional de anos passados, pautado pela idéia de que “aprender Matemática é resolver muitos problemas”, no sentido de que os neurônios se assemelhariam a músculos, que seriam desenvolvidos à custa de “muita malhação”. Na maioria dos livros didáticos dessa época, o conteúdo era apresentado aos alunos, seguido de alguns problemas resolvidos, que serviriam de modelo para os exercícios de fixação, uma bateria extremamente longa de problemas de mesma estrutura (embora bolas de gude fossem, de vez em quando, substituídas por carrinhos ou bonecas). Esse papel aparece associado ao primeiro modelo de concepção sobre o ensino e a aprendizagem de Matemática, discutido anteriormente. Nessa concepção, era fundamental o papel do “problema fechado”, que se caracteriza como um problema cujo enunciado, ou localização no desenvolvimento dos conteúdos, já identifica, para o aluno, que conteúdo deverá ser utilizado para resolvê-lo. A utilização exclusiva desse tipo de problema consegue mascarar a efetiva aprendizagem, pois o aluno sabe que está sendo trabalhado, por exemplo, o “Capítulo 3”, que trata da adição. Por outro lado, no momento da avaliação, em que o assunto a que se refere o problema não aparece explicitamente, surge a conhecida pergunta: “professor, o problema é de mais ou de menos?” A predominância desse tipo de problema, no processo de aprendizagem da Matemática, provoca a cristalização de uma forma de contrato didático que apresenta, como uma de suas regras implícitas, que o 112
- 113. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco aluno não deve se preocupar com o enunciado do problema, bastando, para resolvê-lo, identificar os números presentes no enunciado e descobrir a operação que resolve o problema. Dessa forma, uma das condições essenciais para o exercício da plena cidadania, a competência de analisar um problema e tomar as decisões necessárias à sua resolução, deixa de ser 5 desenvolvida no ensino da Matemática, gerando o que Stela Baruk chama de “automáticos” (autômatos matemáticos). Com o desenvolvimento dos novos paradigmas educacionais, as limitações da utilização privilegiada desse tipo de problema foram colocadas em evidência, surgindo, então, as idéias de “problema aberto” e “situação-problema”. Apesar de apresentarem objetivos diferentes, como será mostrado mais adiante, esses dois tipos de problemas tomam por eixo central colocar o aluno, guardadas as devidas proporções, numa situação análoga àquela em que o matemático se vê ao exercer sua atividade; o aluno deve, diante desses problemas, ser capaz de realizar tentativas, estabelecer hipóteses, testa-las e validar seus resultados, provando que são verdadeiros ou, em caso contrário, mostrando algum contra-exemplo. O enfoque pode ser dado, então, na resolução do problema em si mesmo, o que conduz à idéia de problema aberto, ou na construção do conceito matemático necessário à resolução do problema, o que conduz à situação-problema. Assim, o problema aberto procura levar o aluno à aquisição de um processo de resolução de problemas, no qual ele desenvolve a capacidade de realizar as quatro ações apresentadas anteriormente, ou seja, realizar tentativas, estabelecer hipóteses, testar essas hipóteses e validar resultados. A prática, em sala de aula, desse tipo de problema, acaba por transformar a 5 Baruk (1975), em seus trabalhos, discute os efeitos do problema conhecido como “a idade do capitão”, que apresenta o seguinte enunciado: “Em um barco, há 7 cabras e 5 ovelhas. Qual a idade do capitão desse barco?”. Estudos mostram que a maioria dos alunos, confrontados com esse problema, efetua a multiplicação de 7 por 5, dando 35 como a idade do capitão. 113
- 114. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco própria relação entre o professor e os alunos, e entre os alunos e o conhecimento matemático, que passa a ser visto como algo provido de uma dinâmica particular, e não mais como algo que deve ser memorizado para ser aplicado nas avaliações. Estudos têm mostrado6 que as mudanças nas relações entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de Matemática (professor, aluno e conhecimento), na abordagem de tal tipo de problema, promovem relações de solidariedade entre os participantes do processo, sendo o conhecimento matemático encarado não mais como algo externo ao aluno, mas como elemento natural de seu ambiente social. Enquanto o problema aberto objetiva levar o aluno a certa postura em relação ao conhecimento matemático, a situação-problema apresenta um objetivo distinto, ou seja, levar o aluno à “construção” de um novo conhecimento matemático. De maneira bastante sintética, pode-se caracterizar uma situação-problema como geradora de um problema, cujo conceito necessário à sua resolução seja aquele conceito que queremos que o aluno construa (Câmara, 2002, p.40). A idéia de situação-problema pode parecer paradoxal, quando se indaga: “Como o aluno pode resolver um problema se ele não aprendeu o conteúdo necessário à sua resolução?”. Mas, a história da construção do conhecimento matemático mostra que esse mesmo conhecimento foi construído a partir de problemas a serem resolvidos. A idéia de resolução de problemas se encontra na base da terceira concepção de ensino- aprendizagem de Matemática, apresentada anteriormente neste documento. Em anos recentes, os estudos em Educação Matemática têm posto em evidência a idéia de modelagem matemática: “a arte de transformar 6 Ver, por exemplo, Medeiros (2001). 114
- 115. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real” (Bassanezi, 2002, p.16). A modelagem matemática pode ser entendida como um método de trabalho científico. Nessa perspectiva, há coerência desse método com os pontos de vista expostos neste documento sobre as características da Matemática como fonte de modelos para o conhecimento dos fenômenos da natureza e da cultura. No entanto, é a modelagem matemática como estratégia de ensino- aprendizagem que convém destacar, neste momento, pela estreita conexão dessa estratégia com ações envolvidas no enfoque de resolução de problemas descrito acima. De fato, quando a modelagem matemática propõe uma situação- problema ligada ao “mundo real”, com sua inerente complexidade, o aluno é chamado a mobilizar um leque variado de competências: selecionar variáveis que serão relevantes para o modelo a construir; problematizar, ou seja, formular um problema teórico, na linguagem do campo matemático envolvido; formular hipóteses explicativas do fenômeno em causa; recorrer ao conhecimento matemático acumulado para a resolução do problema formulado, o que, muitas vezes, requer um esforço de simplificação, pelo fato de que o modelo originalmente pensado pode revelar-se matematicamente muito complexo; validar, isto é, confrontar as conclusões teóricas com os dados empíricos existentes, o que, quase sempre, leva à necessidade de modificação do modelo, que é essencial para revelar o aspecto dinâmico da construção do conhecimento. Evidencia-se, além disso, que a estratégia de modelagem matemática no ensino-aprendizagem tem sido apontada como um instrumento de formação de um aluno: comprometido com problemas relevantes da natureza e da cultura de seu meio; crítico e autônomo, na medida em que toma parte 115
- 116. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco ativa na construção do modelo para a situação-problema; envolvido com o conhecimento matemático em sua dupla dimensão de instrumento de resolução de problemas e de acervo de teorias abstratas acumuladas ao longo da história; que 'faz Matemática', com interesse e prazer. 10.2 A Matemática e as novas tecnologias Já foram mencionados, neste documento, os impactos das mudanças tecnológicas sobre a configuração do mundo atual. Em particular, verifica- se que repercutiram de forma evidente, na Matemática, as novas tecnologias de armazenamento e comunicação de informações, de computação automática e de criação de 'realidades virtuais'. Não só a Matemática passou a ser empregada de forma mais extensiva e aprofundada, como novos campos surgiram, especialmente no âmbito das variáveis discretas, ampliando de forma impressionante o conhecimento matemático. Em face dessas mudanças, novas ênfases no ensino-aprendizagem da Matemática tornaram-se inevitáveis, e as propostas curriculares mais recentes têm incluído conteúdos de um novo bloco, denominado, em geral, de 'tratamento da informação'. Nesse bloco, quase sempre, são propostos conteúdos de estatística, que procuram abordar questões de tratamento de dados com base em conhecimentos básicos desse campo científico; de probabilidade, como base matemática para a estatística e como modelo teórico para os fenômenos envolvendo a idéia de acaso; a matemática do discreto, que lida com a combinatória e suas ferramentas teóricas para a contagem sistemática de conjuntos discretos e com outros campos de conhecimento envolvendo estruturas de tais conjuntos, a exemplo dos grafos. Não só o surgimento de novos conteúdos curriculares, mas também o 116
- 117. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco emprego de metodologias de ensino-aprendizagem que recorram às novas tecnologias, têm sido intensamente debatidos no campo educacional e é extensa a literatura hoje disponível sobre esses temas. Desse debate, alguns aspectos são destacados a seguir. Um primeiro ponto a mencionar é o papel que a calculadora e o computador desempenham para, entre outras possibilidades: facilitar os cálculos com números de ordem de grandeza elevada; armazenar, organizar e dar acesso a grande quantidade de informações (banco de dados); fornecer imagens visuais para conceitos matemáticos; permitir a criação de 'micromundos' virtuais para a simulação de 'experimentos matemáticos'. Apoiados no emprego dessas tecnologias, o aluno poderá ter mais oportunidade de expandir sua capacidade de resolver problemas, de fazer conjecturas, de testar um grande número de exemplos, de explorar os recursos da chamada 'geometria dinâmica', em que é possível fazer variar continuamente parâmetros atrelados a figuras, operação impossível num contexto de papel e lápis. Entretanto, o emprego da calculadora ou do computador não deve ser encarado como limitadores do desenvolvimento da competência matemática para operar com números, como tem sido entendido por muitos. Ao contrário, devem ser instrumento de expansão dessa capacidade de calcular. A competência de efetuar as operações básicas da aritmética, com números inteiros e racionais continua sendo necessária para a formação básica de todos os cidadãos, respeitada a complexidade dessas operações. A adoção da calculadora e do computador na escola não deve ser obstáculo para a aquisição dessa competência. Não cabe mais, no entanto, o aluno despender energia realizando imensas e repetitivas contas, com a pretensão de “fixar as regras de cálculo”. O emprego da calculadora, por outro lado, torna indispensável desenvolver no aluno a capacidade de efetuar cálculos mentais e estimativas. 117
- 118. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco O cálculo por arredondamento é uma dessas estratégias, ao lado da estimativa da ordem de grandeza dos resultados das operações. O desenvolvimento dessas capacidades vai permitir ao aluno controlar o resultado de cálculos realizados com a calculadora ou o computador e, dessa forma, não o deixar refém desses instrumentos. Além da calculadora e do computador, estão disponíveis em muitas escolas recursos de comunicação a distância. Em particular, há um acervo de vídeos educativos que tem sido mobilizado em várias de nossas escolas. Convém lembrar, também, que as novas tecnologias de ensino não são ferramentas que atuem por si sós e façam os alunos aprenderem Matemática. Dessa maneira, elas não trazem a diminuição do papel do professor. Ao contrário, o planejamento didático das atividades a serem desenvolvidas assume lugar essencial entre as suas tarefas e, tendo em conta o amplo leque de possibilidades que tais tecnologias oferecem, pode-se até dizer que o papel do professor fica ampliado e tornado mais complexo. 10.3 A história da Matemática como recurso didático Uma das formas mais eficazes de atribuir significado aos conceitos matemáticos é contextualizá-los no processo de evolução histórica desses conceitos. No entanto, trazer a história da Matemática para a sala de aula não se deve limitar à descrição de fatos ocorridos no passado ou à atuação de personagens famosos. Em primeiro lugar, é importante que as articulações da Matemática com as necessidades humanas de cada época sejam evidenciadas. Mais importante ainda, é preciso levar em conta as contribuições do processo de construção histórica dos conceitos e procedimentos matemáticos para a superação das dificuldades de aprendizagem desses conteúdos em sala de aula. 118
- 119. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco A construção progressiva dos números naturais, racionais, irracionais, negativos e imaginários ao longo da história é uma fonte importante para a didática atual desses conceitos. Por exemplo, refletir sobre as dificuldades históricas da chamada “regra dos sinais”, relativa à multiplicação de números negativos e discutir a criação dos números irracionais podem contribuir bastante para o ensino desses conteúdos. Outros exemplos em que o recurso à história pode contribuir para o ensino-aprendizagem da Matemática podem ser citados: os cálculos astronômicos realizados em diversas fases históricas podem ser relacionados a tópicos importantes de geometria; a discussão das Leis de Kepler e suas conexões com a geometria da elipse, o emprego do logaritmo com o advento das novas tecnologias de computação; o Princípio de Cavalieri e as questões de cálculo de volume. 10.4 Jogos matemáticos Vem de longa data o interesse pelos jogos matemáticos (ou como chamam alguns “matemática recreativa”), de tal modo que existe, hoje, uma extensa bibliografia sobre o tema e um crescente interesse dos professores para incorporá-lo em sua prática pedagógica. No entanto, essa bibliografia traz à tona apenas parte do vasto conhecimento sobre o conceito de jogo e seu papel nas ações humanas, questão que não será abordada neste documento, mas que pode ser estudada nos textos de Huizinga (1993) e Caillois (1990), duas referências clássicas e accessíveis em língua portuguesa. Igualmente não cabe tratar aqui da teoria dos jogos, campo da Matemática que assume importância cada vez maior tanto no âmbito teórico, como nas inúmeras aplicações a outros domínios científicos. 119
- 120. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco O que se pretende nesta seção é tecer breves comentários sobre os possíveis papéis dos jogos matemáticos no ensino-aprendizagem da matemática. O ponto de vista adotado é o de que os jogos devem ser encarados como situações-problema a partir das quais podem ser tratados conceitos e relações matemáticas relevantes para o ensino básico. A denominação genérica "jogos matemáticos" pretende englobar situações-problema de vários tipos, entre os quais podem ser citados: jogos que envolvem disputa entre duas pessoas ou entre pares, incluindo os clássicos e suas variações, tais como o xadrez, o jogo de damas, o jogo da velha e outros jogos com tabuleiro: o jogo do Nim e suas variantes e o jogo Hex7, que têm aparecido cada vez mais nas experiências com jogos matemáticos; quebra-cabeças de montagem ou movimentação de peças, tais como o Tangram e os poliminós; os desafios, enigmas, paradoxos, formulados em linguagem do cotidiano e que requeiram raciocínio lógico para serem desvendados. Vários aspectos têm sido apontados como pedagogicamente relevantes nas experiências com jogos na sala de aula de Matemática. Em primeiro lugar, menciona-se a necessidade de desenvolver a dimensão lúdica, importante para o desenvolvimento integral do aluno. Os jogos são, ao lado disso, um elemento que favorece a inserção aluno em sua cultura, na medida em que a dimensão lúdica está nela enraizada. Os jogos seriam, assim, mais uma forma de exploração da realidade do aluno. Em segundo lugar, argumenta-se que idéias e relações matemáticas importantes estão presentes numa enorme variedade de jogos e por em meio desses jogos é possível um encontro inicial e estimulante com tais idéias. 7 Mais informações sobre esses jogos podem ser encontradas na internet. 120
- 121. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco Além disso, a busca de estratégias para a vitória ou para solucionar um desafio inclui, via de regra, uma variedade de questões de lógica ou de Matemática, das elementares até problemas não resolvidos por especialistas. Esse fato possibilitaria a exploração de um mesmo jogo em diversos níveis, dependendo do estágio dos participantes. Outro aspecto a ressaltar é o de que muitos dos jogos propiciam a integração de várias áreas da Matemática - aritmética, álgebra, geometria, combinatória, etc, - o que tem sido uma das mais ricas características dessa ciência. Também é mencionada a compatibilidade do trabalho pedagógico com jogos com a metodologia de resolução de problema, anteriormente discutida neste documento. Os jogos matemáticos fornecem uma excelente oportunidade para que sejam explorados aspectos importantes dessa metodologia. Como exemplo, convém lembrar que a observação precisa dos dados, a identificação das regras, a procura de uma estratégia, o emprego de analogias, a redução a casos mais simples, a variação das regras, entre outras possibilidades, são capacidades que podem ser desenvolvidas quando se trabalha com jogos na aula de Matemática. No âmbito pedagógico, é fundamental o aspecto interativo propiciado pela experiência com jogos matemáticos. Os alunos não ficam na posição de meros observadores, tomando conhecimentos de novos fatos, e transformam-se em elementos ativos, na tentativa de ganhar a partida ou na busca de um caminho para a solução do problema posto à sua frente. Certamente tal atitude é extremamente positiva para a aprendizagem das idéias matemáticas subjacentes aos jogos. Além do mais, a vitória numa partida ou a descoberta da solução de um desafio são experiências relevantes para fortalecer a auto-confiança, tão indispensável ao processo de aprendizagem. É bom notar, em contrapartida, que as derrotas repetidas e os insucessos freqüentes diante dos desafios podem levar a frustrações e 121
- 122. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco reforçar a idéia de incapacidade para compreender os fatos na área da Matemática. O caráter recreativo da experiência com jogos tem sido apontado com um dos méritos dessa experiência no sentido de tornar mais atraente a Matemática para aqueles alunos que desenvolveram reações a lidar com esse conhecimento. Outro mérito seria o de contribuir para atitudes positivas de convivência pois, nos jogos não-individuais, o aluno é chamado a negociar as regras do jogo, a respeitá-las, a colaborar com seus parceiros de jogo, a saber perder e a saber ganhar. Deve-se, advertir, no entanto, que não é uma tarefa fácil trazer os jogos matemáticos para a escola básica. A complexidade de alguns jogos, mesmo aqueles mais comuns, requer, de um lado, clareza sobre os vários conceitos matemáticos envolvidos e, de outro, um planejamento do momento e da maneira adequados para sua utilização no processo de ensino- aprendizagem, para que seja garantida a riqueza conceitual, o prazer em participar da atividade e a conquista da auto-confiança. 10.5 Outros recursos no ensino-aprendizagem da Matemática Após as referências feitas neste documento a vários recursos metodológicos – a resolução de problemas; a modelagem matemática; as tecnologias no campo da informática; a história da Matemática; os jogos matemáticos; o livro didático – cabem alguns comentários sobre outros recursos didáticos que podem auxiliar o ensino e a aprendizagem da Matemática na escola. Como se disse, neste documento, na seção sobre interdisciplinaridade, recentemente, tem sido mencionada na literatura educacional a atuação em 8 sala de aula baseada em projetos . Do ponto de vista metodológico, a 8 A esse respeito, consultar Hernández & Ventura (1998) e Pires (2000). 122
- 123. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco proposta de uma pedagogia de projetos de trabalho se harmoniza com a da resolução de problemas ou a da modelagem matemática, tendo em comum com elas a valorização do envolvimento ativo do professor e dos alunos nas ações desenvolvidas na sala de aula. Além disso, os projetos que articulem vários campos do saber são oportunidades adequadas à prática da interdisciplinaridade. Outra dimensão positiva dessa ação pedagógica é a possibilidade de escolha de projetos com temas de interesse da comunidade, que favoreçam o despertar do aluno para os problemas do contexto social e para a necessidade de ações que tornem mais justo e humano esse contexto. Deve-se dar atenção, por outro lado, à harmonização dos projetos de trabalho de sala de aula com o projeto pedagógico maior da escola. Sem essa sintonia, agrava-se a fragmentação do trabalho escolar, que tem sido apontada como um dos fatores que atuam negativamente na instituição escolar. Atenção também é necessária ao delineamento dos objetivos formadores do projeto, para que não se caia no desvio da ação pela ação. Em particular, tem sido enfatizada a importância do estabelecimento de um mapeamento dos conteúdos matemáticos, ou de outras áreas, que devem estar articulados com um projeto. Parte desse mapeamento deve ser planejada com antecedência, mas se deve cuidar de incorporar os conteúdos não-previstos que surjam durante a realização do projeto. Como exemplo de mapeamento dos conteúdos de um projeto cujo objetivo central fosse os conceitos de comprimento e área para alunos de alunos de 5ª a 8ª. Séries, se poderiam incluir e articular, entre outros, os conteúdos: a) comparação de comprimentos sem medição; b) medição de comprimentos com unidades não convencionais; c) comparação de áreas de figuras planas; d) medição de áreas com unidades não-convencionais; medição de comprimentos e áreas com unidades do sistema métrico; e) medições de 123
- 124. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco comprimentos e áreas no mundo da escola e nas práticas sociais; história dos instrumentos e sistemas de medidas de comprimento e área; fórmulas de área; f) números racionais como medidas de comprimento ou área; g) leitura de medidas de distância e de área em desenhos e plantas; h) comprimento e área nos campos da Física, da Biologia, da Geografia, etc. Tais conteúdos poderiam ser desenvolvidos como um projeto de cunho matemático ou serem inseridos como dimensão matemática de projeto voltado para problemas do contexto comunitário, como a construção de uma quadra, a reforma do prédio da escola, ou outro, de caráter mais amplo, como o transporte escolar, a divisão e a ocupação de terras, a moradia nas cidades etc. As metodologias de ensino-aprendizagem mencionadas neste documento requerem de professores e alunos o recurso permanente a variadas fontes de informação e a momentos de interação fora dos limites da sala de aula. As leituras complementares de livros, de jornais e revistas, as buscas na internet, as sessões de vídeo, as visitas e excursões, são alguns dos recursos mais conhecidos, mas professores e alunos devem exercitar a criatividade para a busca de novos desses recursos. O recurso a materiais concretos na sala de aula Matemática tem sido defendido de forma muito freqüente na literatura educacional. São numerosos os depoimentos de professores sobre alguns efeitos positivos do uso de vários materiais concretos sobre a aprendizagem dos alunos. Sem pretensão de esgotar o que se poderia incluir na categoria de materiais concretos para uso na aula Matemática, podem ser citados: modelos concretos de figuras geométricas; moldes para montagem de figuras; maquetes; dobraduras; material dourado; ábaco; barras Cuisenaire; “dinheiro de fichas”; instrumentos de desenho; instrumentos de medição; jogos matemáticos. No entanto, é preciso evitar a queixa freqüente de que os alunos têm dificuldade de aprendizagem porque “na escola não há 124
- 125. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco materiais concretos para uso em sala de aula”. De fato, além dos citados acima, outros objetos ou artefatos provenientes do mundo físico podem ser modelos concretos de conceitos ou estruturas matemáticas. Todos esses objetos ou artefatos podem, efetivamente, desempenhar papel relevante na construção do conhecimento matemático. No entanto, é preciso que se exerça permanente vigilância sobre alguns aspectos envolvidos no uso didático de materiais concretos. Deve-se evitar a ilusão de que o uso do material, por si só, exerça um papel positivo sobre a aprendizagem do aluno. Faz-se necessário uma ação prévia de análise das estruturas conceituais subjacentes ao material concreto, é preciso desvendar “a matemática do material”, para que seja eficaz o seu emprego como instrumento auxiliar da aprendizagem da Matemática. Um dos conteúdos em que são bastante empregados os materiais concretos é na representação dos números naturais no sistema hindu- arábico. Na análise desse conteúdo fundamental no Ensino Básico, em especial nos anos iniciais, devem ser levados em conta os conceitos de: a) agrupamento (base); b) princípios aditivo e multiplicativo; c) notação posicional; d) existência do zero. É preciso, por isso, que se conheçam as estruturas conceituais do material concreto, para que seu emprego seja eficaz na aprendizagem de alguns dos conceitos matemáticos acima mencionados. Por exemplo, o “dinheiro de ficha” pode contribuir para a compreensão do conceito de base, mas não está associado à notação posicional. Outro aspecto a exigir cuidados é a consideração do caráter aproximado das medidas realizadas no mundo material. As relações entre as grandezas observadas empiricamente serão sempre aproximadas. Passar dessas relações aproximadas para as exatas, no âmbito da Matemática, é um processo a ser realizado de forma gradual e planejada, para que o aluno vá progressivamente construindo as relações abstratas da Matemática. 125
- 126. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 10.6 A avaliação em Matemática Quanto à avaliação, na comunidade dos professores de Matemática, o que se percebe é um sentimento de mal-estar. Se o tema provoca certo entusiasmo nos administradores escolares, nos professores, provoca, geralmente, um sentimento de desconfiança. Pode-se dizer que a avaliação escolar parece se realizar em paralelo ao corpo docente; a interpretação dos resultados de uma avaliação, tão carregada de conseqüências, não é muito reconhecida por esse mesmo corpo. Isso parece se acentuar ainda mais quando esses resultados permitem, à administração escolar, julgar o desempenho dos professores. Esses fatos, aliados a uma concepção de aprendizagem em Matemática fragmentada, em que o conhecimento se decompõe em pequenas parcelas correspondentes a objetos de aprendizagem, acabam por transformar a avaliação em Matemática numa espécie de sistema binário, em que a aquisição do conhecimento se traduz por uma escala na qual os valores são representados por 0 ou 1; dessa forma, o valor 1 corresponderia a uma aquisição completa e definitiva, enquanto o valor 0 representaria a não- aquisição de certo objeto de conhecimento. Diferentemente de outras disciplinas, a própria natureza epistemológica do conhecimento escolar tende a refutar essa concepção, na medida em que se pode afirmar com certa segurança que uma noção matemática passível de se apresentar de forma simples, completa e definitiva, e que poderia portanto ter sua aprendizagem avaliada em um modelo binário, seria, com certeza, sem importância ou inútil. A fragmentação das noções matemáticas em pequenos objetos de conhecimento, tão presente no trabalho por objetivos, ainda ocupa grande espaço e importância em nossas salas de aula de Matemática. Se por um lado 126
- 127. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco o trabalho com objetivos parece importante, na medida em que permite clarificar e comunicar intenções pedagógicas, por outro lado, não permite resolver certos problemas essenciais da avaliação em Matemática, sendo que, em muitos casos, termina por ocultá-los. Tome-se, como exemplo, o descritor “resolver problema envolvendo perímetro de figuras planas”. Como explicar que, em média, apenas um em cada cinco alunos obtém sucesso quando os dados encontram-se no enunciado do problema, enquanto o índice triplica quando uma figura é apresentada?9 Que tipo de afirmação pode ser feita em conseqüência desses resultados? Que tipo de formulação de objetivos permitiria distinguir os dois problemas? A avaliação tem como objetivo fundamental proporcionar a tomada de decisões. Avaliar seria então a organização (ou estudo) de situações que permitam recolher informações que, após tratamento, sejam susceptíveis de revelar algo de confiável e de substancial sobre o “valor” de um objeto. Além da idéia de “valor” trazida no bojo da idéia de avaliação (pelo menos por sua etimologia), não se pode negligenciar a idéia de “incerteza”. O desaparecimento da incerteza na avaliação levaria a substituir avaliação por medida. Um dos aspectos mais iluminados pelos estudos em Educação Matemática é, sem dúvida, a impossibilidade desse desaparecimento, em que se pode perceber que o conhecimento matemático de um aluno (ou de um grupo de alunos) não pode ser medido. Por outro lado, o sistema escolar solicita do professor que ele atribua notas (ou conceitos) a seus alunos. O professor é levado então a identificar, num certo tipo de escala, o valor do conhecimento desses alunos em relação a um domínio mais ou menos definido. Ora, os professores sabem como essa escala é pessoal, freqüentemente não explicitável, variável no tempo e 9 Dados do SAEPE-2002. 127
- 128. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco de difícil relação com as múltiplas significações da ordem didática. Em resumo, essa escala pouco garante em termos de validade, de fidelidade, de sensibilidade, de precisão, etc. No entanto, continua havendo necessidade de atribuir notas, o que se traduz, para o professor, num sentimento de contradição e de mal estar. O que se faz necessário reiterar é que, nessas condições, não existe transparência e a avaliação não garante um acesso direto ao conhecimento dos alunos; uma observação a propósito de certo conhecimento de certo aluno poderia não ser mais validada se houvesse uma ligeira modificação das variáveis em jogo, como apontado anteriormente. O que importa, então, não é propriamente um comportamento observável dos alunos, mas as inferências que essas observações permitem fazer. Dessa forma, a integração das questões de avaliação no processo de ensino e de aprendizagem de Matemática obriga, de certa maneira, ao abandono da problemática da medida em prol da problemática do sentido. Por exemplo, pode ser tomado o mesmo descritor citado anteriormente, sobre a resolução de problemas envolvendo o perímetro de figuras planas. A observação dos resultados obtidos por alunos de oitava série no SAEPE-200210 mostra que, em problemas de mesma estrutura (e com mesmos valores numéricos), aqueles que apresentam no enunciado a idéia de “medida de um contorno” obtêm um índice de acertos três vezes maior que aqueles que apresentam no enunciado a solicitação do “perímetro”. O que se pode observar é que o sentido de um problema para o aluno apresenta maior influência sobre seu sucesso do que a estrutura desse problema em si mesma. Levar em consideração a idéia de sentido, na avaliação em Matemática, implica associá-la a duas outras idéias fundamentais, a idéia de “contrato” e 10 Fonte: Pernambuco. Secretaria de Educação e Cultura. Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco: SAEPE – Relatório 2002. Recife, 2003. 128
- 129. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco a idéia de “observação”. Sobre esta última, pode-se afirmar que a observação é a pedra de toque da avaliação. Antes de decidir, antes de concluir, é necessário observar. Entretanto, a observação está longe de ser uma atividade simples de ser efetivada em sala de aula; não basta olhar para observar, é necessário todo um trabalho para aprender a observar. Mas quando se fala em observar, a primeira questão que surge é, “observar o quê?”. Se o centro das atenções é a sala de aula e, mais particularmente, o funcionamento do aluno dentro desse sistema, torna-se claro que se trata de observar a produção desses alunos, mais particularmente suas respostas a questões. Cabe aqui retomar as considerações feitas anteriormente neste documento sobre a importância da resolução de problemas na aprendizagem de Matemática, que, de fato, aparece, ao mesmo tempo, como um meio e como um critério de aquisição das noções matemáticas. Embora a resolução de problemas esteja presente de maneira bastante forte nas salas de aula, seria necessário retomar as diferentes características que pode assumir um problema na sala de aula de Matemática, como já discutido neste documento, que aparecem estreitamente associadas a diferentes “tipos” de contratos didáticos. Na realidade pode-se perceber que grande parte dos problemas que aparecem nas salas de aula é composta por problemas cuja solução somente pode ser interpretada como “certa ou errada”. Ora, como já foi dito anteriormente, para observar é preciso ter “observáveis”, e, para as ter, seria preciso fugir desse sistema binário, tipo “certo ou errado”, sobre o qual se baseia a maioria dos contratos estabelecidos nas salas de aula. Em outras palavras, a verdadeira observação somente será possível a partir de uma ruptura de contrato didático. Finalmente, poderia ser dito que, mesmo quando as condições precedentes fossem satisfeitas, uma boa observação seria dependente do 129
- 130. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco conhecimento matemático em jogo na situação. Deve também ficar clara a necessidade de que esse conhecimento venha acompanhado de sentido. Não é demais repetir que uma situação sem sentido não pode levar a uma aprendizagem consistente e duradoura. 130
- 131. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 11.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática. São Paulo: Contexto, 2002. BRASIL. MEC/SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasília. MEC/SEF. Matemática: Ensino de quinta a oitava série. 1998. ______..Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília,MEC/SEF. Matemática: Ensino de primeira a quarta série. 1997. BRASIL. MEC/SEMTEC. Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias, Brasília. 2002. CAILLOIS, R. Os jogos e os homens. Trad. de José Garcez Palha. Lisboa: Edições Cotovia, 1990. CÂMARA, Marcelo.2002. Um exemplo de situação-problerma: o problema do bilhar. Revista do Professor de Matemática, São Paulo, n. 50, Sociedade Brasileira de Matemática. HERNÁNDEZ, F & VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. HUIZINGA,J. Homo Ludens - O jogo como elemento da cultura. Trad. de João Paulo Monteiro. São Paulo: Perspectiva, 1993. MEDEIROS, Kátia M. O contrato didático e a resolução de problemas matemáticos em sala de aula. Educação Matemática em Revista, São Paulo, nº11. Sociedade Brasileira de Educação Matemática. 2001. PIRES, C. M. C. Currículos de Matemática: da organização linear à idéia de rede. São Paulo: FTD. 200(?). 131
- 132. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco BASTOS, H.F.N.B. et alii. Modelização de situações- problema com o forma de exercer ações interdisciplinares em sala de aula. IN: XVI Encontro de Pesquisa Educacional do Norte/Nordeste, XVI ENEM. Universidade Federal de Sergipe. 2003. BRASIL. MEC/CNE. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CEB 04/98. 1998. BRASIL. MEC/CNE. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Parecer CEB 15/98. 1998. BRASIL. MEC/SEMTEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio, Brasília. 2002. CÂMARA, Marcelo. O professor e o tempo. Revista Tópicos Educacionais, Recife, n..1/2, vol.15, Ed. UFPE, 1997. DOLZ, J & OLLAGNIER, E. O enigma da competência em educação. Porto Alegre: Artmed, 2004. FAZENDA, I.C.A. (coord.). Práticas Interdisciplinares na escola. São Paulo: Cortez, 2001. GÉRARD, François-Marie & ROEGIERS, Xavier. Conceber a avaliar manuais escolares. Porto: Porto Editora (Ciências da Educação, 30), 1998. MARTINS, Paulo Henrique. 2004. Ética, cidadania e educação. Recife, Conferência proferida em 29 de junho de 2004. Mimeo. ________. Cultura, identidade e vínculo social. In: Prefeitura do Recife, Secretaria de Educação (org.), Tempos de aprendizagem, identidade cidadã e organização escolar em ciclo, Recife, PCR/SE, pp. 17-46, 2003. 132
- 133. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco PIRES, C. M. C. Currículos de Matemática: da organização linear à idéia de rede. São Paulo: FTD, 2000. SANTOMÉ, J.T. Globalização e interdisciplinaridade. Porto Alegre: Artmed, 1998. VEIGA, I.P.A. (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus. 2004. ZABALA, A. Enfoque globalizador e pensamento complexo. Porto Alegre: Artmed, 2002. 133