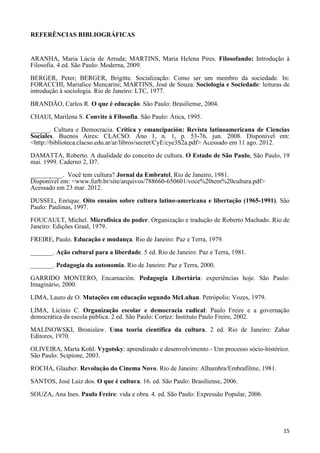O uso do conceito de cultura como exercício de poder - Bruno Carrasco
- 1. 1 O USO DO CONCEITO DE CULTURA COMO EXERCÍCIO DE PODER Bruno Barbedo Carrasco Resumo O artigo propõe uma reflexão sobre o uso do conceito de cultura como manutenção de certos costumes e hábitos e inferiorização de outros, diferenciando o que é ou não verdadeiro, o que é bom e o que é mau, o que deve ou não ser valorizado. Após a reflexão teórica pretende-se possibilitar a conscientização o valor das diferentes expressões culturais, reconhecendo que não há formas culturais melhores ou piores, mas diferentes. Deste modo, espera-se que o educador paute sua prática com respeito às diferenças culturais e aos diferentes modos de ser humano, sem inferiorizar ou submeter. Palavras-chave: cultura, poder, conscientização, educação. Introdução O ato de refletir nos possibilita pensar novamente sobre um assunto ou conceito. No caso da cultura, fomos ensinados desde muito cedo uma série de valores, comportamentos, modos de ser e agir, que reproduzimos muitas vezes sem perceber o que com eles carregamos. Defendemos um ponto de vista, assumimos partido, agimos a favor ou contra algo, sem muito questionar o motivo. A cultura na qual estamos inseridos nos ensinou valores e regras de como devemos agir no processo de socialização, Quase todas as facetas do mundo da criança estão ligadas a outros seres humanos. Sua experiência relativa aos outros indivíduos constitui o ponto crucial de toda experiência. São os outros que criam os padrões por meio dos quais se realizam as experiências. É só através desses padrões que o organismo consegue estabelecer relações estáveis com o mundo exterior – e não apenas com o mundo social, mas também com o da ambiência física. E esses mesmos padrões penetram no organismo; em outras palavras, interferem em seu funcionamento (BERGER; BERGER, 1977, p. 201). Os valores que aprendemos culturalmente orientam nossas concepções de mundo e nossa orientação sobre o que acreditamos.
- 2. 2 [...] Os problemas apresentados pelas necessidades nutritivas, reprodutivas e higiênicas do homem devem ser resolvidos. Eles são solucionados pela construção de um novo ambiente, secundário ou artificial. Esse ambiente, que não é mais nem menos do que a cultura propriamente dita, tem de ser permanentemente reproduzido, mantido e administrado. Isto cria o que podia ser descrito, no sentido mais amplo da expressão, como um novo padrão de vida, que depende do nível cultural da comunidade, do ambiente e da eficiência do grupo (MALINOWSKI, 1970, p. 43). Aprendemos tanto as condutas como também os significados das palavras e dos conceitos. O conceito de cultura sofreu uma alteração histórica, e muitas vezes foi utilizado de maneira discriminatória e excludente. Os ditos letrados e conhecedores da cultura erudita europeia se deram ao luxo de colocar seus valores e crenças num pedestal superior a outras formas culturais, usando suas referências como superiores e desmerecendo expressões culturais que não seguissem seus padrões. Partindo dessa reflexão, propõem-se a possibilidade de práticas educativas que não sejam culturalmente discriminatórias. O trabalho se inicia com a conceituação de cultura, o desenvolvimento histórico de sua concepção, até chegar à compreensão da antropologia contemporânea, como um conceito amplo e relativo, que “(...) tem insistido em compreender o distante e respeitar o diferente” (DAMATTA, 1999). Depois são pontuadas as relações de poder estabelecidas por meio do conceito de cultura e, por fim, há uma reflexão relacionada à prática educativa. Conceituação de cultura Ao perceber a diferença entre o comportamento dos animais instintivo e a possibilidade aquisição da linguagem e o uso da inteligência dos seres humanos, compreende-se que os seres humanos se criam e se modificam por meio da cultura. A cultura é um processo humano, e é por meio dela que aprendemos a valorizar certas coisas e desvalorizar outras. Quando estudamos cultura, reconhecemos o ser humano enquanto produtor e transformador da natureza, enquanto membro de uma sociedade e de um sistema de valores, um ser que inventa símbolos e sentidos de vida. O mundo cultural é um sistema de significados já estabelecidos por outros, de modo que, ao nascer a criança encontra-se diante de valores já dados. A língua que aprende, a maneira de se alimentar, o jeito de se sentar, andar, correr, brincar, o tom da voz nas conversas, as relações familiares, tudo, enfim, se acha codificado. Até na emoção que nos parece uma manifestação tão espontânea, ficamos à mercê de regras que educam a nossa expressão desde a infância (ARANHA; MARTINS, 2009, p. 49).
- 3. 3 A palavra cultura é de origem latina, e vem do verbo colere, que significa cultivar. Olhar para a cultura envolve estudar os processos simbólicos do que cada coisa significa e quais sentimentos remetem, “volta-se para as maneiras pelas quais a realidade que se conhece é codificada por uma sociedade, através de palavras, ideias, doutrinas, teorias, práticas costumeiras e rituais” (SANTOS, 2006, p. 41), buscando compreender o sentido das práticas e dos símbolos para cada grupo de seres humanos. De acordo com Dussel (1997, p. 28), a cultura é uma das dimensões de nossa existência intersubjetiva e histórica, fazendo parte de um complexo de elementos que constituem nosso mundo. Para o autor, "o homem rodeou-se desde a sua origem de um mundo de „instrumentos‟ com os quais conviveu e, tendo-os à mão, tornou-os o contexto de seu ser-no-mundo". O autor continua descrevendo que [...] todo grupo social adota uma maneira de manipular os instrumentos, um modo de situar-se diante da sua utilidade. Entre a pura objetividade da civilização e a pura subjetividade da liberdade há um plano intermediário, os modos, as atitudes fundamentais, existenciais, que cada pessoa ou povo foi constituindo (DUSSEL, 1997, p. 30). A cultura é fruto da criação de uma ordem simbólica, que pode ser encarada como uma lei universal, “[...] um imperativo social que organiza toda a vida dos indivíduos e da comunidade, determinando o modo como são criados os costumes, como são transmitidos de geração a geração, como fundam as instituições sociais” (CHAUÍ, 1995, p. 294). Sob a dimensão do conhecimento, a cultura está ligada a noção que a sociedade tem sobre si mesma, sobre outras sociedades e sobre o meio material em que vive, incluindo também os modos como é expressa, seja pela arte, religião, esporte, tecnologia, ciência, política, etc. A compreensão desses elementos serve não somente para descrever a realidade, mas principalmente para reconhecer suas contradições e problemáticas, possibilitando apontar caminhos para mudanças. É importante frisar que o fato de se aprender as regras sociais de um grupo cultural não faz com que cada pessoa perca sua individualidade, “(...) ao mesmo tempo que nos reconhecemos como seres sociais, também somos pessoas, temos uma individualidade que nos distingue dos demais” (ARANHA; MARTINS, 2009, p.50). Outra questão importante a é que a cultura trata-se de um processo, portanto sempre em mutação e movimento, sendo criada e recriada pelos seres humanos, e diferenciando-se entre os diferentes agrupamentos de pessoas, espaços físicos e localizações. Sendo uma característica humana a capacidade de produzir sua própria história e se tornar sujeito de seus atos.
- 4. 4 Visão histórica do conceito de cultura Sob o ponto de vista da antropologia atual, percebe-se que cada cultura tem seus próprios critérios de avaliação, não sendo justo subjugar uma cultura aos critérios da outra ou estabelecer algum tipo de hierarquização. No entanto, foi historicamente construída uma ideia de cultura como medida do que é ou não civilizado, dividindo e estabelecendo uma desigualdade entre “superiores” e “inferiores”. No século XVIII, com a filosofia do Iluminismo, a palavra cultura ressurge como sinônimo de civilização. Se torna o padrão ou o critério que mede o grau de civilização de uma sociedade, sendo encarada como um conjunto de práticas (artes, ciências, técnicas, filosofia, os ofícios) hierarquizadas segundo um critério de evolução, tornando-se sinônimo de progresso (CHAUÍ, 2008, p. 55). A visão positivista da ciência ocidental tentou hierarquizar as culturas humanas - tanto as existentes quanto as extintas - sob o ponto de vista do desenvolvimento de cada uma, partindo do ideal da civilização europeia da época. Esse modo de pensar ocorreu por conta da dominação política e econômica, pela imposição das concepções culturais europeias aos outros povos, como forma de domínio e controle, uma cultura era apresentada como superior às outras. Como descreve Santos (2006, p. 30), “as potências europeias encontravam-se em marcado processo de expansão, incorporando nações e territórios em outros continentes e submetendo suas populações a seu mando político e controle militar”. O conceito de cultura na Europa do século XIX está associado à ideia de progresso, tendo utilizado o padrão deles para medir o grau de evolução cultural de um povo, diferenciando hierarquicamente os modos culturais dos diferentes grupos por uma ideia de parâmetro único, sendo assim, [...] as sociedades passaram a ser avaliadas segundo a presença ou a ausência de alguns elementos e a ausência desses elementos foi considerada sinal de falta de cultura ou de uma cultura pouco evoluída. Todas as sociedades que desenvolvessem formas de troca, comunicação e poder diferentes do mercado, da escrita e do Estado europeu, foram definidas como culturas primitivas (CHAUÍ, 2008, p. 56). Com a intensificação do poderio industrial das nações europeias frente aos povos do mundo, aumentaram-se os contatos entre os povos europeus industrializados procurando por novos mercados, "sociedades antes isoladas foram subjugadas e incorporadas ao âmbito de influência europeia” (SANTOS, 2006, p. 28). Para que se tenha a ideia do primitivo, é necessário que se determine o que é o evoluído, o que implica num juízo de valor incorporado em formas culturais expressas em modos de ser de um grupo específico, posicionados como portadores da verdade, justificando sua posição de
- 5. 5 superioridade e seu papel de colonizador sobre outros grupos culturais, como por exemplo a cultura europeia capitalista, que [...] não apenas se coloca como o fim necessário do desenvolvimento de toda cultura ou de toda civilização, mas sobretudo se oferece como modelo necessário do desenvolvimento histórico, legitimando e justificando a colonização e o imperialismo (CHAUÍ, 2008, p. 56). Considerando as circunstâncias históricas, foram estabelecidas relações hierárquicas de poder entre diferentes culturas, “pode-se falar em cultura dominada e cultura dominante, cultura opressora e cultura oprimida, cultura de elite e cultura popular” (CHAUÍ, 2008, p. 58), numa diferenciação entre o que foi tido como cultura, no sentido de letrado e erudito, e o que não é. Essa classificação instituiu uma diferenciação não somente dos modos de ser e agir, mas do posicionamento político entre superiores e inferiores. Essa reflexão torna-se importante nas Américas, por conta de nosso histórico de colonizados, na necessidade de se reconhecer entre os processos pelos quais a ideia de cultura se instituiu e legitimou como correto o uso de poder, e como nos relacionamos, perdemos ou reconfiguramos nossa identidade enquanto povo, em meio a essas transformações históricas. Conceito amplo de cultura A diversidade cultural é um fator importante a ser considerado para a compreensão da realidade em que vivemos, visto que possuímos diferentes maneiras de atuar na sociedade. A cultura, como um processo humano, está sempre em movimento e mutação - quando nos questionamos sobre as diferentes formas culturais, estamos questionando sobre nós mesmos e nossa existência como seres resultantes de processos culturais, autores e também sujeitos dos grupos na qual estamos inseridos. Temos a possibilidade de atuar sobre a realidade objetiva por diversas formas de linguagem. No processo de transformar o mundo, nos transformamos também. Enquanto seres humanos, somos sujeitos permeados pela história e cultura, Cada criança, jovem ou adulto (a) – mulheres e homens – todo ser humano tem uma caminhada histórica; é sujeito de historicidade, fazendo parte de uma história social mais ampla. Possuem diferentes formas de ver o mundo e enfrentar as situações: são seres culturais com práticas de significação do mundo e de si próprios (as) e dos outros (outras) as mais diversas (SOUZA, 2006, p. 237). A compreensão da cultura como um processo humano que difere entre os diferentes agrupamentos de pessoas, possibilita a desnaturalização da ideia de ser humano, ou seja, permite-
- 6. 6 nos compreender que os modos de ser de cada indivíduo não são naturais, mas se desenvolvem na relação com outros indivíduos, por meio de diferentes maneiras e expressões. Para se reconhecer essas diferentes formas culturais, é necessário um olhar aberto, pois [...] cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual devemos procurar conhecer para que façam sentido as suas práticas, costumes, concepções e as transformações pelas quais estas passam. É preciso relacionar a variedade de procedimentos culturais com os contextos em que são produzidos (SANTOS, 2006, p.8). As diferenças culturais co-existem numa mesma sociedade em diferentes classes sociais, agrupamentos de pessoas, localização de grupos, diferenças de idades, práticas religiosas, gostos e interesses, entre outras. Os caminhos de cada agrupamento humano são marcados pelas maneiras de organizar e transformar a vida, na tentativa da seuperação de conflitos de interesse e tensões da vida social. “Cada cultura é o resultado de uma história particular, e isso inclui também suas relações com outras culturas, as quais podem ter características bem diferentes" (SANTOS, 2006, p. 12). O estudo e avaliação das diferentes formas culturais variam de acordo com a cultura que se está inserido e pela qual se efetua a observação e interpretação. É preciso ter bem compreendido que os critérios usados para se classificar uma cultura são também culturais, na avaliação de culturas tudo é relativo. O antropólogo Roberto Damatta (1981) descreve o conceito cultura em seu sentido amplo, como um conjunto de regras que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado, [...] ''cultura" não é simplesmente um referente que marca uma hierarquia de "civilização" mas a maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou pessoa. Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas (DAMATTA, 1981). Para Dussel (1997, p. 35), "nenhum grupo humano pode deixar de ter cultura, e nunca pode possuir uma que não seja a sua". Segundo Santos (2006, p. 35), “considera-se como cultura todas as maneiras de existência humana”. A cultura não é um sistema estático no qual o sujeito se submete, mas um movimento onde, em processo, está constantemente em recriação e reinterpretação de conceitos e significados. A vida social é “(...) um processo dinâmico, onde cada sujeito é ativo e onde acontece a interação entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um” (OLIVEIRA, 2003, p. 38). Para se estudar uma cultura é preciso que se compreenda o valor que ela tem para o grupo onde se está inserido, e não apenas olhar de fora, distante. Lendas ou crenças, festas ou jogos, costumes ou tradições - esses fenômenos não dizem nada por si mesmos, eles apenas dizem algo enquanto parte de uma cultura, a qual não pode ser entendida sem referência à realidade social que faz parte, à história de sua sociedade (SANTOS, 2006, p. 47).
- 7. 7 A grande descoberta antropológica recente é que todo mundo tem cultura. No caso do Brasil, “nossa cultura, quando comparada desavisadamente à ideia de cultura como civilização que chegava de fora, era inevitavelmente denegrida e situada como doente, atrasada e inferior” (DAMATTA, 1999). Para a compreensão dos processos culturais, “devemos ler a nossa cultura culturalmente, sem reduzi-la a alguns traços tomados como negativos porque eram comparados com a tal cultura que se tomava como superior ou como mais avançada“ (DAMATTA, 1999). Desta maneira, reconhecemos que não temos apenas um modo de conceber a realidade e de lidar nas relações, os conceitos de verdadeiro e falso não são únicos, Em sentido antropológico, não falamos em Cultura, no singular, mas em culturas, no plural, pois a lei, os valores, as crenças, as práticas e instituições variam de formação social para formação social. Além disso, uma mesma sociedade, por ser temporal e histórica, passa por transformações culturais amplas e, sob esse aspecto, antropologia e História se completam, ainda que os ritmos temporais das várias sociedades não sejam os mesmos, algumas mudando mais lentamente outras mais rapidamente (CHAUÍ, 1995, p. 295). A diversidade cultural representa a variedade e diversidade das maneiras de ser no mundo, inclusive as diferentes possibilidades de organização social, formas de agir, sentir e pensar, de como lidar com a natureza e até como transmitir ou não estes valores a seus semelhantes. Seu estudo deve proporcionar uma compreensão mais ampla e possibilitar a diminuição da discriminação, no reconhecimento do diferente como um ser cultural e de valores tal qual somos. “A cultura permite traduzir melhor a diferença entre nós e os outros e, assim fazendo, resgatar a nossa humanidade no outro e a do outro em nós mesmos” (DAMATTA, 1981). Relações de poder na cultura A relação de poder é a ação de exercer a autoridade, influência ou força sobre os outros. Se expressa nas relações humanas, de modo que o poder sempre está presente em diferentes graus e que nem sempre essas relações estão claras a primeira vista. Neste sentido, trataremos de encarar poder como uma relação onde um exerce a direção de conduta ao outro. O importante a se questionar nas relações de poder são seus mecanismos, seus efeitos e os diferentes níveis em que são exercidas. Seus efeitos não são apropriações, mas processos que se acionam estrategicamente, nem sempre são percebidos como repressivos. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade, isto é, os tipos de discurso que aceita e faz funcionar como verdadeiros..., os meios pelo qual cada um deles é sancionado, as técnicas e procedimentos valorizados na
- 8. 8 aquisição da verdade; o status daqueles que estão encarregados de dizer o que conta como verdadeiro (FOUCAULT, 1979, p.12). As relações de poder geram uma distinção entre superiores e inferiores, entre os que se supõem superiores sobre os que são tidos por primitivos, sendo inferiorizados e submetidos. O exercício de poder se concretiza na relação. Uma das concepções de cultura toma o conhecimento erudito como correto e único, tratando outras expressões culturais como inferiores e atrasadas. Esse modo de pensar é também expresso na ciência, "(...) ao longo da história a cultura dominante desenvolveu um universo de legitimidade própria, expresso pela filosofia, pela ciência e pelo saber produzido e controlado nas instituições da sociedade" (SANTOS, 2006, p. 54). O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. (FOUCAULT, 1979, p.8) A cultura, sob o ponto de vista de refinamento intelectual, faz espalhar a crença de que uma pessoa que escute música clássica ou saiba apreciar vinhos seja vista como tendo mais cultura que outra pessoa que não entende dessas coisas. Essa ideia de cultura “(...) assume o exclusivo e o dominante quando afirma que, de um lado, há um grupo seleto de nações civilizadas, povos que descobriram as leis da história e, por meio delas, um modo de vida racional e natural, que formam o centro do sistema e o resto” (DAMATTA, 1999). O problema é que sempre que nos aproximamos de alguma forma de comportamento e de pensamento diferente, tendemos a classificar a diferença hierarquicamente, que é uma: forma de exclui-la. Um outro modo de perceber e enfrentar a diferença cultural é tomar a diferença como um desvio, deixando de buscar seu papel numa totalidade (DAMATTA, 1981). Para Freire (1981, p. 57), nas relações entre o chamado primeiro mundo e o terceiro mundo, há o mundo que fala, que impõe, que invade, em contrapartida com um mundo que escuta, segue ou se rebela, se liberta. As classes e grupos dominados do Primeiro Mundo participam de uma totalidade dominante, enquanto as classes e grupos dominados do Terceiro fazem parte de uma totalidade dependente. Daí que um dos mitos da cultura dominante do Primeiro Mundo (...) o mito de sua "superioridade natural", penetre a cultura do silêncio deste mundo, o que explica o sentimento de superioridade que muitos dominados do Primeiro Mundo têm em face dos dominados do Terceiro Mundo (FREIRE, 1981, p. 57). O conceito de cultura presente no imaginário e nas relações é representado por uma série de valores a serem seguidos por grupos sociais, que se chocam e se posicionam como superiores ou inferiores a outros. A cultura dita erudita supõe ter a propriedade do que é correto, excluindo diferentes modos culturais, tidos por ela como inferiores.
- 9. 9 É indiscutível o papel e a importância da compreensão dos processos culturais na libertação de classes oprimidas, porém ainda é muito difícil que os grupos inferiorizados se percebam como parte de um processo histórico e com direitos que lhes permitam se posicionar perante os que acreditam ser superiores - a cultura dominada acaba muitas vezes por aceitar a condição de inferiorizado transmitida pelos grupos que exercem o poder. “Uma das formas de consciência dominada (...) se caracteriza por sua quase 'aderência' à realidade objetiva ou sua quase 'imersão' na realidade” (FREIRE, 1981, 59 p.). A América Latina permanece colônia e o que diferencia o colonialismo de ontem do atual é apenas a forma mais aprimorada do colonizador: e além dos colonizadores de fato, as formas sutis daqueles que também sobre nós armam futuros botes (ROCHA, 1981, p. 29). Por conseqüência deste choque de relações desiguais, na cultura brasileira há contrastes entre as culturas ditas populares e as ditas elitizadas, [...] o carnaval e os cultos afro-brasileiros desenvolveram-se a partir de tradições das populações trabalhadoras, com marcas muito fortes das origens africanas dessas populações (...), os sistemas escolar, hospitalar e jurídico, estes de origem européia, tanto em sua organização interna quanto em suas concepções, introduzidos pelas elites. (SANTOS, 2006, p. 60). Herdamos relações de poder historicamente constituídas e fomos ensinados a consumir e a reproduzir cultura sem perceber que também podemos criar, mantemos uma relação passiva e inferiorizante, reproduzindo valores que nos trouxeram como únicos e corretos. Na chegada dos portugueses ao Brasil, os índios eram tidos como selvagens e inferiores, tinham de ser “domesticados” para aprender o que é cultura, partindo do referencial cultural dos colonizadores. As relações desiguais de apropriação e uso das manifestações culturais configuram uma realidade desigual. As lutas pela universalização do direito ao acesso à cultura e a possibilidade de se produzir e veicular cultura são lutas contra as relações de dominação entre grupos de pessoas sobre outros, para a transformação da realidade tal qual estamos inseridos, para uma relação mais justa e menos discriminadora. Repensando a relação cultural na prática educativa Perante as reflexões destacadas, constata-se a importância em repensar o conceito de cultura, como afetamos e somos afetados pelo sentido adotado nas relações entre as pessoas com as quais convivemos. Devemos perceber as diferenças, muitas vezes sutis, entre os ideais universalistas de cultura e as expressões culturais locais, para não repetir o que já muito fizemos, “copiar a França,
- 10. 10 sem ter franceses; imitar a Inglaterra e os Estados Unidos sem, contudo, ter como valor cultural a igualdade e o individualismo” (DAMATTA, 1999). As diferentes maneiras nos modos de ser e se colocar perante o mundo fazem sentido para os agrupamentos humanos que os vivenciam, alinhados com as condições materiais da existência. O estudo da cultura permite uma compreensão mais consciente de mundo e de nós mesmos, contribuindo no combate aos preconceitos e possibilitando o entendimento das diferenças para o respeito e dignidade nas relações humanas [...] precisamente porque diz que não há homens sem cultura e permite comparar culturas e configurações culturais como entidades iguais, deixando de estabelecer hierarquias em que inevitavelmente existiriam sociedades superiores e inferiores. (DAMATTA, 1981). Como construtora de existência, a educação interfere diretamente no tipo de sociedade que temos, de modo que [...] quando são necessários guerreiros ou burocratas, a educação é um dos meios de que os homens lançam mão para criar guerreiros ou burocratas. Ela ajuda a pensar tipos de homens. Mais do que isso, ela ajuda a criá-los, através de passar de uns para os outros o saber que os constitui e legitima. Mais ainda, a educação participa do processo de produção de crenças e idéias, de qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em conjunto constroem tipos de sociedades. (BRANDÃO, 2004, p. 11). Como necessidade de superar as condições de uso de poder e discriminação por meio das relações culturais, podemos pensar como possibilidade a valorização e o respeito à diversidade, reconhecendo os valores de cada um dos educandos e assumindo a identidade cultural na prática educativa. Uma ação educativa crítica reflete uma intervenção no mundo e o reconhecimento da condição cultural. Porém, essa reflexão não pode permanecer somente no campo teórico, mas, principalmente, deve se tornar prática, visto que todos somos produtores e produto da cultura. Eis a importância e a necessidade de assumir a proporção cultural dentro do espaço social. Rocha (1981) propõe uma superação da alienação e das contradições do intelectual no mundo subdesenvolvido, por meio do exame crítico de uma produção reflexiva sobre dois temas que ele descreve como justapostos: o subdesenvolvimento e sua cultura primitiva, o desenvolvimento e a influência colonial de uma cultura sobre o mundo subdesenvolvido. "Demonstrará a realidade subdesenvolvida, dominada pelo Complexo de impotência intelectual, pela admiração inconsciente de cultura colonial, a sua própria possibilidade de superar, pela prática revolucionária, a esterilidade criativa" (ROCHA, 1981, p. 67). Deste violento processo dialético de informação, análise e negação, surgirão duas formas concretas de uma cultura revolucionária: a didática/épica, a épica/didática. A didática e a épica devem funcionar simultaneamente no processo revolucionário. A didática será científica. A épica será uma prática poética, que terá de ser
- 11. 11 revolucionária do ponto de vista estético para que projete revolucionariamente seu objetivo ético (ROCHA, 1981, p. 67). De acordo com Brandão (2004, p. 10), “a educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade”. O autor também frisa o caráter ideológico da educação, pois esta “(...) não continua apenas o trabalho da vida, ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas: de símbolos, de intenções, de padrões de cultura e de relações de poder” (BRANDÃO, 2004, p. 14). Num país como o nosso, onde as formas hierarquizantes de classificação cultural sempre foram dominantes, onde a elite sempre esteve disposta a auto-flagelar-se dizendo que não temos uma cultura, nada mais saudável do que esse exercício antropológico de descobrir que a fórmula negativa - esse dizer que não temos cultura é, paradoxalmente, um modo de agir cultural que deve ser visto, pesado e talvez substituído por uma fórmula mais confiante no nosso futuro e nas nossas potencialidades (DAMATTA, 1981). Pautada em Paulo Freire, Souza (2006) descreve a educação como uma prática histórica, política e eticamente constituída, é produtora da existência humana – portanto, deve permanecer vigilante e possibilitar a indignação diante das desumanidades e malvadezas. Para Freire (1981, p. 53), o ponto de partida para uma análise da conscientização, “deve ser uma compreensão dos seres humanos como existentes no mundo e com o mundo”, e a condição básica para a conscientização é que seu agente seja um sujeito consciente, e, como sujeitos conscientes, mulheres e homens não estão apenas no mundo, mas com o mundo. Somente após captar a realidade e expressá-la por meio de sua linguagem criadora, é que se pode realizar uma operação complexa de transformação do mundo através de sua ação. A percepção crítica da realidade vivenciada é essencial para a possibilidade de mudança, pois “enquanto o ser que simplesmente vive não é capaz de refletir sobre si mesmo e saber-se vivendo no mundo, o sujeito existente reflete sobre sua vida, no domínio mesmo da existência e se pergunta em torno de suas relações com o mundo” (FREIRE, 1981, p. 53). Como já visto em Rocha (1981) e Freire (1981), o primeiro passo é a conscientização das condições em que estamos inseridos, reconhecendo criticamente como foi constituída e como tem sido mantida e reproduzida a postura inferiorizante, que se apresenta numa reação passiva diante da postura superior, causando a perda da identidade regional. Estamos presentes no mundo, portanto, somos sujeitos históricos, de decisão e ruptura. Precisamos compreender a educação em sua politicidade e historicidade, reconhecendo que o outro pode possuir diferentes crenças, valores, modos de ser, agir, pensar e sentir no mundo, e que essas suas crenças e valores devem ser respeitados. O respeito aos seres humanos depende do respeito à diversidade cultural, sendo necessário compreender as diferentes formas culturais e que o poder que algumas exercem sobre outras não é
- 12. 12 uma marca histórica de dominação, “(...) não há superioridade ou inferioridade de culturas ou traços culturais de modo absoluto, não há nenhuma lei natural que diga que as características de uma cultura a façam superior a outras” (SANTOS, 2006, p. 16). Posicionar-se dentro do espaço educativo está no sentido de se reconhecer e se assumir tal qual é. A assunção social e histórica na prática educativa é descrita por Paulo Freire, [...] uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir- se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos (FREIRE, 2000, p. 46). Dussel (1997, p. 36) também reforça a importância de reconhecer e assumir sua identidade, visto que "um povo que consegue expressar a si mesmo, que atinge a autoconsciência, a consciência de suas estruturas culturais, de seus valores últimos, pelo cultivo e evolução de sua tradição, possui identidade consigo mesmo". Para assegurar a diversidade cultural, precisamos de uma relação educativa que se paute no respeito à autonomia e à liberdade de cada educando, O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, (...) transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência (FREIRE, 2000, p. 66). Reconhecer os educandos como sujeitos históricos e culturais, e respeitá-los em sua integridade de seres humanos. “A professora generosa e o professor generoso reconhecem seus alunos e suas alunas como sujeitos históricos e culturais que trazem para suas escolas seus mundos, vividos intersubjetivamente” (SOUZA, 2006, p. 254). A prática educativa deve permitir ao educando que experimente os problemas da vida e exercite sua criatividade para buscar soluções, no entanto, “a escola tem representado até aqui um ‟complot‟ contra a livre pesquisa intelectual, fornecendo fórmulas já acabadas que robotizam a solução dos problemas” (LIMA, 1979, p. 13). Todas essas reflexões teóricas não têm outra finalidade que não seja a de que se possa mudar a realidade na qual estamos inseridos, trata-se de perceber para modificar. "O modo como se pensa a cultura de uma sociedade está sempre ligado a outras preocupações e às maneiras como se julga poder agir sobre ela" (SANTOS, 2006, p. 64). Para que se possa realizar uma ética da libertação, segundo Paulo Freire, a prática educativa deve ser exercida na dialogicidade, “reafirmando o direito do povo ter vez e voz, ter direito a ter direitos, possibilitando a compreensão de que ensinar não é transferir conhecimentos, não é extensão, mas, essencialmente, um processo de comunicação emancipadora” (SOUZA, 2006, p.
- 13. 13 227). Saber escutar é estar aberto ao diálogo como condição para a prática da liberdade, dando voz aos educandos – a escuta torna viva a presença e o direito de voz. A prática educativa deve promover a autonomia, dando possibilidades para sua construção a partir da consciência crítica, num processo de criação e recriação. Enquanto seres humanos e históricos, temos a capacidade de intervir no mundo, como seres para a construção e reconstrução deste. Reconhecendo a história de vida e os valores de cada ser humano, “não podemos pensar em desenvolver um processo de pesquisa com nossos educandos e educandas, se não reconhecermos os seus saberes anteriormente feitos, as suas histórias de vida, suas trajetórias” (SOUZA, 2006, p. 231). Após as reflexões explicitadas, "podemos reter da comparação entre culturas e realidades culturais diversas, a compreensão de que suas características não são absolutas, não respondem a exigências naturais, mas são históricas e estão sujeitas a transformação" (SANTOS, 2006, p. 84). Neste sentido, acredito na pedagogia libertária como caminho metodológico para o respeito às diferenças culturais, pois “igualdade é igualdade e deve ser baseada no conhecimento das diferenças, para que se possam superar a cada passo as desigualdades estabelecidas” (GARRIDO MONTERO, 2001). Considerações Visto as reflexões colocadas, percebe-se a necessidade de se possibilitar uma prática educativa que respeite a diversidade cultural e a identidade de cada educando. Precisamos, realmente, repensar e experimentar propostas práticas e alternativas diferenciadas. “Uma proposta de pedagogia democrática, de educação para e pela democracia, através de práticas dialógicas e anti-autoritárias e do exercício da participação, contra a passividade e para a decisão” (LIMA, 2002, p. 32). É, portanto, necessário um espaço de fala para que o educando possa trazer seus conhecimentos, transmitir sua mensagem com seus valores e sua linguagem, afirmando sua identidade que não é a mesma do educador. Além disso, o educador deve reconhecer seu papel político na formação de seres humanos, não somente por meio da transmissão, mas no diálogo entre diferentes culturas, ampliando a percepção dos educandos para diferentes formas de compreensão do mundo, sem negá-los. Neste sentido, desfazemos as idéias de hierarquia ou autoridade, numa relação respeitosa e amigável, “[...] não podemos nos colocar na posição do superior que ensina um grupo de ignorantes,
- 14. 14 mas sim na posição humilde daquele que comunica um saber relativo a outros que possuem outro saber relativo” (FREIRE, 1979, p. 29). A prática educativa não deve ser um processo de adaptar ou ajustar o indivíduo a uma configuração social, nenhum educando deve ser objeto de uma forma de pensar do educador. A relação educativa não deve deixar reconhecer as diferenças entre os indivíduos, permitindo que ocorram os conflitos. Visto que homens e mulheres possuem diferenças históricas, sociais, culturais e pessoais, é consequente que haja diferentes maneiras de interpretar a realidade e conceber as relações entre pessoas e objetos. O respeito na prática educativa não é algo que se estabelece por meio de imposição ou regra, mas uma construção na relação entre o educador e os educandos. É na prática respeitosa que adquirimos respeito. Se o que queremos é uma sociedade mais justa, em que todos possam ter direitos, acredito que temos de reconhecer as condições em que estamos, para trabalhar diretamente com a realidade. Abstract This article proposes a reflection about the use of the culture concept, maintaining customs and habits and underestimating others, explaning the true and untrue, good or bad, and who needs to be valued or not. The erudite culture assumes ownership of what is right, denying other cultural modes, taken by her as inferior. After the theoretical reflection is intended to provide awareness of the recognition of different cultural expressions as valid for every human. Thus, it is expected that the educator practice with respect about cultural differences and different ways of being human. Keywords: culture, power, awareness, education.
- 15. 15 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2009. BERGER, Peter; BERGER, Brigitte. Socialização: Como ser um membro da sociedade. In: FORACCHI, Marialice Mencarini; MARTINS, José de Souza. Sociologia e Sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1977. BRANDÃO, Carlos R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2004. CHAUI, Marilena S. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. ______. Cultura e Democracia. Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias Sociales. Buenos Aires: CLACSO. Ano 1, n. 1, p. 53-76, jun. 2008. Disponível em: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/CyE/cye3S2a.pdf> Acessado em 11 ago. 2012. DAMATTA, Roberto. A dualidade do conceito de cultura. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 mai. 1999. Caderno 2, D7. __________. Você tem cultura? Jornal da Embratel, Rio de Janeiro, 1981. Disponível em: <www.furb.br/site/arquivos/788660-650601/voce%20tem%20cultura.pdf> Acessado em 23 mar. 2012. DUSSEL, Enrique. Oito ensaios sobre cultura latino-americana e libertação (1965-1991). São Paulo: Paulinas, 1997. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. _______. Ação cultural para a liberdade. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. _______. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. GARRIDO MONTERO, Encarnación. Pedagogia Libertária: experiências hoje. São Paulo: Imaginário, 2000. LIMA, Lauro de O. Mutações em educação segundo McLuhan. Petrópolis: Vozes, 1979. LIMA, Licínio C. Organização escolar e democracia radical: Paulo Freire e a governação democrática da escola pública. 2 ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2002. MALINOWSKI, Bronislaw. Uma teoria científica da cultura. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1970. OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento - Um processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 2003. ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. Rio de Janeiro: Alhambra/Embrafilme, 1981. SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. 16. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. SOUZA, Ana Ines. Paulo Freire: vida e obra. 4. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006.
- 16. 16 O USO DO CONCEITO DE CULTURA COMO EXERCÍCIO DE PODER Bruno Barbedo Carrasco Artigo apresentado como conclusão de curso de Pós-graduação em Ensino de Filosofia, na Faculdade Católica de Pouso Alegre. Orientado pela Profa.: Suzana Costa Coutinho. Contato: www.brunocarrasco.com brunobceducador@gmail.com Pouso Alegre, MG, 2012.

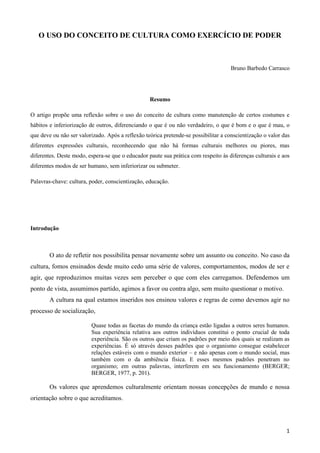
![2
[...] Os problemas apresentados pelas necessidades nutritivas, reprodutivas e
higiênicas do homem devem ser resolvidos. Eles são solucionados pela construção
de um novo ambiente, secundário ou artificial. Esse ambiente, que não é mais nem
menos do que a cultura propriamente dita, tem de ser permanentemente
reproduzido, mantido e administrado. Isto cria o que podia ser descrito, no sentido
mais amplo da expressão, como um novo padrão de vida, que depende do nível
cultural da comunidade, do ambiente e da eficiência do grupo (MALINOWSKI,
1970, p. 43).
Aprendemos tanto as condutas como também os significados das palavras e dos conceitos. O
conceito de cultura sofreu uma alteração histórica, e muitas vezes foi utilizado de maneira
discriminatória e excludente. Os ditos letrados e conhecedores da cultura erudita europeia se deram
ao luxo de colocar seus valores e crenças num pedestal superior a outras formas culturais, usando
suas referências como superiores e desmerecendo expressões culturais que não seguissem seus
padrões.
Partindo dessa reflexão, propõem-se a possibilidade de práticas educativas que não sejam
culturalmente discriminatórias. O trabalho se inicia com a conceituação de cultura, o
desenvolvimento histórico de sua concepção, até chegar à compreensão da antropologia
contemporânea, como um conceito amplo e relativo, que “(...) tem insistido em compreender o
distante e respeitar o diferente” (DAMATTA, 1999). Depois são pontuadas as relações de poder
estabelecidas por meio do conceito de cultura e, por fim, há uma reflexão relacionada à prática
educativa.
Conceituação de cultura
Ao perceber a diferença entre o comportamento dos animais instintivo e a possibilidade
aquisição da linguagem e o uso da inteligência dos seres humanos, compreende-se que os seres
humanos se criam e se modificam por meio da cultura. A cultura é um processo humano, e é por
meio dela que aprendemos a valorizar certas coisas e desvalorizar outras. Quando estudamos
cultura, reconhecemos o ser humano enquanto produtor e transformador da natureza, enquanto
membro de uma sociedade e de um sistema de valores, um ser que inventa símbolos e sentidos de
vida.
O mundo cultural é um sistema de significados já estabelecidos por outros, de
modo que, ao nascer a criança encontra-se diante de valores já dados. A língua que
aprende, a maneira de se alimentar, o jeito de se sentar, andar, correr, brincar, o
tom da voz nas conversas, as relações familiares, tudo, enfim, se acha codificado.
Até na emoção que nos parece uma manifestação tão espontânea, ficamos à mercê
de regras que educam a nossa expressão desde a infância (ARANHA; MARTINS,
2009, p. 49).](https://image.slidesharecdn.com/cultura-como-poder-200601182933/85/O-uso-do-conceito-de-cultura-como-exercicio-de-poder-Bruno-Carrasco-2-320.jpg)
![3
A palavra cultura é de origem latina, e vem do verbo colere, que significa cultivar. Olhar
para a cultura envolve estudar os processos simbólicos do que cada coisa significa e quais
sentimentos remetem, “volta-se para as maneiras pelas quais a realidade que se conhece é
codificada por uma sociedade, através de palavras, ideias, doutrinas, teorias, práticas costumeiras e
rituais” (SANTOS, 2006, p. 41), buscando compreender o sentido das práticas e dos símbolos para
cada grupo de seres humanos.
De acordo com Dussel (1997, p. 28), a cultura é uma das dimensões de nossa existência
intersubjetiva e histórica, fazendo parte de um complexo de elementos que constituem nosso
mundo. Para o autor, "o homem rodeou-se desde a sua origem de um mundo de „instrumentos‟ com
os quais conviveu e, tendo-os à mão, tornou-os o contexto de seu ser-no-mundo". O autor continua
descrevendo que
[...] todo grupo social adota uma maneira de manipular os instrumentos, um modo
de situar-se diante da sua utilidade. Entre a pura objetividade da civilização e a
pura subjetividade da liberdade há um plano intermediário, os modos, as atitudes
fundamentais, existenciais, que cada pessoa ou povo foi constituindo (DUSSEL,
1997, p. 30).
A cultura é fruto da criação de uma ordem simbólica, que pode ser encarada como uma lei
universal, “[...] um imperativo social que organiza toda a vida dos indivíduos e da comunidade,
determinando o modo como são criados os costumes, como são transmitidos de geração a geração,
como fundam as instituições sociais” (CHAUÍ, 1995, p. 294).
Sob a dimensão do conhecimento, a cultura está ligada a noção que a sociedade tem sobre si
mesma, sobre outras sociedades e sobre o meio material em que vive, incluindo também os modos
como é expressa, seja pela arte, religião, esporte, tecnologia, ciência, política, etc. A compreensão
desses elementos serve não somente para descrever a realidade, mas principalmente para reconhecer
suas contradições e problemáticas, possibilitando apontar caminhos para mudanças.
É importante frisar que o fato de se aprender as regras sociais de um grupo cultural não faz
com que cada pessoa perca sua individualidade, “(...) ao mesmo tempo que nos reconhecemos como
seres sociais, também somos pessoas, temos uma individualidade que nos distingue dos demais”
(ARANHA; MARTINS, 2009, p.50). Outra questão importante a é que a cultura trata-se de um
processo, portanto sempre em mutação e movimento, sendo criada e recriada pelos seres humanos,
e diferenciando-se entre os diferentes agrupamentos de pessoas, espaços físicos e localizações.
Sendo uma característica humana a capacidade de produzir sua própria história e se tornar sujeito de
seus atos.](https://image.slidesharecdn.com/cultura-como-poder-200601182933/85/O-uso-do-conceito-de-cultura-como-exercicio-de-poder-Bruno-Carrasco-3-320.jpg)
![4
Visão histórica do conceito de cultura
Sob o ponto de vista da antropologia atual, percebe-se que cada cultura tem seus próprios
critérios de avaliação, não sendo justo subjugar uma cultura aos critérios da outra ou estabelecer
algum tipo de hierarquização. No entanto, foi historicamente construída uma ideia de cultura como
medida do que é ou não civilizado, dividindo e estabelecendo uma desigualdade entre “superiores”
e “inferiores”.
No século XVIII, com a filosofia do Iluminismo, a palavra cultura ressurge como
sinônimo de civilização. Se torna o padrão ou o critério que mede o grau de
civilização de uma sociedade, sendo encarada como um conjunto de práticas (artes,
ciências, técnicas, filosofia, os ofícios) hierarquizadas segundo um critério de
evolução, tornando-se sinônimo de progresso (CHAUÍ, 2008, p. 55).
A visão positivista da ciência ocidental tentou hierarquizar as culturas humanas - tanto as
existentes quanto as extintas - sob o ponto de vista do desenvolvimento de cada uma, partindo do
ideal da civilização europeia da época. Esse modo de pensar ocorreu por conta da dominação
política e econômica, pela imposição das concepções culturais europeias aos outros povos, como
forma de domínio e controle, uma cultura era apresentada como superior às outras. Como descreve
Santos (2006, p. 30), “as potências europeias encontravam-se em marcado processo de expansão,
incorporando nações e territórios em outros continentes e submetendo suas populações a seu mando
político e controle militar”.
O conceito de cultura na Europa do século XIX está associado à ideia de progresso, tendo
utilizado o padrão deles para medir o grau de evolução cultural de um povo, diferenciando
hierarquicamente os modos culturais dos diferentes grupos por uma ideia de parâmetro único, sendo
assim,
[...] as sociedades passaram a ser avaliadas segundo a presença ou a ausência de
alguns elementos e a ausência desses elementos foi considerada sinal de falta de
cultura ou de uma cultura pouco evoluída. Todas as sociedades que
desenvolvessem formas de troca, comunicação e poder diferentes do mercado, da
escrita e do Estado europeu, foram definidas como culturas primitivas (CHAUÍ,
2008, p. 56).
Com a intensificação do poderio industrial das nações europeias frente aos povos do mundo,
aumentaram-se os contatos entre os povos europeus industrializados procurando por novos
mercados, "sociedades antes isoladas foram subjugadas e incorporadas ao âmbito de influência
europeia” (SANTOS, 2006, p. 28).
Para que se tenha a ideia do primitivo, é necessário que se determine o que é o evoluído, o
que implica num juízo de valor incorporado em formas culturais expressas em modos de ser de um
grupo específico, posicionados como portadores da verdade, justificando sua posição de](https://image.slidesharecdn.com/cultura-como-poder-200601182933/85/O-uso-do-conceito-de-cultura-como-exercicio-de-poder-Bruno-Carrasco-4-320.jpg)
![5
superioridade e seu papel de colonizador sobre outros grupos culturais, como por exemplo a cultura
europeia capitalista, que
[...] não apenas se coloca como o fim necessário do desenvolvimento de toda
cultura ou de toda civilização, mas sobretudo se oferece como modelo necessário
do desenvolvimento histórico, legitimando e justificando a colonização e o
imperialismo (CHAUÍ, 2008, p. 56).
Considerando as circunstâncias históricas, foram estabelecidas relações hierárquicas de
poder entre diferentes culturas, “pode-se falar em cultura dominada e cultura dominante, cultura
opressora e cultura oprimida, cultura de elite e cultura popular” (CHAUÍ, 2008, p. 58), numa
diferenciação entre o que foi tido como cultura, no sentido de letrado e erudito, e o que não é. Essa
classificação instituiu uma diferenciação não somente dos modos de ser e agir, mas do
posicionamento político entre superiores e inferiores.
Essa reflexão torna-se importante nas Américas, por conta de nosso histórico de
colonizados, na necessidade de se reconhecer entre os processos pelos quais a ideia de cultura se
instituiu e legitimou como correto o uso de poder, e como nos relacionamos, perdemos ou
reconfiguramos nossa identidade enquanto povo, em meio a essas transformações históricas.
Conceito amplo de cultura
A diversidade cultural é um fator importante a ser considerado para a compreensão da
realidade em que vivemos, visto que possuímos diferentes maneiras de atuar na sociedade. A
cultura, como um processo humano, está sempre em movimento e mutação - quando nos
questionamos sobre as diferentes formas culturais, estamos questionando sobre nós mesmos e nossa
existência como seres resultantes de processos culturais, autores e também sujeitos dos grupos na
qual estamos inseridos.
Temos a possibilidade de atuar sobre a realidade objetiva por diversas formas de linguagem.
No processo de transformar o mundo, nos transformamos também. Enquanto seres humanos, somos
sujeitos permeados pela história e cultura,
Cada criança, jovem ou adulto (a) – mulheres e homens – todo ser humano tem
uma caminhada histórica; é sujeito de historicidade, fazendo parte de uma história
social mais ampla. Possuem diferentes formas de ver o mundo e enfrentar as
situações: são seres culturais com práticas de significação do mundo e de si
próprios (as) e dos outros (outras) as mais diversas (SOUZA, 2006, p. 237).
A compreensão da cultura como um processo humano que difere entre os diferentes
agrupamentos de pessoas, possibilita a desnaturalização da ideia de ser humano, ou seja, permite-](https://image.slidesharecdn.com/cultura-como-poder-200601182933/85/O-uso-do-conceito-de-cultura-como-exercicio-de-poder-Bruno-Carrasco-5-320.jpg)
![6
nos compreender que os modos de ser de cada indivíduo não são naturais, mas se desenvolvem na
relação com outros indivíduos, por meio de diferentes maneiras e expressões. Para se reconhecer
essas diferentes formas culturais, é necessário um olhar aberto, pois
[...] cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual devemos procurar
conhecer para que façam sentido as suas práticas, costumes, concepções e as
transformações pelas quais estas passam. É preciso relacionar a variedade de
procedimentos culturais com os contextos em que são produzidos (SANTOS, 2006,
p.8).
As diferenças culturais co-existem numa mesma sociedade em diferentes classes sociais,
agrupamentos de pessoas, localização de grupos, diferenças de idades, práticas religiosas, gostos e
interesses, entre outras. Os caminhos de cada agrupamento humano são marcados pelas maneiras de
organizar e transformar a vida, na tentativa da seuperação de conflitos de interesse e tensões da vida
social. “Cada cultura é o resultado de uma história particular, e isso inclui também suas relações
com outras culturas, as quais podem ter características bem diferentes" (SANTOS, 2006, p. 12). O
estudo e avaliação das diferentes formas culturais variam de acordo com a cultura que se está
inserido e pela qual se efetua a observação e interpretação. É preciso ter bem compreendido que os
critérios usados para se classificar uma cultura são também culturais, na avaliação de culturas tudo é
relativo.
O antropólogo Roberto Damatta (1981) descreve o conceito cultura em seu sentido amplo,
como um conjunto de regras que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado,
[...] ''cultura" não é simplesmente um referente que marca uma hierarquia de
"civilização" mas a maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou
pessoa. Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um
receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam,
classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas (DAMATTA, 1981).
Para Dussel (1997, p. 35), "nenhum grupo humano pode deixar de ter cultura, e nunca pode
possuir uma que não seja a sua". Segundo Santos (2006, p. 35), “considera-se como cultura todas as
maneiras de existência humana”.
A cultura não é um sistema estático no qual o sujeito se submete, mas um movimento onde,
em processo, está constantemente em recriação e reinterpretação de conceitos e significados. A vida
social é “(...) um processo dinâmico, onde cada sujeito é ativo e onde acontece a interação entre o
mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um” (OLIVEIRA, 2003, p. 38).
Para se estudar uma cultura é preciso que se compreenda o valor que ela tem para o grupo
onde se está inserido, e não apenas olhar de fora, distante.
Lendas ou crenças, festas ou jogos, costumes ou tradições - esses fenômenos não
dizem nada por si mesmos, eles apenas dizem algo enquanto parte de uma cultura,
a qual não pode ser entendida sem referência à realidade social que faz parte, à
história de sua sociedade (SANTOS, 2006, p. 47).](https://image.slidesharecdn.com/cultura-como-poder-200601182933/85/O-uso-do-conceito-de-cultura-como-exercicio-de-poder-Bruno-Carrasco-6-320.jpg)
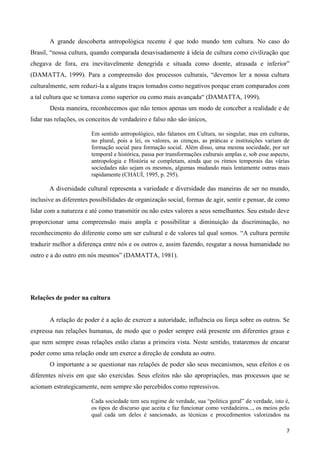
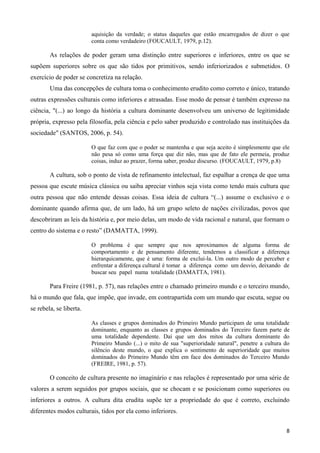
![9
É indiscutível o papel e a importância da compreensão dos processos culturais na libertação
de classes oprimidas, porém ainda é muito difícil que os grupos inferiorizados se percebam como
parte de um processo histórico e com direitos que lhes permitam se posicionar perante os que
acreditam ser superiores - a cultura dominada acaba muitas vezes por aceitar a condição de
inferiorizado transmitida pelos grupos que exercem o poder. “Uma das formas de consciência
dominada (...) se caracteriza por sua quase 'aderência' à realidade objetiva ou sua quase 'imersão' na
realidade” (FREIRE, 1981, 59 p.).
A América Latina permanece colônia e o que diferencia o colonialismo de ontem
do atual é apenas a forma mais aprimorada do colonizador: e além dos
colonizadores de fato, as formas sutis daqueles que também sobre nós armam
futuros botes (ROCHA, 1981, p. 29).
Por conseqüência deste choque de relações desiguais, na cultura brasileira há contrastes
entre as culturas ditas populares e as ditas elitizadas,
[...] o carnaval e os cultos afro-brasileiros desenvolveram-se a partir de tradições
das populações trabalhadoras, com marcas muito fortes das origens africanas
dessas populações (...), os sistemas escolar, hospitalar e jurídico, estes de origem
européia, tanto em sua organização interna quanto em suas concepções,
introduzidos pelas elites. (SANTOS, 2006, p. 60).
Herdamos relações de poder historicamente constituídas e fomos ensinados a consumir e a
reproduzir cultura sem perceber que também podemos criar, mantemos uma relação passiva e
inferiorizante, reproduzindo valores que nos trouxeram como únicos e corretos. Na chegada dos
portugueses ao Brasil, os índios eram tidos como selvagens e inferiores, tinham de ser
“domesticados” para aprender o que é cultura, partindo do referencial cultural dos colonizadores.
As relações desiguais de apropriação e uso das manifestações culturais configuram uma
realidade desigual. As lutas pela universalização do direito ao acesso à cultura e a possibilidade de
se produzir e veicular cultura são lutas contra as relações de dominação entre grupos de pessoas
sobre outros, para a transformação da realidade tal qual estamos inseridos, para uma relação mais
justa e menos discriminadora.
Repensando a relação cultural na prática educativa
Perante as reflexões destacadas, constata-se a importância em repensar o conceito de cultura,
como afetamos e somos afetados pelo sentido adotado nas relações entre as pessoas com as quais
convivemos. Devemos perceber as diferenças, muitas vezes sutis, entre os ideais universalistas de
cultura e as expressões culturais locais, para não repetir o que já muito fizemos, “copiar a França,](https://image.slidesharecdn.com/cultura-como-poder-200601182933/85/O-uso-do-conceito-de-cultura-como-exercicio-de-poder-Bruno-Carrasco-9-320.jpg)
![10
sem ter franceses; imitar a Inglaterra e os Estados Unidos sem, contudo, ter como valor cultural a
igualdade e o individualismo” (DAMATTA, 1999).
As diferentes maneiras nos modos de ser e se colocar perante o mundo fazem sentido para
os agrupamentos humanos que os vivenciam, alinhados com as condições materiais da existência. O
estudo da cultura permite uma compreensão mais consciente de mundo e de nós mesmos,
contribuindo no combate aos preconceitos e possibilitando o entendimento das diferenças para o
respeito e dignidade nas relações humanas
[...] precisamente porque diz que não há homens sem cultura e permite comparar
culturas e configurações culturais como entidades iguais, deixando de estabelecer
hierarquias em que inevitavelmente existiriam sociedades superiores e inferiores.
(DAMATTA, 1981).
Como construtora de existência, a educação interfere diretamente no tipo de sociedade que
temos, de modo que
[...] quando são necessários guerreiros ou burocratas, a educação é um dos meios
de que os homens lançam mão para criar guerreiros ou burocratas. Ela ajuda a
pensar tipos de homens. Mais do que isso, ela ajuda a criá-los, através de passar de
uns para os outros o saber que os constitui e legitima. Mais ainda, a educação
participa do processo de produção de crenças e idéias, de qualificações e
especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em
conjunto constroem tipos de sociedades. (BRANDÃO, 2004, p. 11).
Como necessidade de superar as condições de uso de poder e discriminação por meio das
relações culturais, podemos pensar como possibilidade a valorização e o respeito à diversidade,
reconhecendo os valores de cada um dos educandos e assumindo a identidade cultural na prática
educativa. Uma ação educativa crítica reflete uma intervenção no mundo e o reconhecimento da
condição cultural. Porém, essa reflexão não pode permanecer somente no campo teórico, mas,
principalmente, deve se tornar prática, visto que todos somos produtores e produto da cultura. Eis a
importância e a necessidade de assumir a proporção cultural dentro do espaço social.
Rocha (1981) propõe uma superação da alienação e das contradições do intelectual no
mundo subdesenvolvido, por meio do exame crítico de uma produção reflexiva sobre dois temas
que ele descreve como justapostos: o subdesenvolvimento e sua cultura primitiva, o
desenvolvimento e a influência colonial de uma cultura sobre o mundo subdesenvolvido.
"Demonstrará a realidade subdesenvolvida, dominada pelo Complexo de impotência intelectual,
pela admiração inconsciente de cultura colonial, a sua própria possibilidade de superar, pela prática
revolucionária, a esterilidade criativa" (ROCHA, 1981, p. 67).
Deste violento processo dialético de informação, análise e negação, surgirão duas
formas concretas de uma cultura revolucionária: a didática/épica, a épica/didática.
A didática e a épica devem funcionar simultaneamente no processo revolucionário.
A didática será científica. A épica será uma prática poética, que terá de ser](https://image.slidesharecdn.com/cultura-como-poder-200601182933/85/O-uso-do-conceito-de-cultura-como-exercicio-de-poder-Bruno-Carrasco-10-320.jpg)
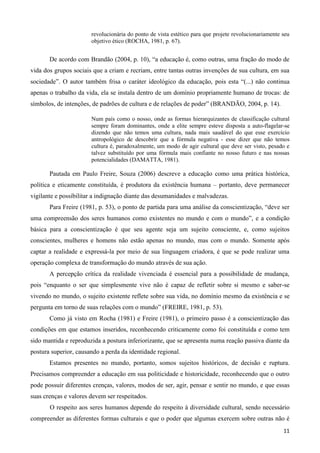
![12
uma marca histórica de dominação, “(...) não há superioridade ou inferioridade de culturas ou traços
culturais de modo absoluto, não há nenhuma lei natural que diga que as características de uma
cultura a façam superior a outras” (SANTOS, 2006, p. 16).
Posicionar-se dentro do espaço educativo está no sentido de se reconhecer e se assumir tal
qual é. A assunção social e histórica na prática educativa é descrita por Paulo Freire,
[...] uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o
professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-
se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador,
criador, realizador de sonhos (FREIRE, 2000, p. 46).
Dussel (1997, p. 36) também reforça a importância de reconhecer e assumir sua identidade,
visto que "um povo que consegue expressar a si mesmo, que atinge a autoconsciência, a consciência
de suas estruturas culturais, de seus valores últimos, pelo cultivo e evolução de sua tradição, possui
identidade consigo mesmo".
Para assegurar a diversidade cultural, precisamos de uma relação educativa que se paute no
respeito à autonomia e à liberdade de cada educando,
O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua
inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o
professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em
seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, (...) transgride os princípios
fundamentalmente éticos de nossa existência (FREIRE, 2000, p. 66).
Reconhecer os educandos como sujeitos históricos e culturais, e respeitá-los em sua
integridade de seres humanos. “A professora generosa e o professor generoso reconhecem seus
alunos e suas alunas como sujeitos históricos e culturais que trazem para suas escolas seus mundos,
vividos intersubjetivamente” (SOUZA, 2006, p. 254).
A prática educativa deve permitir ao educando que experimente os problemas da vida e
exercite sua criatividade para buscar soluções, no entanto, “a escola tem representado até aqui um
‟complot‟ contra a livre pesquisa intelectual, fornecendo fórmulas já acabadas que robotizam a
solução dos problemas” (LIMA, 1979, p. 13).
Todas essas reflexões teóricas não têm outra finalidade que não seja a de que se possa mudar
a realidade na qual estamos inseridos, trata-se de perceber para modificar. "O modo como se pensa
a cultura de uma sociedade está sempre ligado a outras preocupações e às maneiras como se julga
poder agir sobre ela" (SANTOS, 2006, p. 64).
Para que se possa realizar uma ética da libertação, segundo Paulo Freire, a prática educativa
deve ser exercida na dialogicidade, “reafirmando o direito do povo ter vez e voz, ter direito a ter
direitos, possibilitando a compreensão de que ensinar não é transferir conhecimentos, não é
extensão, mas, essencialmente, um processo de comunicação emancipadora” (SOUZA, 2006, p.](https://image.slidesharecdn.com/cultura-como-poder-200601182933/85/O-uso-do-conceito-de-cultura-como-exercicio-de-poder-Bruno-Carrasco-12-320.jpg)
![13
227). Saber escutar é estar aberto ao diálogo como condição para a prática da liberdade, dando voz
aos educandos – a escuta torna viva a presença e o direito de voz.
A prática educativa deve promover a autonomia, dando possibilidades para sua construção a
partir da consciência crítica, num processo de criação e recriação. Enquanto seres humanos e
históricos, temos a capacidade de intervir no mundo, como seres para a construção e reconstrução
deste. Reconhecendo a história de vida e os valores de cada ser humano, “não podemos pensar em
desenvolver um processo de pesquisa com nossos educandos e educandas, se não reconhecermos os
seus saberes anteriormente feitos, as suas histórias de vida, suas trajetórias” (SOUZA, 2006, p.
231).
Após as reflexões explicitadas, "podemos reter da comparação entre culturas e realidades
culturais diversas, a compreensão de que suas características não são absolutas, não respondem a
exigências naturais, mas são históricas e estão sujeitas a transformação" (SANTOS, 2006, p. 84).
Neste sentido, acredito na pedagogia libertária como caminho metodológico para o respeito às
diferenças culturais, pois “igualdade é igualdade e deve ser baseada no conhecimento das
diferenças, para que se possam superar a cada passo as desigualdades estabelecidas” (GARRIDO
MONTERO, 2001).
Considerações
Visto as reflexões colocadas, percebe-se a necessidade de se possibilitar uma prática
educativa que respeite a diversidade cultural e a identidade de cada educando. Precisamos,
realmente, repensar e experimentar propostas práticas e alternativas diferenciadas. “Uma proposta
de pedagogia democrática, de educação para e pela democracia, através de práticas dialógicas e
anti-autoritárias e do exercício da participação, contra a passividade e para a decisão” (LIMA, 2002,
p. 32).
É, portanto, necessário um espaço de fala para que o educando possa trazer seus
conhecimentos, transmitir sua mensagem com seus valores e sua linguagem, afirmando sua
identidade que não é a mesma do educador. Além disso, o educador deve reconhecer seu papel
político na formação de seres humanos, não somente por meio da transmissão, mas no diálogo entre
diferentes culturas, ampliando a percepção dos educandos para diferentes formas de compreensão
do mundo, sem negá-los.
Neste sentido, desfazemos as idéias de hierarquia ou autoridade, numa relação respeitosa e
amigável, “[...] não podemos nos colocar na posição do superior que ensina um grupo de ignorantes,](https://image.slidesharecdn.com/cultura-como-poder-200601182933/85/O-uso-do-conceito-de-cultura-como-exercicio-de-poder-Bruno-Carrasco-13-320.jpg)