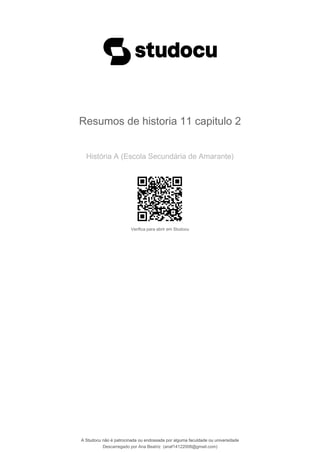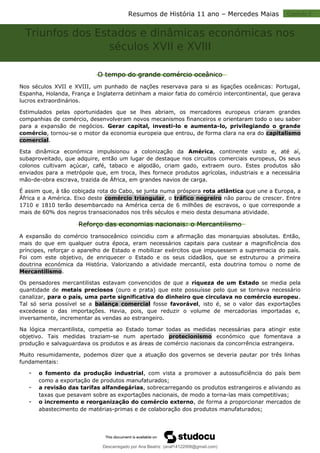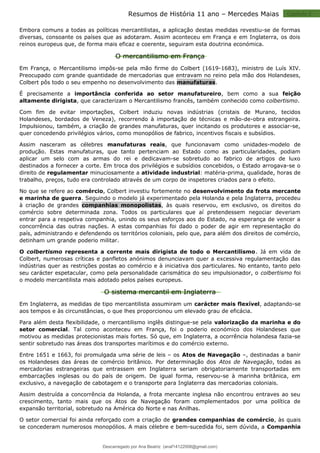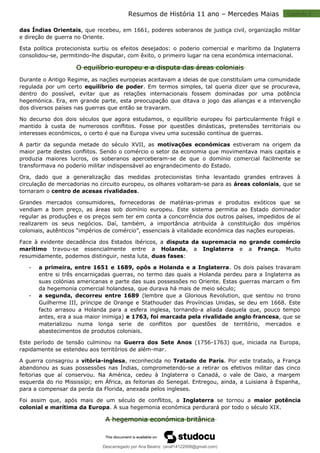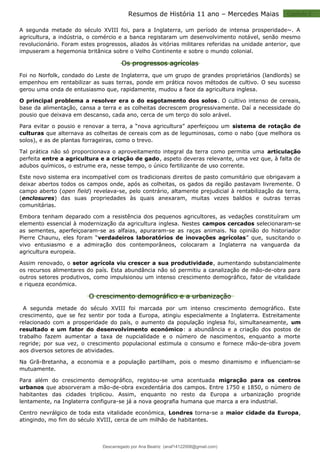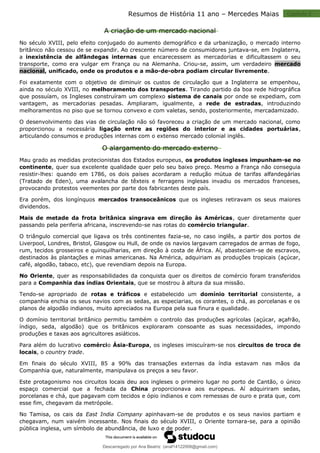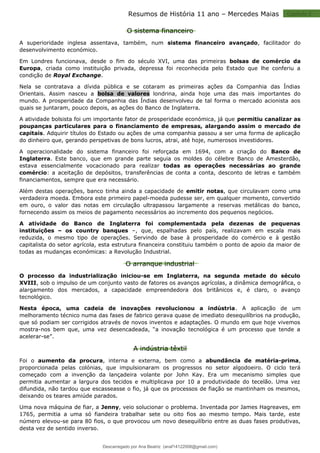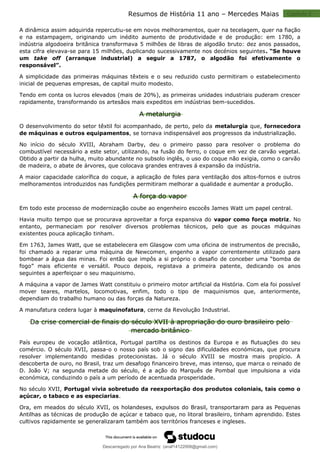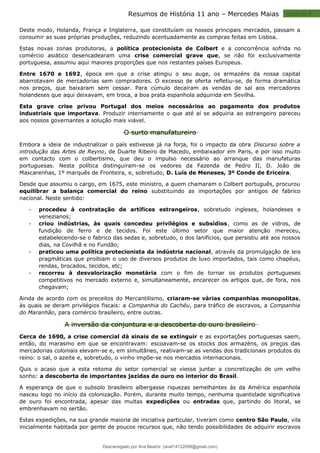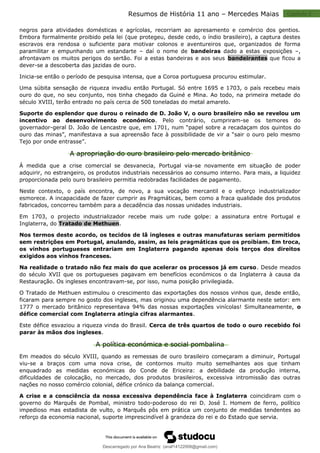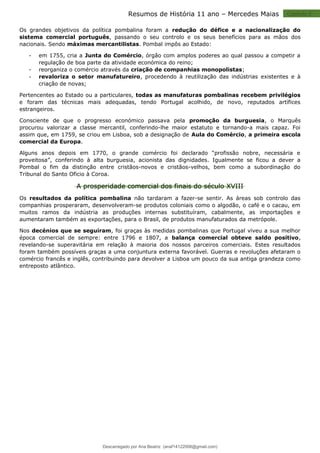resumos-de-historia-11ANO-capitulo-2.pdf
- 1. Resumos de historia 11 capitulo 2 História A (Escola Secundária de Amarante) Verifica para abrir em Studocu A Studocu não é patrocinada ou endossada por alguma faculdade ou universidade Resumos de historia 11 capitulo 2 História A (Escola Secundária de Amarante) Verifica para abrir em Studocu A Studocu não é patrocinada ou endossada por alguma faculdade ou universidade Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 2. Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias Capitulo 2 Triunfos dos Estados e dinâmicas económicas nos séculos XVII e XVIII O tempo do grande comércio oceânico Nos séculos XVII e XVIII, um punhado de nações reservava para si as ligações oceânicas: Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra detinham a maior fatia do comércio intercontinental, que gerava lucros extraordinários. Estimulados pelas oportunidades que se lhes abriam, os mercadores europeus criaram grandes companhias de comércio, desenvolveram novos mecanismos financeiros e orientaram todo o seu saber para a expansão de negócios. Gerar capital, investi-lo e aumenta-lo, privilegiando o grande comércio, tornou-se o motor da economia europeia que entrou, de forma clara na era do capitalismo comercial. Esta dinâmica económica impulsionou a colonização da América, continente vasto e, até aí, subaproveitado, que adquire, então um lugar de destaque nos circuitos comerciais europeus, Os seus colonos cultivam açúcar, café, tabaco e algodão, criam gado, extraem ouro. Estes produtos são enviados para a metrópole que, em troca, lhes fornece produtos agrícolas, industriais e a necessária mão-de-obra escrava, trazida de África, em grandes navios de carga. É assim que, à tão cobiçada rota do Cabo, se junta numa próspera rota atlântica que une a Europa, a África e a América. Eixo deste comércio triangular, o tráfico negreiro não parou de crescer. Entre 1710 e 1810 terão desembarcado na América cerca de 6 milhões de escravos, o que corresponde a mais de 60% dos negros transacionados nos três séculos e meio desta desumana atividade. Reforço das economias nacionais: o Mercantilismo A expansão do comércio transoceânico coincidiu com a afirmação das monarquias absolutas. Então, mais do que em qualquer outra época, eram necessários capitais para custear a magnificência dos príncipes, reforçar o aparelho de Estado e mobilizar exércitos que impusessem a supremacia do país. Foi com este objetivo, de enriquecer o Estado e os seus cidadãos, que se estruturou a primeira doutrina económica da História. Valorizando a atividade mercantil, esta doutrina tomou o nome de Mercantilismo. Os pensadores mercantilistas estavam convencidos de que a riqueza de um Estado se media pela quantidade de metais preciosos (ouro e prata) que este possuísse pelo que se tornava necessário canalizar, para o país, uma parte significativa do dinheiro que circulava no comércio europeu. Tal só seria possível se a balança comercial fosse favorável, isto é, se o valor das exportações excedesse o das importações. Havia, pois, que reduzir o volume de mercadorias importadas e, inversamente, incrementar as vendas ao estrangeiro. Na lógica mercantilista, competia ao Estado tomar todas as medidas necessárias para atingir este objetivo. Tais medidas traziam-se num apertado protecionismo económico que fomentava a produção e salvaguardava os produtos e as áreas de comércio nacionais da concorrência estrangeira. Muito resumidamente, podemos dizer que a atuação dos governos se deveria pautar por três linhas fundamentais: o fomento da produção industrial, com vista a promover a autossuficiência do país bem como a exportação de produtos manufaturados; a revisão das tarifas alfandegárias, sobrecarregando os produtos estrangeiros e aliviando as taxas que pesavam sobre as exportações nacionais, de modo a torna-las mais competitivas; o incremento e reorganização do comércio externo, de forma a proporcionar mercados de abastecimento de matérias-primas e de colaboração dos produtos manufaturados; Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 3. Capitulo 2 Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias Embora comuns a todas as políticas mercantilistas, a aplicação destas medidas revestiu-se de formas diversas, consoante os países que as adotaram. Assim aconteceu em França e em Inglaterra, os dois reinos europeus que, de forma mais eficaz e coerente, seguiram esta doutrina económica. O mercantilismo em França Em França, o Mercantilismo impôs-se pela mão firme do Colbert (1619-1683), ministro de Luís XIV. Preocupado com grande quantidade de mercadorias que entravam no reino pela mão dos Holandeses, Colbert pôs todo o seu empenho no desenvolvimento das manufaturas. É precisamente a importância conferida ao setor manufatureiro, bem como a sua feição altamente dirigista, que caracterizam o Mercantilismo francês, também conhecido como colbertismo. Com fim de evitar importações, Colbert induziu novas indústrias (cristais de Murano, tecidos Holandeses, bordados de Veneza), recorrendo à importação de técnicas e mão-de-obra estrangeira. Impulsionou, também, a criação de grandes manufaturas, quer incitando os produtores e associar-se, quer concedendo privilégios vários, como monopólios de fabrico, incentivos fiscais e subsídios. Assim nasceram as célebres manufaturas reais, que funcionavam como unidades-modelo de produção. Estas manufaturas, que tanto pertenciam ao Estado como as particularidades, podiam aplicar um selo com as armas do rei e dedicavam-se sobretudo ao fabrico de artigos de luxo destinados a fornecer a corte. Em troca dos privilégios e subsídios concebidos, o Estado arrogava-se o direito de regulamentar minuciosamente a atividade industrial: matéria-prima, qualidade, horas de trabalho, preços, tudo era controlado através de um corpo de inspetores criados para o efeito. No que se refere ao comércio, Colbert investiu fortemente no desenvolvimento da frota mercante e marinha de guerra. Seguindo o modelo já experimentado pela Holanda e pela Inglaterra, procedeu à criação de grandes companhias monopolistas, às quais reservou, em exclusivo, os direitos do comércio sobre determinada zona. Todos os particulares que aí pretendessem negociar deveriam entrar para a respetiva companhia, unindo os seus esforços aos do Estado, na esperança de vencer a concorrência das outras nações. A estas companhias foi dado o poder de agir em representação do país, administrando e defendendo os territórios coloniais, pelo que, para além dos direitos de comércio, detinham um grande poderio militar. O colbertismo representa a corrente mais dirigista de todo o Mercantilismo. Já em vida de Colbert, numerosas críticas e panfletos anónimos denunciavam quer a excessiva regulamentação das indústrias quer as restrições postas ao comércio e à iniciativa dos particulares. No entanto, tanto pelo seu carácter espetacular, como pela personalidade carismática do seu impulsionador, o colbertismo foi o modelo mercantilista mais adotado pelos países europeus. O sistema mercantil em Inglaterra Em Inglaterra, as medidas de tipo mercantilista assumiram um carácter mais flexível, adaptando-se aos tempos e às circunstâncias, o que lhes proporcionou um elevado grau de eficácia. Para além desta flexibilidade, o mercantilismo inglês distingue-se pela valorização da marinha e do setor comercial. Tal como aconteceu em França, foi o poderio económico dos Holandeses que motivou as medidas protecionistas mais fortes. Só que, em Inglaterra, a ocorrência holandesa fazia-se sentir sobretudo nas áreas dos transportes marítimos e do comércio externo. Entre 1651 e 1663, foi promulgada uma série de leis – os Atos de Navegação –, destinadas a banir os Holandeses das áreas de comércio britânico. Por determinação dos Atos de Navegação, todas as mercadorias estrangeiras que entrassem em Inglaterra seriam obrigatoriamente transportadas em embarcações inglesas ou do país de origem. De igual forma, reservou-se à marinha britânica, em exclusivo, a navegação de cabotagem e o transporte para Inglaterra das mercadorias coloniais. Assim destruída a concorrência da Holanda, a frota mercante inglesa não encontrou entraves ao seu crescimento, tanto mais que os Atos de Navegação foram complementados por uma política de expansão territorial, sobretudo na América do Norte e nas Anilhas. O setor comercial foi ainda reforçado com a criação de grandes companhias de comércio, às quais se concederam numerosos monopólios. A mais célebre e bem-sucedida foi, sem dúvida, a Companhia Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 4. Capitulo 2 Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias das Índias Orientais, que recebeu, em 1661, poderes soberanos de justiça civil, organização militar e direção de guerra no Oriente. Esta política protecionista surtiu os efeitos desejados: o poderio comercial e marítimo da Inglaterra consolidou-se, permitindo-lhe disputar, com êxito, o primeiro lugar na cena económica internacional. O equilíbrio europeu e a disputa das áreas coloniais Durante o Antigo Regime, as nações europeias aceitavam a ideias de que constituíam uma comunidade regulada por um certo equilíbrio de poder. Em termos simples, tal queria dizer que se procurava, dentro do possível, evitar que as relações internacionais fossem dominadas por uma potência hegemónica. Era, em grande parte, esta preocupação que ditava o jogo das alianças e a intervenção dos diversos países nas guerras que então se travaram. No decurso dos dois séculos que agora estudamos, o equilíbrio europeu foi particularmente frágil e mantido à custa de numerosos conflitos. Fosse por questões dinásticas, pretensões territoriais ou interesses económicos, o certo é que na Europa viveu uma sucessão contínua de guerras. A partir da segunda metade do século XVII, as motivações económicas estiveram na origem da maior parte destes conflitos. Sendo o comércio o setor da economia que movimentava mais capitais e produzia maiores lucros, os soberanos aperceberam-se de que o domínio comercial facilmente se transformava no poderio militar indispensável ao engrandecimento do Estado. Ora, dado que a generalização das medidas protecionistas tinha levantado grandes entraves à circulação de mercadorias no circuito europeu, os olhares voltaram-se para as áreas coloniais, que se tornaram o centro de acesas rivalidades. Grandes mercados consumidores, fornecedoras de matérias-primas e produtos exóticos que se vendiam a bom preço, as áreas sob domínio europeu. Este sistema permitia ao Estado dominador regular as produções e os preços sem ter em conta a concorrência dos outros países, impedidos de aí realizarem os seus negócios. Daí, também, a importância atribuída à constituição dos impérios coloniais, autênticos “impérios de comércio”, essenciais à vitalidade económica das nações europeias. Face à evidente decadência dos Estados ibéricos, a disputa da supremacia no grande comércio marítimo travou-se essencialmente entre a Holanda, a Inglaterra e a França. Muito resumidamente, podemos distinguir, nesta luta, duas fases: a primeira, entre 1651 e 1689, opôs a Holanda e a Inglaterra. Os dois países travaram entre si três encarniçadas guerras, no termo das quais a Holanda perdeu para a Inglaterra as suas colónias americanas e parte das suas possessões no Oriente. Estas guerras marcam o fim da hegemonia comercial holandesa, que durava há mais de meio século; a segunda, decorreu entre 1689 (lembre que a Glorious Revolution, que sentou no trono Guilherme III, príncipe de Orange e Stathouder das Províncias Unidas, se deu em 1668. Este facto arrasou a Holanda para a esfera inglesa, tornando-a aliada daquela que, pouco tempo antes, era a sua maior inimiga) e 1763, foi marcada pela rivalidade anglo-francesa, que se materializou numa longa serie de conflitos por questões de território, mercados e abastecimentos de produtos coloniais. Este período de tensão culminou na Guerra dos Sete Anos (1756-1763) que, iniciada na Europa, rapidamente se estendeu aos territórios de além-mar. A guerra consagrou a vitória-inglesa, reconhecida no Tratado de Paris. Por este tratado, a França abandonou as suas possessões nas Índias, comprometendo-se a retirar os efetivos militar das cinco feitorias que aí conservou. Na América, cedeu à Inglaterra o Canadá, o vale de Oaio, a margem esquerda do rio Mississípi; em África, as feitorias do Senegal. Entregou, ainda, a Luisiana à Espanha, para a compensar da perda da Florida, anexada pelos ingleses. Foi assim que, após mais de um século de conflitos, a Inglaterra se tornou a maior potência colonial e marítima da Europa. A sua hegemonia económica perdurará por todo o século XIX. A hegemonia económica britânica Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 5. Capitulo 2 Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias A segunda metade do século XVIII foi, para a Inglaterra, um período de intensa prosperidade~. A agricultura, a indústria, o comércio e a banca registaram um desenvolvimento notável, senão mesmo revolucionário. Foram estes progressos, aliados às vitórias militares referidas na unidade anterior, que impuseram a hegemonia britânica sobre o Velho Continente e sobre o mundo colonial. Os progressos agrícolas Foi no Norfolk, condado do Leste de Inglaterra, que um grupo de grandes proprietários (landlords) se empenhou em rentabilizar as suas terras, ponde em prática novos métodos de cultivo. O seu sucesso gerou uma onda de entusiasmo que, rapidamente, mudou a face da agricultura inglesa. O principal problema a resolver era o do esgotamento dos solos. O cultivo intenso de cereais, base da alimentação, cansa a terra e as colheitas decrescem progressivamente. Daí a necessidade do pousio que deixava em descanso, cada ano, cerca de um terço do solo arável. Para evitar o pousio e renovar a terra, a “nova agricultura” aperfeiçoou um sistema de rotação de culturas que alternava as colheitas de cereais com as de leguminosas, como o nabo (que melhora os solos), e as de plantas forrageiras, como o trevo. Tal prática não só proporcionava o aproveitamento integral da terra como permitia uma articulação perfeita entre a agricultura e a criação de gado, aspeto deveras relevante, uma vez que, à falta de adubos químicos, o estrume era, nesse tempo, o único fertilizante de uso corrente. Este novo sistema era incompatível com os tradicionais direitos de pasto comunitário que obrigavam a deixar abertos todos os campos onde, após as colheitas, os gados da região pastavam livremente. O campo aberto (open field) revelava-se, pelo contrário, altamente prejudicial à rentabilização da terra, (enclosures) das suas propriedades às quais anexaram, muitas vezes baldios e outras terras comunitárias. Embora tenham deparado com a resistência dos pequenos agricultores, as vedações constituíram um elemento essencial à modernização da agricultura inglesa. Nestes campos cercados selecionaram-se as sementes, aperfeiçoaram-se as alfaias, apuraram-se as raças animais. Na opinião do historiador Pierre Chaunu, eles foram “verdadeiros laboratórios de inovações agrícolas” que, suscitando o vivo entusiasmo e a admiração dos contemporâneos, colocaram a Inglaterra na vanguarda da agricultura europeia. Assim renovado, o setor agrícola viu crescer a sua produtividade, aumentando substancialmente os recursos alimentares do país. Esta abundância não só permitiu a canalização de mão-de-obra para outros setores produtivos, como impulsionou um intenso crescimento demográfico, fator de vitalidade e riqueza económica. O crescimento demográfico e a urbanização A segunda metade do século XVIII foi marcada por um intenso crescimento demográfico. Este crescimento, que se fez sentir por toda a Europa, atingiu especialmente a Inglaterra. Estreitamente relacionado com a prosperidade do país, o aumento da população inglesa foi, simultaneamente, um resultado e um fator do desenvolvimento económico: a abundância e a criação dos postos de trabalho fazem aumentar a taxa de nupcialidade e o número de nascimentos, enquanto a morte regride; por sua vez, o crescimento populacional estimula o consumo e fornece mão-de-obra jovem aos diversos setores de atividades. Na Grã-Bretanha, a economia e a população partilham, pois o mesmo dinamismo e influenciam-se mutuamente. Para além do crescimento demográfico, registou-se uma acentuada migração para os centros urbanos que absorveram a mão-de-obra excedentária dos campos. Entre 1750 e 1850, o número de habitantes das cidades triplicou. Assim, enquanto no resto da Europa a urbanização progride lentamente, na Inglaterra configura-se já a nova geografia humana que marca a era industrial. Centro nevrálgico de toda esta vitalidade económica, Londres torna-se a maior cidade da Europa, atingindo, mo fim do século XVIII, cerca de um milhão de habitantes. Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 6. Capitulo 2 Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias A criação de um mercado nacional No século XVIII, pelo efeito conjugado do aumento demográfico e da urbanização, o mercado interno britânico não cessou de se expandir. Ao crescente número de consumidores juntava-se, em Inglaterra, a inexistência de alfândegas internas que encarecessem as mercadorias e dificultassem o seu transporte, como era vulgar em França ou na Alemanha. Criou-se, assim, um verdadeiro mercado nacional, unificado, onde os produtos e a mão-de-obra podiam circular livremente. Foi exatamente com o objetivo de diminuir os custos de circulação que a Inglaterra se empenhou, ainda no século XVIII, no melhoramento dos transportes. Tirando partido da boa rede hidrográfica que possuíam, os Ingleses construíram um complexo sistema de canais por onde se expediam, com vantagem, as mercadorias pesadas. Ampliaram, igualmente, a rede de estradas, introduzindo melhoramentos no piso que se tornou convexo e com valetas, sendo, posteriormente, mercadamizado. O desenvolvimento das vias de circulação não só favoreceu a criação de um mercado nacional, como proporcionou a necessária ligação entre as regiões do interior e as cidades portuárias, articulando consumos e produções internas com o extenso mercado colonial inglês. O alargamento do mercado externo Mau grado as medidas protecionistas dos Estados europeus, os produtos ingleses impunham-se no continente, quer sua excelente qualidade quer pelo seu baixo preço. Mesmo a França não conseguia resistir-lhes: quando em 1786, os dois países acordaram a redução mútua de tarifas alfandegárias (Tratado de Eden), uma avalancha de têxteis e ferragens inglesas invadiu os mercados franceses, provocando protestos veementes por parte dos fabricantes deste país. Era porém, dos longínquos mercados transoceânicos que os ingleses retiravam os seus maiores dividendos. Mais de metade da frota britânica singrava em direção às Américas, quer diretamente quer passando pela periferia africana, inscrevendo-se nas rotas do comércio triangular. O triângulo comercial que ligava os três continentes fazia-se, no caso inglês, a partir dos portos de Liverpool, Londres, Bristol, Glasgow ou Hull, de onde os navios largavam carregados de armas de fogo, rum, tecidos grosseiros e quinquilharias, em direção à costa de África. Aí, abasteciam-se de escravos, destinados às plantações e minas americanas. Na América, adquiriam as produções tropicais (açúcar, café, algodão, tabaco, etc), que revendiam depois na Europa. No Oriente, quer as responsabilidades da conquista quer os direitos de comércio foram transferidos para a Companhia das índias Orientais, que se mostrou à altura da sua missão. Tendo-se apropriado de rotas e tráficos e estabelecido um domínio territorial consistente, a companhia enchia os seus navios com as sedas, as especiarias, os corantes, o chá, as porcelanas e os planos de algodão indianos, muito apreciados na Europa pela sua finura e qualidade. O domínio territorial britânico permitiu também o controlo das produções agrícolas (açúcar, açafrão, índigo, seda, algodão) que os britânicos exploraram consoante as suas necessidades, impondo produções e taxas aos agricultores asiáticos. Para além do lucrativo comércio Ásia-Europa, os ingleses imiscuíram-se nos circuitos de troca de locais, o country trade. Em finais do século XVIII, 85 a 90% das transações externas da índia estavam nas mãos da Companhia que, naturalmente, manipulava os preços a seu favor. Este protagonismo nos circuitos locais deu aos ingleses o primeiro lugar no porto de Cantão, o único espaço comercial que a fechada da China proporcionava aos europeus. Aí adquiriram sedas, porcelanas e chá, que pagavam com tecidos e ópio indianos e com remessas de ouro e prata que, com esse fim, chegavam da metrópole. No Tamisa, os cais da East India Company apinhavam-se de produtos e os seus navios partiam e chegavam, num vaivém incessante. Nos finais do século XVIII, o Oriente tornara-se, para a opinião pública inglesa, um símbolo de abundância, de luxo e de poder. Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 7. Capitulo 2 Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias O sistema financeiro A superioridade inglesa assentava, também, num sistema financeiro avançado, facilitador do desenvolvimento económico. Em Londres funcionava, desde o fim do século XVI, uma das primeiras bolsas de comércio da Europa, criada como instituição privada, depressa foi reconhecida pelo Estado que lhe conferiu a condição de Royal Exchange. Nela se contratava a dívida pública e se cotaram as primeiras ações da Companhia das Índias Orientais. Assim nasceu a bolsa de valores londrina, ainda hoje uma das mais importantes do mundo. A prosperidade da Companhia das Índias desenvolveu de tal forma o mercado acionista aos quais se juntaram, pouco depois, as ações do Banco de Inglaterra. A atividade bolsista foi um importante fator de prosperidade económica, já que permitiu canalizar as poupanças particulares para o financiamento de empresas, alargando assim o mercado de capitais. Adquirir títulos do Estado ou ações de uma companhia passou a ser uma forma de aplicação do dinheiro que, gerando perspetivas de bons lucros, atrai, até hoje, numerosos investidores. A operacionalidade do sistema financeiro foi reforçada em 1694, com a criação do Banco de Inglaterra. Este banco, que em grande parte seguia os moldes do célebre Banco de Amesterdão, estava essencialmente vocacionado para realizar todas as operações necessárias ao grande comércio: a aceitação de depósitos, transferências de conta a conta, desconto de letras e também financiamentos, sempre que era necessário. Além destas operações, banco tinha ainda a capacidade de emitir notas, que circulavam como uma verdadeira moeda. Embora este primeiro papel-moeda pudesse ser, em qualquer momento, convertido em ouro, o valor das notas em circulação ultrapassou largamente a reservas metálicas do banco, fornecendo assim os meios de pagamento necessários ao incremento dos pequenos negócios. A atividade do Banco de Inglaterra foi complementada pela dezenas de pequenas instituições – os country banques –, que, espalhadas pelo país, realizavam em escala mais reduzida, o mesmo tipo de operações. Servindo de base à prosperidade do comércio e à gestão capitalista do setor agrícola, esta estrutura financeira constituiu também o ponto de apoio da maior de todas as mudanças económicas: a Revolução Industrial. O arranque industrial O processo da industrialização iniciou-se em Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, sob o impulso de um conjunto vasto de fatores os avanços agrícolas, a dinâmica demográfica, o alargamento dos mercados, a capacidade empreendedora dos britânicos e, é claro, o avanço tecnológico. Nesta época, uma cadeia de inovações revolucionou a indústria. A aplicação de um melhoramento técnico numa das fases de fabrico gerava quase de imediato desequilíbrios na produção, que só podiam ser corrigidos através de novos inventos e adaptações. O mundo em que hoje vivemos mostra-nos bem que, uma vez desencadeada, “a inovação tecnológica é um processo que tende a acelerar-se”. A indústria têxtil Foi o aumento da procura, interna e externa, bem como a abundância de matéria-prima, proporcionada pelas colónias, que impulsionaram os progressos no setor algodoeiro. O ciclo terá começado com a invenção da lançadeira volante por John Kay. Era um mecanismo simples que permitia aumentar a largura dos tecidos e multiplicava por 10 a produtividade do tecelão. Uma vez difundida, não tardou que escasseasse o fio, já que os processos de fiação se mantinham os mesmos, deixando os teares amiúde parados. Uma nova máquina de fiar, a Jenny, veio solucionar o problema. Inventada por James Hagreaves, em 1765, permitia a uma só fiandeira trabalhar sete ou oito fios ao mesmo tempo. Mais tarde, este número elevou-se para 80 fios, o que provocou um novo desequilíbrio entre as duas fases produtivas, desta vez de sentido inverso. Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 8. Capitulo 2 Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias A dinâmica assim adquirida repercutiu-se em novos melhoramentos, quer na tecelagem, quer na fiação e na estampagem, originando um inédito aumento de produtividade e de produção: em 1780, a indústria algodoeira britânica transformava 5 milhões de libras de algodão bruto: dez anos passados, esta cifra elevava-se para 15 milhões, duplicando sucessivamente nos decénios seguintes. “Se houve um take off (arranque industrial) a seguir a 1787, o algodão foi efetivamente o responsável”. A simplicidade das primeiras máquinas têxteis e o seu reduzido custo permitiram o estabelecimento inicial de pequenas empresas, de capital muito modesto. Tendo em conta os lucros elevados (mais de 20%), as primeiras unidades industriais puderam crescer rapidamente, transformando os artesãos mais expeditos em indústrias bem-sucedidos. A metalurgia O desenvolvimento do setor têxtil foi acompanhado, de perto, pelo da metalurgia que, fornecedora de máquinas e outros equipamentos, se tornava indispensável aos progressos da industrialização. No início do século XVIII, Abraham Darby, deu o primeiro passo para resolver o problema do combustível necessário a este setor, utilizando, na fusão do ferro, o coque em vez de carvão vegetal. Obtido a partir da hulha, muito abundante no subsolo inglês, o uso do coque não exigia, como o carvão de madeira, o abate de árvores, que colocava grandes entraves á expansão da indústria. A maior capacidade calorífica do coque, a aplicação de foles para ventilação dos altos-fornos e outros melhoramentos introduzidos nas fundições permitiram melhorar a qualidade e aumentar a produção. A força do vapor Em todo este processo de modernização coube ao engenheiro escocês James Watt um papel central. Havia muito tempo que se procurava aproveitar a força expansiva do vapor como força motriz. No entanto, permaneciam por resolver diversos problemas técnicos, pelo que as poucas máquinas existentes pouca aplicação tinham. Em 1763, James Watt, que se estabelecera em Glasgow com uma oficina de instrumentos de precisão, foi chamado a reparar uma máquina de Newcomen, engenho a vapor correntemente utilizado para bombear a água das minas. Foi então que impôs a si próprio o desafio de conceber uma “bomba de fogo” mais eficiente e versátil. Pouco depois, registava a primeira patente, dedicando os anos seguintes a aperfeiçoar o seu maquinismo. A máquina a vapor de James Watt constituiu o primeiro motor artificial da História. Com ela foi possível mover teares, martelos, locomotivas, enfim, todo o tipo de maquinismos que, anteriormente, dependiam do trabalho humano ou das forças da Natureza. A manufatura cedera lugar à maquinofatura, cerne da Revolução Industrial. Da crise comercial de finais do século XVII à apropriação do ouro brasileiro pelo mercado britânico País europeu de vocação atlântica, Portugal partilha os destinos da Europa e as flutuações do seu comércio. O século XVII, passa-o o nosso país sob o signo das dificuldades económicas, que procura resolver implementando medidas protecionistas. Já o século XVIII se mostra mais propício. A descoberta de ouro, no Brasil, traz um desafogo financeiro breve, mas intenso, que marca o reinado de D. João V; na segunda metade do século, é a ação do Marquês de Pombal que impulsiona a vida económica, conduzindo o país a um período de acentuada prosperidade. No século XVII, Portugal vivia sobretudo da reexportação dos produtos coloniais, tais como o açúcar, o tabaco e as especiarias. Ora, em meados do século XVII, os holandeses, expulsos do Brasil, transportaram para as Pequenas Antilhas as técnicas de produção de açúcar e tabaco que, no litoral brasileiro, tinham aprendido. Estes cultivos rapidamente se generalizaram também aos territórios franceses e ingleses. Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 9. Capitulo 2 Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias Deste modo, Holanda, França e Inglaterra, que constituíam os nossos principais mercados, passam a consumir as suas próprias produções, reduzindo acentuadamente as compras feitas em Lisboa. Estas novas zonas produtoras, a política protecionista de Colbert e a concorrência sofrida no comércio asiático desencadearam uma crise comercial grave que, se não foi exclusivamente portuguesa, assumiu aqui maiores proporções que nos restantes países Europeus. Entre 1670 e 1692, época em que a crise atingiu o seu auge, os armazéns da nossa capital abarrotavam de mercadorias sem compradores. O excesso de oferta refletiu-se, de forma dramática nos preços, que baixaram sem cessar. Para cúmulo decaíram as vendas de sal aos mercadores holandeses que aqui deixavam, em troca, a boa prata espanhola adquirida em Sevilha. Esta grave crise privou Portugal dos meios necessários ao pagamento dos produtos industriais que importava. Produzir internamente o que até aí se adquiria ao estrangeiro pareceu aos nossos governantes a solução mais viável. O surto manufatureiro Embora a ideia de industrializar o país estivesse já na forja, foi o impacto da obra Discurso sobre a introdução das Artes de Reyno, de Duarte Ribeiro de Macedo, embaixador em Paris, e por isso muito em contacto com o colbertismo, que deu o impulso necessário ao arranque das manufaturas portuguesas. Nesta política distinguiram-se os vedores da Fazenda de Pedro II, D. João de Mascarenhas, 1º marquês de Fronteira, e, sobretudo, D. Luís de Meneses, 3º Conde de Ericeira. Desde que assumiu o cargo, em 1675, este ministro, a quem chamaram o Colbert português, procurou equilibrar a balança comercial do reino substituindo as importações por antigos de fabrico nacional. Neste sentido: procedeu à contratação de artífices estrangeiros, sobretudo ingleses, holandeses e venezianos; criou indústrias, às quais concedeu privilégios e subsídios, como as de vidros, de fundição de ferro e de tecidos. Foi este último setor que maior atenção mereceu, estabelecendo-se o fabrico das sedas e, sobretudo, o dos lanifícios, que persistiu até aos nossos dias, na Covilhã e no Fundão; praticou uma política protecionista da indústria nacional, através da promulgação de leis pragmáticas que proibiam o uso de diversos produtos de luxo importados, tais como chapéus, rendas, brocados, tecidos, etc; recorreu à desvalorização monetária com o fim de tornar os produtos portugueses competitivos no mercado externo e, simultaneamente, encarecer os artigos que, de fora, nos chegavam; Ainda de acordo com os preceitos do Mercantilismo, criaram-se várias companhias monopolitas, às quais se deram privilégios fiscais: a Companhia do Cachéu, para tráfico de escravos, a Companhia do Maranhão, para comércio brasileiro, entre outras. A inversão da conjuntura e a descoberta do ouro brasileiro Cerca de 1690, a crise comercial dá sinais de se extinguir e as exportações portuguesas saem, então, do marasmo em que se encontravam: escoavam-se os stocks dos armazéns, os preços das mercadorias coloniais elevam-se e, em simultâneo, reativam-se as vendas dos tradicionais produtos do reino: o sal, o azeite e, sobretudo, o vinho impõe-se nos mercados internacionais. Quis o acaso que a esta retoma do setor comercial se viesse juntar a concretização de um velho sonho: a descoberta de importantes jazidas de ouro no interior do Brasil. A esperança de que o subsolo brasileiro albergasse riquezas semelhantes ás da América espanhola nasceu logo no início da colonização. Porém, durante muito tempo, nenhuma quantidade significativa de ouro foi encontrada, apesar das muitas expedições ou entradas que, partindo do litoral, se embrenhavam no sertão. Estas expedições, na sua grande maioria de iniciativa particular, tiveram como centro São Paulo, vila inicialmente habitada por gente de poucos recursos que, não tendo possibilidades de adquirir escravos Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 10. Capitulo 2 Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias negros para atividades domésticas e agrícolas, recorriam ao apresamento e comércio dos gentios. Embora formalmente proibido pela lei (que protegeu, desde cedo, o índio brasileiro), a captura destes escravos era rendosa o suficiente para motivar colonos e aventureiros que, organizados de forma paramilitar e empunhando um estandarte – daí o nome de bandeiras dado a estas exposições –, afrontavam os muitos perigos do sertão. Foi a estas bandeiras e aos seus bandeirantes que ficou a dever-se a descoberta das jazidas de ouro. Inicia-se então o período de pesquisa intensa, que a Coroa portuguesa procurou estimular. Uma súbita sensação de riqueza invadiu então Portugal. Só entre 1695 e 1703, o país recebeu mais ouro do que, no seu conjunto, nos tinha chegado da Guiné e Mina. Ao todo, na primeira metade do século XVIII, terão entrado no país cerca de 500 toneladas do metal amarelo. Suporte do esplendor que durou o reinado de D. João V, o ouro brasileiro não se revelou um incentivo ao desenvolvimento económico. Pelo contrário, cumpriram-se os temores do governador-geral D. João de Lencastre que, em 1701, num “papel sobre a recadaçam dos quintos do ouro das minas”, manifestava a sua apreensão face à possibilidade de vir a “sair o ouro pelo mesmo Tejo por onde entrasse”. A apropriação do ouro brasileiro pelo mercado britânico À medida que a crise comercial se desvanecia, Portugal via-se novamente em situação de poder adquirir, no estrangeiro, os produtos industriais necessários ao consumo interno. Para mais, a liquidez proporcionada pelo ouro brasileiro permitia redobradas facilidades de pagamento. Neste contexto, o país encontra, de novo, a sua vocação mercantil e o esforço industrializador esmorece. A incapacidade de fazer cumprir as Pragmáticas, bem como a fraca qualidade dos produtos fabricados, concorreu também para a decadência das nossas unidades industriais. Em 1703, o projecto industrializador recebe mais um rude golpe: a assinatura entre Portugal e Inglaterra, do Tratado de Methuen. Nos termos deste acordo, os tecidos de lã ingleses e outras manufaturas seriam permitidos sem restrições em Portugal, anulando, assim, as leis pragmáticas que os proibiam. Em troca, os vinhos portugueses entrariam em Inglaterra pagando apenas dois terços dos direitos exigidos aos vinhos franceses. Na realidade o tratado não fez mais do que acelerar os processos já em curso. Desde meados do século XVII que os portugueses pagavam em benefícios económicos o da Inglaterra à causa da Restauração. Os ingleses encontravam-se, por isso, numa posição privilegiada. O Tratado de Methuen estimulou o crescimento das exportações dos nossos vinhos que, desde então, ficaram para sempre no gosto dos ingleses, mas originou uma dependência alarmante neste setor: em 1777 o mercado britânico representava 94% das nossas exportações vinícolas! Simultaneamente, o défice comercial com Inglaterra atingia cifras alarmantes. Este défice esvaziou a riqueza vinda do Brasil. Cerca de três quartos de todo o ouro recebido foi parar às mãos dos ingleses. A política económica e social pombalina Em meados do século XVIII, quando as remessas de ouro brasileiro começaram a diminuir, Portugal viu-se a braços com uma nova crise, de contornos muito muito semelhantes aos que tinham enquadrado as medidas económicas do Conde de Ericeira: a debilidade da produção interna, dificuldades de colocação, no mercado, dos produtos brasileiros, excessiva intromissão das outras nações no nosso comércio colonial, défice crónico da balança comercial. A crise e a consciência da nossa excessiva dependência face à Inglaterra coincidiram com o governo do Marquês de Pombal, ministro todo-poderoso do rei D. José I. Homem de ferro, político impedioso mas estadista de vulto, o Marquês pôs em prática um conjunto de medidas tendentes ao reforço da economia nacional, suporte imprescindível à grandeza do rei e do Estado que servia. Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978
- 11. Capitulo 2 Resumos de História 11 ano – Mercedes Maias Os grandes objetivos da política pombalina foram a redução do défice e a nacionalização do sistema comercial português, passando o seu controlo e os seus benefícios para as mãos dos nacionais. Sendo máximas mercantilistas. Pombal impôs ao Estado: em 1755, cria a Junta do Comércio, órgão com amplos poderes ao qual passou a competir a regulação de boa parte da atividade económica do reino; reorganiza o comércio através da criação de companhias monopolistas; revaloriza o setor manufatureiro, procedendo à reutilização das indústrias existentes e à criação de novas; Pertencentes ao Estado ou a particulares, todas as manufaturas pombalinas recebem privilégios e foram das técnicas mais adequadas, tendo Portugal acolhido, de novo, reputados artífices estrangeiros. Consciente de que o progresso económico passava pela promoção da burguesia, o Marquês procurou valorizar a classe mercantil, conferindo-lhe maior estatuto e tornando-a mais capaz. Foi assim que, em 1759, se criou em Lisboa, sob a designação de Aula do Comércio, a primeira escola comercial da Europa. Alguns anos depois em 1770, o grande comércio foi declarado “profissão nobre, necessária e proveitosa”, conferindo à alta burguesia, acionista das dignidades. Igualmente se ficou a dever a Pombal o fim da distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos, bem como a subordinação do Tribunal do Santo Oficio à Coroa. A prosperidade comercial dos finais do século XVIII Os resultados da política pombalina não tardaram a fazer-se sentir. As áreas sob controlo das companhias prosperaram, desenvolveram-se produtos coloniais como o algodão, o café e o cacau, em muitos ramos da indústria as produções internas substituíram, cabalmente, as importações e aumentaram também as exportações, para o Brasil, de produtos manufaturados da metrópole. Nos decénios que se seguiram, foi graças às medidas pombalinas que Portugal viveu a sua melhor época comercial de sempre: entre 1796 e 1807, a balança comercial obteve saldo positivo, revelando-se superavitária em relação à maioria dos nossos parceiros comerciais. Estes resultados foram também possíveis graças a uma conjuntura externa favorável. Guerras e revoluções afetaram o comércio francês e inglês, contribuindo para devolver a Lisboa um pouco da sua antiga grandeza como entreposto atlântico. Descarregado por Ana Beatriz (anaf14122008@gmail.com) lOMoARcPSD|33566978