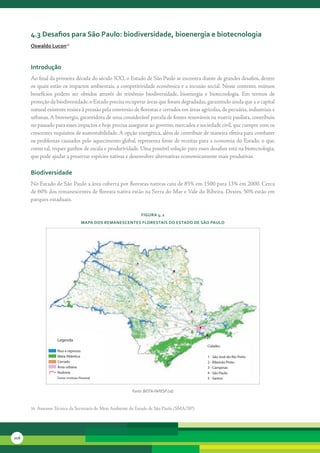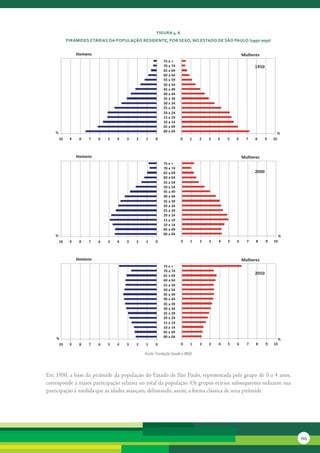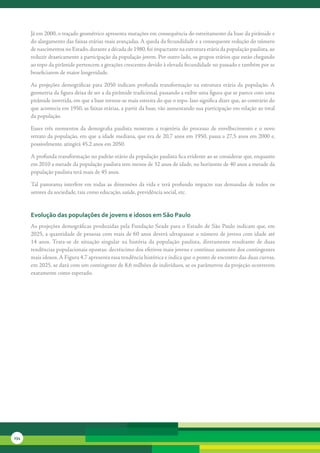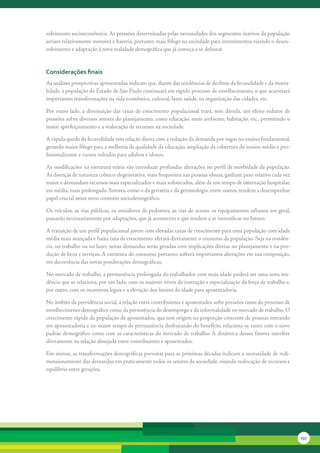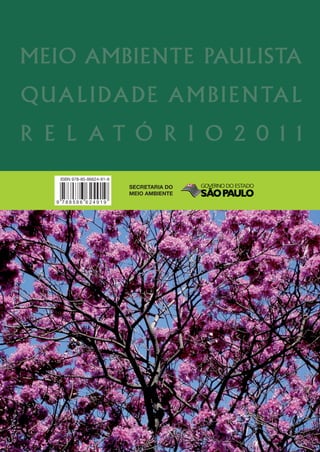Relatório de Qualidade Ambiental 2011
- 1. M E I O A M B I E N T E P A U L I S TA RelatóRio de Qualidade ambiental 2011 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO S E C R E TA R I A D O M E I O A M B I E N T E
- 2. Governo do estado de são Paulo Geraldo Alckmin Governador secretaria do Meio aMbiente Bruno Covas Secretário coordenadoria de Planejamento ambiental Nerea Massini Coordenadora
- 3. Ficha catalográfica – preparada pela Biblioteca - Centro de Referências de Educação Ambiental S24m São Paulo (Estado). Secretaria do Meio Ambiente / Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Meio Ambiente Paulista: Relatório de Qualidade Ambiental 2011. Organização: Fabiano Eduardo Lagazzi Figueiredo. São Paulo: SMA/CPLA, 2011. 256p. ; 21 x 29,7 cm. Vários autores. Bibliografia. ISBN – 978-85-86624-91-9 1 . Meio ambiente paulista 2. Qualidade ambiental – São Paulo (Est.) I. Título II. Figueiredo, Fabiano Eduardo Lagazzi.
- 4. Meio aMbiente Paulista relatório de Qualidade ambiental 2011 organizador Fabiano Eduardo Lagazzi Figueiredo São Paulo, 2011 1ª edição Governo do estado de são Paulo secretaria do Meio aMbiente coordenadoria de Planejamento ambiental INSTITUTO Instituto de Botânica FLORESTAL
- 6. Governo do estado de são Paulo Geraldo Alckmin Governador secretaria do Meio ambiente Bruno Covas Secretário coordenadoria de Planejamento ambiental Nerea Massini Coordenadora departamento de informações ambientais Arlete Tieko Ohata Diretora centro de diagnósticos ambientais Fabiano Eduardo Lagazzi Figueiredo Diretor equipe técnica Aline Bernardes Candido – SMA/CPLA Denis Delgado Santos – SMA/CPLA Edgar Cesar de Barros – SMA/CPLA Eloisa Marina Gimenez Torres – SMA/CPLA Fabiano Eduardo Lagazzi Figueiredo – SMA/CPLA Fernando Augusto Palomino – SMA/CPLA Fredmar Corrêa – SMA/CPLA Gabriela Antoniol (Estagiária) – SMA/CPLA Heitor da Rocha Nunes de Castro – SMA/CPLA Marcio da Silva Queiroz – SMA/CPLA Nádia Gilma Beserra de Lima – SMA/CPLA Paulo Eduardo Alves Camargo-Cruz – SMA/CPLA Antonio Carlos Moretti Guedes – SMA/IG Claudio José Ferreira – SMA/IG Mara Akie Iritani – SMA/IG Maria José Brollo – SMA/IG Sonia Aparecida Abissi Nogueira – SMA/IG
- 8. colaboradores Alfred Szwarc Ana Cristina Pasini da Costa Bernadette Cunha Waldvogel Boris Alexandre Cesar Carlos Eduardo Beato Carlos Eduardo Komatsu Carlos Eugenio de Carvalho Ferreira Carlos Ibsen Vianna Lacava Carmen Lúcia V. Midaglia Claudia Conde Lamparelli Diego Vernille da Silva Eduardo Pires Castanho Filho Helena de Queiroz Carrascosa Von Glehn Hylder Barbosa Jean Paul Metzger João Luiz Potenza Luciana Martins Fedeli Britzki Marcello de Souza Minelli Marco Nalon Maria Helena R. B. Martins Marilda de Souza Soares Marta Conde Lamparelli Marta Pereira Militão da Silva Neide Araújo Nelson Menegon Jr. Oswaldo Lucon Paulo Magalhães Bressan Priscila Costa Carvalho Renata Inês Ramos Ricardo Vedovello Richard Hiroshi Ouno Rodrigo Antonio Braga Moraes Victor Rosa Maria Mancini Rosângela Pacini Modesto Sinésio Pires Ferreira Thais Michelle Oliveira Tiago de Carvalho Franca Rocha Uladyr Ormindo Nayne Vanessa Gontijo de Oliveira Vera Lúcia Bononi Wanda Maldonado Projeto Gráfico Griphos Comunicação & Design capa Vera Severo Fotos da capa Capa: Foto superior – Vera Severo Foto inferior – Antonio Augusto da Costa Faria 4ª Capa: Maria do Rosário F. Coelho Orelha da 1ª capa: Foto superior – Fausto Pires de Campos Foto inferior – Clayton Ferreira Lino Orelha da 4ª capa: Foto superior – Acervo do Instituto Florestal Foto inferior – Pedro Bernardo editoração eletrônica Teresa Lucinda Ferreira de Andrade ctP, impressão e acabamento Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
- 12. apresentação da coordenadora O Relatório de Qualidade Ambiental 2011 traz um panorama do meio ambiente do Estado de São Paulo, demonstrado através dos dados, índices e indicadores que compõe o documento, concentrados nos principais temas em que o ambiente paulista pode ser decomposto, como recursos hídricos, recursos pesqueiros, saneamento ambiental, solo, biodiversidade, ar, mudanças climáticas e saúde ambiental. As informações contidas no Relatório, obtidas de diversos órgãos da administração pública, retratam o estado em que o meio ambiente paulista se encontra e suas imbricações com os setores produtivos (agrícolas/ industriais), econômicos e com a saúde humana. Estas informações são complementadas por textos analíticos que permitem a construção de um cenário mais amplo, possibilitando a revisão das linhas de ação em busca de maior eficiência do poder público na área ambiental. O Relatório de Qualidade Ambiental proporciona aos gestores públicos estaduais e municipais uma fonte de informações que auxilia diretamente nas decisões concernentes ao meio ambiente, qualificando e harmonizando o processo decisório com a política ambiental paulista. Oferecer à sociedade paulista um instrumento que possibilite a inserção da sustentabilidade ambiental como primordial nas discussões sobre o desenvolvimento no Estado de São Paulo, é o objetivo e sentido deste Relatório de Qualidade Ambiental. É fundamental que este documento cumpra o seu papel de orientação, posicionamento e alerta, particularmente no momento em que o meio ambiente tem um crescente relevo nas decisões sobre o desenvolvimento paulista. Nerea Massini Coordenadora Coordenadoria de Planejamento Ambiental Secretaria do Meio Ambiente
- 14. abordagem básica O Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo 2011 (RQA) é composto por três partes prin- cipais (Capítulos 2, 3 e 4) e por um banco de dados. Segue-se, com isso, o conceito de oferecer informações em múltiplos níveis para usuários e leitores com necessidades, disponibilidade e interesses diferenciados. A estrutura do relatório reflete este conceito. Após uma breve introdução (Capítulo 1), o Capítulo 2 traz uma descrição do Estado de São Paulo e das Unida- des de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) em que o mesmo se subdivide, apresentando dados que apontam as principais dinâmicas demográficas, sociais, econômicas e de ocupação do território. No Capítulo 3 são compiladas informações referentes aos temas em que o status ambiental do Estado pode ser decomposto, apresentando-se descrições sumárias (diagnósticos) sobre a situação corrente e tendências futuras dos recursos hídricos, recursos pesqueiros, saneamento ambiental, solo, biodiversidade, ar, mudanças climáticas e saúde am- biental. No Capítulo 4 são encontrados os textos analíticos. Trata-se de reflexões acerca de temas estratégicos que buscam compreender as relações entre desenvolvimento e meio ambiente no Estado de São Paulo. O RQA completa-se ainda com um banco de dados que inclui extenso conjunto de variáveis e indicadores econômicos, sociais e ambientais, que está disponível no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (www.ambiente. sp.gov.br/cpla).
- 15. siglas ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas AC - Área Contaminada AEM - Avaliação Ecossistêmica do Milênio AI - Área Contaminada sob Investigação AMR - Área em processo de Monitoramento para Reabilitação AOGCM - Modelos Globais Acoplados Oceano-Atmosfera APA - Área de Proteção Ambiental APP - Área de Preservação Permanente AR - Área Reabilitada BEESP - Balanço Energético do Estado de São Paulo BINEV - Bolsa Internacional de Negócios da Economia Verde CBRN - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais CDB - Convenção sobre a Diversidade Biológica CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano CEDEC - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil CESA - Conferência Estadual de Saúde Ambiental CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CLT - Consolidação das Leis do Trabalho CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNSA - Conferência Nacional de Saúde Ambiental CNUMAD - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo COP - Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica CPTEC - Centro de Previsão do Tempo e Estudos do Clima CPLA - Coordenadoria de Planejamento Ambiental CRHi - Coordenadoria de Recursos Hídricos DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral EMAP - Efetividade de Manejo de Áreas Protegidas EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano ESP - Estado de São Paulo ETE - Estação de Tratamento de Esgoto FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FF - Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas GCM - Modelos Globais Atmosféricos GEE - Gás de Efeito estufa
- 16. IAA - Índice de Atendimento de Água IAP - Índice de Qualidade de Água para fins de Abastecimento Público IB - Índice de Balneabilidade IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBot - Instituto de Botânica ICCA - Associação Internacional de Congressos e Convenções ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICTEM - Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto do Município IDH - Índice de Desenvolvimento Humano IEA - Instituto de Economia Agrícola IET - Índice de Estado Trófico IF - Instituto Florestal IG - Instituto Geológico IGR - Índice de Gestão dos Resíduos Sólidos IHME - Institute for Health Metrics and Evaluation INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais IPAS - Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social IQA - Índice de Qualidade de Água IQC - Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem IQG - Índice de Qualidade de Gestão de Resíduos Sólidos IQR - Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos IUCN - União Internacional para a Conservação da Natureza IVA - Índice de Qualidade de Água para proteção da Vida Aquática LUPA - Levantamento Censitário de Unidades de Produção Agrícola do Estado de São Paulo MBSCG - Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global MCidades - Ministério das Cidades MCR - Modelo Climático Regional MMA - Ministério do Meio Ambiente MPA - Ministério da Pesca e Aquicultura MS - Ministério da Saúde NFS - Novo Fundo Social OMM - Organização Meteorológica Mundial ONU - Organização das Nações Unidas PAE - Projeto Ambiental Estratégico PCJ - Piracicaba/Capivari/Jundiaí PEMC - Política Estadual de Mudanças Climáticas PERH - Plano Estadual de Recursos Hídricos PIB - Produto Interno Bruto
- 17. PMS - Plano Municipal de Saneamento PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PPDC - Plano Preventivo de Defesa Civil PQAr - Padrão de Qualidade do Ar PRA - Programa de Recuperação Ambiental PROCLIMA - Programa Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores PROMOT - Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares PROZONESP - Programa Estadual de Prevenção a Destruição da Camada de Ozônio QUALAR - Sistema de Informações da Qualidade do Ar RAIS - Relação Anual de Informações Sociais RL - Reserva Legal RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista RMC - Região Metropolitana de Campinas RMSP - Região Metropolitana de São Paulo RQA - Relatório de Qualidade Ambiental RSD - Resíduos Sólidos Domiciliares SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SDO - Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados SELT - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo SIH - Sistema de Informações Hospitalares SMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação SRES - Special Report on Emissions Scenarios ST - Substâncias Tóxicas SUS - Sistema Único de Saúde TCRA - Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental TDSC - Setor de Clima e Energia TMI - Taxa de Mortalidade Infantil UC - Unidade de Conservação UGRHI - Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) UNESP - Universidade Estadual Paulista UNICA - União da Indústria da Cana-de-Açúcar UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas UPA - Unidade de Produção Agrícola USP - Universidade de São Paulo ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico
- 18. sumário 1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................1 2. CARACTERIZAÇÃO E DIVISÃO GEOGRÁFICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ........................5 2.1 Caracterização das Bacias Hidrográficas .............................................................................10 2.2 Caracterização das Dinâmicas Territoriais ...........................................................................44 3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO ...................................................63 3.1 Recursos Hídricos ...............................................................................................................65 3.2 Recursos Pesqueiros ......................................................................................................... 101 3.3 Saneamento Ambiental .................................................................................................... 107 3.4 Solo .................................................................................................................................. 123 3.5 Biodiversidade..................................................................................................................144 3.6 Ar ..................................................................................................................................... 163 3.7 Mudanças Climáticas ........................................................................................................ 170 3.8 Saúde e Meio Ambiente.................................................................................................... 181 4. VISÕES AMBIENTAIS ............................................................................................................. 195 4.1 O fortalecimento da segurança alimentar e ambiental no Estado de São Paulo na concepção do novo Código Florestal brasileiro .............................................................198 4.2 O Código Florestal tem Base Científica?............................................................................206 4.3 Desafios para São Paulo: biodiversidade, bioenergia e biotecnologia ...............................216 4.4 A Alcoolquímica no cenário futuro da cana-de-açúcar.......................................................224 4.5 Transição demográfica e envelhecimento populacional no Estado de São Paulo ...............229
- 20. 1 introdução
- 21. 2
- 22. Num grande número de países atribui-se importância crescente para um processo de transição para o desen- volvimento sustentável, cujo ritmo e cuja intensidade, no Brasil e no Estado de São Paulo, encontram-se aquém da urgência que as evidências científicas não cessam de trazer à tona. O ponto de partida desta transição reside na pergunta formulada, desde o início desta década, pela Avaliação do Milênio (UNEP, 2003): qual o estado atual e as tendências referentes aos ecossistemas e como se associam ao bem estar humano? A resposta para o Estado de São Paulo inspira preocupação quando se leva em conta a qualidade do ar, a poluição hídrica, o esgotamento das fontes de água para abastecimento da população metropolitana, a concentração demográfica em áreas de risco, a erosão em terras agrícolas ou a tão pequena parcela remanescente (e ameaçada) de Mata Atlântica, entre outros fatores. A despeito dos enormes desafios, a força da sociedade civil paulista, o surgimento de organizações públicas, pri- vadas e associativas voltadas à preservação e ao uso sustentável da biodiversidade, o engenho de seu empre ariado s e o amadurecimento de suas instituições, fazem do Estado de São Paulo o líder nacional e uma impor ante figura t no cenário internacional, no processo de transição para uma economia voltada ao uso sustentável dos recursos de que depende. O protocolo que antecipou o fim das queimadas na colheita de cana-de-açúcar, a recuperação de 400 mil hectares em matas ciliares e o compromisso do Estado com a produção florestal sus entável na Amazô- t nia são exemplos expressivos desta transição. Este processo não depende apenas do Governo, mas também do setor privado e da sociedade civil. Acelerar a transição para o desenvolvimento sustentável é muito mais difícil que estimular a construção de estradas, a insta- lação de novas fábricas ou plantações. A sociedade sabe o que significa e adere, em geral sem hesitar, ao preceito de que é necessário crescer e criar empregos. No entanto, é menor a clareza sobre como fazê-lo de maneira susten- tável, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, interrompendo o processo de devastação da biodiversidade e diminuindo o uso da matéria e da energia necessários aos processos produtivos. Sob a perspectiva econômica, o maior objetivo do desenvolvimento sustentável consiste em promover o que diversos relatórios produzidos na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, chamam hoje de desligamento ou descasamento entre produção e uso de recursos: crescer reduzindo a pressão sobre os recursos materiais dos quais dependem as sociedades humanas (VAN DER VOET, 2005). É por isso que esta transição envolve também a maneira como Governo, sociedade civil e setor privado se re- lacionam com as informações socioambientais. Nesse sentido, o Estado de São Paulo, desde 2010, tomou a deci- são de modificar o conteúdo de seu Relatório de Qualidade Ambiental (RQA), procurando, mais do que expor informações sobre o estado do meio ambiente paulista, compreender os processos que explicam a maneira como se estabelece a relação entre sociedade e natureza e, a partir daí, melhorar as políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Essa inovação metodológica na elaboração do RQA paulista se traduz na incorporação na apresentação dos textos analíticos, que compõe o Capítulo 4 deste documento. Este conteúdo analítico visa apontar para relações causais que permitam compreender as razões da degradação ambiental, contribuindo, desta forma, para o tão ne- cessário processo de transição em direção ao desenvolvimento sustentável. Além disso, o método utilizado aqui vai na mesma direção com o que vem sendo feito na União Européia e no Japão, por exemplo, onde os relatórios ambientais têm uma ambição claramente analítica. A metodologia utilizada se baseia também, no que preconiza uma das principais vertentes voltadas ao estudo do tema: a Avaliação Ecossistêmica do Milênio, um programa de pesquisas lançado no início da década, com apoio das Nações Unidas, que insiste na constatação de que as sociedades humanas vivem hoje além de seus meios e que a capacidade de seus ecos istemas garantirem a reprodução e o desenvolvimento humano está se- s riamente ameaçada. Os textos que compõem o atual RQA procuram fazer esta constatação, compreender suas causas, a maneira como atualmente a sociedade paulista se organiza para enfrentar os problemas daí decorrentes, a inserção de suas atividades econômicas no contexto global e as medidas necessárias para intensificar a transição para o desenvol imento sustentável. v 3
- 23. É importante ressaltar que a estrutura do RQA segue o conceito de oferecer informações em múltiplos níveis para usuários e leitores com necessidades, disponibilidade e interesses diferenciados. Os capítulos do relatório refletem este conceito. O Capítulo 2 apresenta uma caracterização do Estado de São Paulo e das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) em que o Estado se subdivide, apresentando dados que apontam as principais dinâmicas demográficas, sociais, econômicas e de ocupação do território. No Capítulo 3 são compiladas informações referentes aos temas em que o status ambiental do Estado pode ser decomposto, apresentando-se descrições sumárias (diagnósticos) sobre a situação corrente e tendências futuras dos recur- sos hídricos, recursos pesqueiros, saneamento ambiental, solo, biodiversidade, ar, mudanças climáticas e saúde ambiental. No Capítulo 4 podem ser encontrados os textos analíticos. Trata-se de reflexões acerca de temas estratégicos que buscam apre nder as relações entre desenvolvimento e meio ambiente no Estado de São Paulo. e Conforme já observado, o RQA completa-se com um banco de dados que inclui extenso conjunto de variáveis e indicadores econômicos, sociais e ambientais, que está disponível no site da Secretaria de Estado do Meio Am- biente (www.ambiente.sp.gov.br/cpla). Três observações iniciais são necessárias: 1. Os textos analíticos não pretendem “esgotar” os temas em que se inserem, nem tampouco oferecer visão completa ou definitiva sobre o estado em que se encontra a relação entre a sociedade paulista e os ecos- sistemas em que ela se apóia. Não se trata de um levantamento de todos os problemas ambientais, mas de uma seleção passível de ser abordada nos limites de textos que procuram compreender as razões que provocam a degradação ambiental, os trunfos que permitem sua reversão e, tanto quanto possível, as políticas (para o setor público, privado e associativo) necessárias para fortalecer estes trunfos. 2. É preciso assinalar que este trabalho não tem a ambição de produzir informações primárias originais. Os textos são estruturados em torno de informações coletadas junto a órgãos oficiais e de trabalhos produzi- dos pela comunidade científica de São Paulo (formada por Universidades, Institutos de Pesquisa, ONGs e, em menor proporção, no setor privado). 3. Os textos descritivos (Capítulos 2 e 3 do RQA) se subdividem em dois conjuntos. Primeiramente (Ca- pítulo 2 – Caracterização e Divisão Geográfica do ESP) é dado um foco geográfico, agrupando as in- formações por Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI. Em seguida (Capítulo 3 – Diagnóstico Ambiental do ESP), as informações são apresentadas por temas. referências UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME – UNEP. Ecosystems and Human Well-being. A Framework for As- sessment. Washington: Island Press, 2003. VAN DER VOET, Ester; et.al. Policy Review on Decoupling: Development of indicators to assess decoupling of economic development and environmental pressure in the EU-25 and AC-3 countries. Leiden: European Commission, DG Environ- ment, 2005. 4
- 24. 2 caracterização e divisão Geográfica do estado de são Paulo 5
- 25. 6
- 26. Localizado na região Sudeste do Brasil (Figura 2.1), o Estado de São Paulo é o ente federativo de maior peso eco- nômico no País. Sua importância é atestada através da consistência de indicadores que refletem tanto a grandeza de sua indústria, de suas atividades ligadas ao agronegócio e ao setor financeiro, de seu comércio internacional e de sua população, quanto à capacidade de suas instituições de Pesquisa & Desenvolvimento promoverem avanços importantes em ciência e tecnologia, para apoiar, qualificar, fazer confiável e perpetuar o seu modelo de desen olvimento. v FiGura 2. 1 reGiões e estados constitutivos do brasil Fonte: IBGE, elaborado por SMA/CPLA (2010) Composto por 645 municípios e abrangendo uma área de 248.209 km2, o que corresponde a apenas 2,9% do território nacional, São Paulo apresenta a maior economia do país, com um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 1 trilhão, perfazendo 33% de toda a riqueza produzida no país, somada em pouco mais de R$ 3 trilhões para o ano de 2008 (SEADE, 2010a e IPEA, 2010). O Estado também possui a maior população entre as unidades federativas, com 41.252.160 habitantes, 21,6% do total de 190.732.694 habitantes contabilizados 7
- 27. no Brasil, de acordo com dados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010a). Com um PIB maior que o da Argentina, uma população equivalente à da Espanha e ocupando uma área quase igual à do Reino Unido, o Estado de São Paulo se torna um ator de peso nos cenários nacional e internacional. Tais comparações, apesar de generalistas, mostram a importância de São Paulo nos mais diversos âmbitos. Vale também destacar o Estado de São Paulo como sendo um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com imensa di ersidade cultural, paisagística e de atrativos, é o estado que mais emite e mais recebe turistas no país. v Dos 30 destinos turísticos brasileiros mais visitados, cinco estão em São Paulo: Praia Grande, Ubatuba, Cara- guatatuba, Santos e a capital São Paulo (SELT/FIPE, 2008). Com relação a sua biodiversidade, os biomas originais encontrados em território paulista são a Mata Atlântica e o Cerrado. À época do descobri ento, a Mata Atlântica recobria aproximadamente 81% da área do Estado, m com o restante sendo ocupado prin ipalmente pelo Cerrado e pelos campos naturais. Pastagens para o gado, c culturas agrícolas, reflorestamento de espécies comerciais, extensas áreas de cana-de-açúcar e áreas urbanizadas, foram tomando conta dos espaços deixados pelos ecossistemas originais, cujos remanescentes atualmente co- brem 17,5% do território (IF, 2010). A cidade de São Paulo, capital homônima do Estado, é a maior cidade do país e do Hemisfério Sul, contando com uma população de 11,2 milhões de habitantes. Já a Região Metropolitana de São Paulo que, além da capital, é composta por mais 38 municípios, possui, dentro de seus limites, população de aproximadamente 20 milhões habitantes. O tamanho da maior metrópole do país é similar ao da cidade norte-americana de Nova York e está entre as cinco maiores conurbações do mundo. O Estado de São Paulo conta ainda com as regiões metropo- litanas de Campinas e da Baixada Santista, que possuem população estimada de 2,8 milhões e 1,7 milhão de habitantes, res ectivamente (IBGE, 2010a). p A proximidade geográfica e os laços sociais e econômicos entre as três regiões metropolitanas e suas adjacên ias, c juntamente com as regiões do Vale do Paraíba, de Sorocaba e de Piracicaba, fizeram com que esta região cres- cesse de forma vertiginosa nas últimas décadas. Essa conformação é denominada Macrometrópole Paulista, um aglo erado de pessoas, indústrias e serviços que possui os maiores aeroportos de passageiros do país (Guarulhos m e Congonhas), o maior aeroporto de cargas (Viracopos), o maior porto (Santos) e parte das melhores rodo ias e v infra-estrutura instalada. Também estão localizadas na região, universidades e institutos de pesquisa renomados como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade Estadual Paulista (UNESP), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), além de inúmeras empresas e indústrias de grande importância nacional. Esta macrometró- pole, formada por 102 municípios, segundo a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA, 2008), detém 11% do território do Estado e 0,3% do País. Abriga 70% da população paulista e 15% da brasileira, além de produzir cerca de 80% do PIB estadual e 27% do nacional. Apesar da envergadura desta macrometrópole, existem algumas cidades do interior do Estado, situadas fora da mesma, que estão entre as que mais crescem, se consolidando como importantes pólos regionais. São cidades de porte grande ou médio espalhadas por todo o território paulista, como: Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara, São Carlos, Barretos, entre outras. Estão estrate- gicamente situadas em locais dotados de boa infra-estrutura de transportes e de tecnologia, o que possibilita o desenvolvimento e a conexão das mesmas com outras regiões do Brasil. Territorialmente, com o objetivo de propor formas de gestão descentralizada, o Estado de São Paulo, atra- vés de sua Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 7.663/91), adotou as bacias hidrográ- ficas como unidades de gestão e planejamento. Dessa forma, foram discutidas e aprovadas pelo Conselho 8
- 28. Estadual de Recursos Hídricos, 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), que integram a atual divisão hidrográfica do Estado. As UGRHI constituem unidades territoriais “com dimen- sões e características que permitam e justifiquem o gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos” (artigo 20 da Lei Estadual n° 7.663/91) e, em geral, são formadas por partes de bacias hidrográficas ou por um conjunto delas. A Figura 2.2 que segue mostra a divisão hidrográfica do Estado, caracterizando as UGRHI quanto a sua vocação econômica, conforme definido na Lei Estadual nº 9.034/94, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos. FiGura 2. 2 unidades de GerenciaMento de recursos Hídricos do estado de são Paulo e suas vocações econôMicas Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota-se que as regiões mais urbanizadas (UGRHI 06, 05, 10, 07 e 02) têm perfil industrial, que tende a se es- praiar para partes do interior que atualmente se encontram em processo de industrialização. O oeste paulista é predominantemente ligado a atividades do setor primário, enquanto o sul do Estado, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte têm vocação para a conservação, pelo fato de possuírem significativos remanescentes de ve- getação nativa. Mais adiante se abordará com maior detalhe as características gerais dessas UGRHI. 9
- 29. 2.1 caracterização das bacias Hidrográficas 2.1.1 regiões Hidrográficas O Estado de São Paulo possui em seu território sete bacias hidrográficas, definidas e delimitadas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004 – 2007 (SÃO PAULO, 2005). Essas bacias são também comumente cha- madas de regiões hidrográficas, sendo, nestas sete regiões, que as 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do Estado se inserem. As regiões hidrográficas nada mais são que as principais vertentes hidrográficas do Estado, delimitadas natural- mente pelos divisores de água e constituídas por seus rios estruturantes e tributários. Vale ainda destacar que são esses rios estruturantes que dão nomes às regiões hidrográficas, em virtude da importância que os mesmos têm para a formação das bacias. A Figura 2.3 mostra as regiões/bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. FiGura 2. 3 reGiões HidroGráFicas do estado de são Paulo Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) As tabelas que seguem apresentam um detalhamento das regiões hidrográficas do Estado, indicando quais UGRHI compõe as mesmas, bem como apresentando algumas características gerais. 10
- 30. tabela 2. 1 reGião HidroGráFica da vertente Paulista do rio ParanaPaneMa uGrHi área (Km2) População 2010 14 – Alto Paranapanema 22.689 722.155 17 – Médio Paranapanema 16.749 666.039 22 – Pontal do Paranapanema 12.395 478.740 total 51.833 1.866.934 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 2 reGião HidroGráFica aGuaPeí/Peixe uGrHi área (Km2) População 2010 20 – Aguapeí 13.196 363.986 21 – Peixe 10.769 447.830 total 23.965 811.816 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 3 bacia HidroGráFica do rio tietê uGrHi área (km2) População 2010 05 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí 14.178 5.082.182 06 – Alto Tietê 5.868 19.510.594 10 – Sorocaba/Médio Tietê 11.829 1.845.831 13 – Tietê/Jacaré 11.779 1.480.934 16 – Tietê/Batalha 13.149 512.199 19 – Baixo Tietê 15.588 753.594 total 72.391 29.185.334 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 4 reGião HidroGráFica de são José dos dourados uGrHi área (km2) População 2010 18 – São José dos Dourados 6.783 224.153 total 6.783 224.153 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 5 reGião HidroGráFica da vertente Paulista do rio Grande uGrHi área (km2) População 2010 01 – Mantiqueira 675 64.802 04 – Pardo 8.993 1.108.472 08 – Sapucaí/Grande 9.125 670.716 09 – Mogi–Guaçu 15.004 1.450.200 12 – Baixo Pardo/Grande 7.239 333.077 15 – Turvo/Grande 15.925 1.234.068 total 56.961 4.861.335 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) 11
- 31. tabela 2. 6 bacia do rio Paraíba do sul uGrHi área (km2) População 2010 02 – Paraíba do Sul 14.444 1.992.468 total 14.444 1.992.468 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 7 reGião HidroGráFica da vertente litorânea uGrHi área (km2) População 2010 03 – Litoral Norte 1.948 281.778 07 – Baixada Santista 2.818 1.663.082 11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul 17.068 365.260 total 21.834 2.310.120 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) Merece destaque a Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, que conta com mais de 29 milhões de habitantes (71% de toda população paulista) e ocupa quase de 30% do território estadual. Além disso, a região abrange duas das mais importantes UGRHI do Estado: a do Alto Tietê e a do Piracicaba/Capivari/Jundiaí, que além de serem as mais populosas, são marcadas pelo grande enfoque industrial de suas atividades econômicas, além do grande número de universidades e estabelecimentos de serviços. 2.1.2 unidades de Gerenciamento de recursos Hídricos (uGrHi) Como já citado, o Estado de São Paulo se subdivide em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), cada uma composta por diversos municípios. Vale ressaltar que um determinado município pode compor mais de uma UGRHI, já que esta divisão não é definida pelo limite territorial dos municípios, mas sim pelo seu divisor de águas. Quando isso ocorre, o município é considerado pertencente à UGRHI em que sua sede municipal se situa. A seguir são apresentadas algumas características gerais das 22 UGRHI do Estado. uGrHi 01 – Mantiqueira A UGRHI 01 – Mantiqueira está caracterizada, quanto à sua vocação, como de conservação. Das vinte e duas bacias hidrográficas que compõem o Estado de São Paulo, a da Mantiqueira é a de menor espaço territorial, com 675 km2. Está conformada pelo menor número de municípios, apenas três (Figura 2.4), e apre enta o menor s contingente populacional dentre todas as bacias paulistas, segundo dados do IBGE (2010a), que contabilizou, em 2010, uma população de aproximadamente de 65 mil habitantes, aproximadamente 0,2% da população do Estado. Estima-se que em 2020 sua população alcance 77 mil habitantes (SEADE, 2010b). 12
- 32. FiGura 2. 4 uGrHi 01 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Em um Estado pobre em águas de superfície, é sempre importante ter-se em mente a disponibilidade hídrica de suas regiões constitutivas. Assim, a UGRHI 01 convive com a confortável situação de seus mananciais de superfície e subterrâneos disporem juntos de 10 m³/s para cobrir uma demanda da ordem de 1 m³/s (SMA/ CRHi, 2010). Como uma região voltada à conservação, expõe extensa cobertura vegetal nativa, que lhe confere, juntamente com uma visão panorâmica dos contrafortes e faldas da Serra da Mantiqueira, um ambiente favorável ao desen- volvimento das atividades do turismo, que caracteriza a principal atividade econômica da região. Campos do Jordão, com seus 48 mil habitantes (IBGE, 2010a), ou 74% de toda população da bacia, tem con istente vida econômica, ditada pela condição de ser um dos mais importantes destinos turísticos do s Estado e pela exploração, em grande escala, de água mineral. Outras atividades minerárias, desenvolvidas em menor escala e voltadas, na maioria das vezes, para atender o mercado regional, são as de argila refratá- ria, quartzito, dolomito e calcário, com intensidades de trabalho incapa es de causar impactos ambientais z significativos. No mais, a economia da região, embora promova o uso e a ocupação do solo rural destinando parte importante de seu território às pastagens, tem como resultado uma pecuária de pouco significado. A outra parte está ocu- pada, em sua maioria, por parcelas menores destinadas ao reflorestamento e por vegetação natural, fato este que explica a sua condição de Bacia Hidrográfica com vocação para a conservação ambiental. Seus sítios urbanos, principalmente os de Campos do Jordão, estão compostos, em sua maior parte, por topo grafia desenhada em fortes declives, com não raros episódios de deslizamentos, ocorridos em virtude da densa ocupação. A população é formada, em sua boa parte, por migrantes atraídos pelas possibilidades de trabalho propiciadas pela atividade turística e pelo conjunto de serviços associados a ela. 13
- 33. uGrHi 02 – Paraíba do sul A UGRHI 02 – Paraíba do Sul está classificada como industrial e, como todas as demais bacias hidrográ- ficas as im consideradas (PCJ, Alto Tietê, Baixada Santista e Sorocaba/Médio Tietê), chama a atenção pela s enorme po encialidade que seus modelos de desenvolvimento têm de promover passivos socioambientais de t toda ordem. São 34 os seus municípios constitutivos, como pode ser visto na Figura 2.5 que segue, sua extensão territorial é de 14.444 km² e sua população, segundo o IBGE (2010a), chegou a quase dois milhões de ha itantes no ano b de 2010, correspondendo a quase 5% do total do Estado. Está previsto que em 2020 a bacia apresentará uma população da ordem de 2,2 milhões de habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 5 uGrHi 02 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Com relação ao balanço hídrico, os números mostram uma situação muito confortável da região, a saber: para uma disponibilidade total de 93 m³/s, a demanda total gira em torno de 14 m³/s (SMA/CRHi, 2010). A área pólo do desenvolvimento da bacia é composta pelo Aglomerado Urbano de São José dos Campos, parte integrante da Macrometrópole Paulista, formado por 10 municípios (Aparecida, Caçapava, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, Potim, Roseira, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé). A eles, juntam-se os municípios de Guararema e Santa Isabel (integrantes da Região Metropolitana de São Paulo), Cruzeiro e Lorena. Juntos, abrigam uma população de 1,8 milhão de habitantes (IBGE, 2010a), ou 90% do todo da população da bacia. 14
- 34. Suas indústrias aeroespacial, automobilística, de celulose e papel, química, mecânica, eletrônica e extrativista, além de seus centros de pesquisas tecnológicas, põem-se acompanhados por um conjunto importante de ativida- des de serviços, que exigem uma mão-de-obra com alta especialização. Estão concentradas nas áreas conurbadas dos municípios da mencionada Aglomeração Urbana de São José dos Campos, de influência direta da Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e que se consti- tui no principal eixo de desenvolvimento do uso e da ocupação do solo de todo o território da UGRHI. Ao trabalharem para a consolidação da macrometrópole, que se está a construir ao redor da capital do Estado, estruturam um corredor de indução da formação, da ainda pouco visível, mas bastante provável, megalópole, que irá surgir do encontro desta gigantesca metrópole paulista com a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Suas economias agropecuárias, à exceção da florescente silvicultura regional que a cada tempo ganha maior espa o no todo dos sítios rurais da UGRHI, são pobres, conservadoras, pouco arejadas e, por conseguinte, ç de baixo desenvolvimento tecnológico e pouco motivadas a um arranque em direção a qualquer melhor ponto futuro. Ainda, o turismo, é uma atividade econômica que merece destaque na região. A presença do rio Paraíba do Sul, per orrendo grande parte dos municípios da UGRHI e represado pelos reservatórios de Paraibuna/ c Paraitinga, Santa Branca, Jaguari e Funil, favorece a prática de esportes náuticos, observado principalmente pela alta con entração de casas de veraneio no entorno dos reservatórios. Além disso, estão concentrados na c bacia, diversos circuitos turísticos oficiais do Estado de São Paulo, tais como: Circuito Religioso, do Vale Histórico, Caipira e Mantiqueira. A paisagem das Serras da Mantiqueira, do Mar e da Bocaina, favorece o tu- rismo de aventura, o ecoturismo e o turismo rural, devido aos extensos remanescentes de Mata Atlântica com potencial cênico notá el, bem como à presença de antigas propriedades rurais, que guardam a memória dos v tempos áureos do ciclo do café, pelo qual passou a região. Ainda vale destacar o turismo religioso, praticado em Aparecida, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá, além da presença de um patrimônio histórico preservado em grande parte dos muni ípios, que favorece o turismo cultural e está entre os principais elementos da atra- c tividade turística da região. uGrHi 03 – litoral norte A UGRHI 03 – Litoral Norte tem por vocação explicitada a conservação. Juntamente com as da Baixada Santis- ta, do Ribeira de Iguape/Litoral Sul e do Alto Paranapanema, está direcionada a cumprir um papel importante na conservação dos ambientes naturais contínuos e conservados da Serra do Mar, que atravessa de forma inin- terrupta a fachada atlântica do Estado. Sua extensão territorial é de 1.948 km² e abriga quatro municípios (Figura 2.6). O Litoral Norte comporta 0,7% da população estadual, que em 2010, totalizou quase 282 mil habitantes (IBGE, 2010a) e, em 2020, está prevista para chegar a 330 mil habitantes (SEADE, 2010b), não considerando as eventuais mudanças comportamentais de sua demografia, por força das iniciativas ligadas às atividades a serem desenvolvidas para a exploração de petróleo na camada pré-sal do Campo de Tupi, na Bacia de Santos. Quanto à realidade de cada um de seus municípios, eles se equivalem e sua convivência, pelas relações de complementaridade, tipifica um Aglomerado Urbano. 15
- 35. FiGura 2. 6 uGrHi 03 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nesta UGRHI está situado o Porto de São Sebastião, com características que o predispõem a se consolidar como ponto de atracação de navios de grande porte com alta capacidade de carga, com destaque para o Terminal Petrolífero Almirante Barroso, da Petrobrás, com seu retroporto em expansão. Com uma economia rural nada expressiva, toda a vida se dá num ambiente urbano caracterizado por uma voca ão ç de lazer de ocasião ou de segunda residência, em temporadas bem definidas por um turismo de veraneio que domi- na a economia local e traz riscos permanentes de impactos socioambientais com proporções importantes. Segundo dados do IBGE (2007) a concentração de casas de veraneio, em 2007, chegava a 47% dos domicílios particulares dos municípios da UGRHI, evidenciando a importância do turismo de segunda residência na região. A região reúne atrativos dos mais variados, desde praias badaladas, com vida noturna agitada, até recantos mais tran- quilos e preservados, com praias e ilhas desertas. Ubatuba e Caraguatatuba, por exemplo, estão entre os 30 destinos mais visitados do Brasil. Em Ubatuba, vale destacar o turismo de observação de aves, que tem crescido muito em âmbi- to mundial. No Parque Estadual da Serra do Mar, a Mata Atlântica preservada é um valioso atrativo, onde podem ser praticadas atividades de ecoturismo e turismo de aventura. Já o Parque Estadual de Ilhabela tem natureza exuberante e atrai muitos visitantes para as suas cachoeiras e trilhas, além de reunir os atributos necessários para a prática de diversos esportes aquáticos. Os quatro municípios do Litoral Norte são reconhecidos como estâncias balneárias. O comportamento sazonal de sua economia e sua condição de área de apoio ao porto, importante ponto de pas agem de produtos, tornam o litoral norte um lugar de incertezas econômicas. Tais incertezas permanen- s temente conspiram contra a qualidade de vida da região, seja porque pouco facilitam a tomada de decisão e implantação de políticas públicas que venham a melhorá-la, seja pela falta de iniciativas privadas mais con- sistentes nas áreas da economia que não sejam a da cadeia produtiva da construção civil, esta sim, de muita capacidade e com grande perspectiva de crescimento. 16
- 36. Esses desconfortos estão convivendo, agora, com os possíveis avanços dos investimentos para a exploração do petróleo na camada pré-sal do Campo de Tupi, na Bacia de Santos, e na plataforma marinha de influência do Litoral Norte. Esse fato faz da região um local estratégico para hospedar, hoje, um esperado contingente de novos profissionais da cadeia do setor petroleiro, acompanhados de todos os serviços periféricos necessários para a sua acomodação ao novo local de moradia. É preciso considerar que suas áreas apropriadas à ocupação urbana têm dimensões que estão limitadas pelo mar e pela montanha, na sua porção continental ou insular. Em boa parte, são lindeiras a áreas de conservação de meia encosta, inapropriadas à ocupação. Trabalha-se na região com uma segurança hídrica invejável, ou seja, seus 39 m³/s de disponibilidade hídrica total, têm a função de atender uma demanda média total da ordem de 1,4 m³/s (SMA/CRHi, 2010). uGrHi 04 – Pardo A UGRHI 04 – Pardo vive o mesmo momento que as bacias hidrográficas do Sapucaí/Grande, do Mogi-Gua- çu, do Baixo Pardo/Grande e do Tietê/Jacaré. Nela, trabalha-se para fazer bem sucedido o processo de transição da vocação agropecuária para a industrial. Com ele, vão-se desenhar, em definitivo, as vocações territoriais das vinte e duas bacias hidrográficas do Estado. Ocupa uma extensão de território de 8.993 km², espalhados por 23 municípios, conforme Figura 2.7 a seguir, e habita- dos, em 2010, por aproximadamente 1,1 milhão de habitantes – 2,7% do total do Estado (IBGE, 2010a). Para 2020, estima-se que seja algo próximo a 1,2 milhão de habitantes (SEADE, 2010b). A cidade pólo do desenvolvimento da bacia é Ribeirão Preto que, em 2010, contava com 605 mil habitan es, ou 55% do total da população da bacia. t FiGura 2. 7 uGrHi 04 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) 17
- 37. Seu balanço hídrico apresenta uma disponibilidade hídrica total de 44 m³/s e sua demanda algo como 14 m³/s, o que já começa a tipificar uma situação de atenção quanto aos recursos, já que a demanda representa pouco mais de 30% da vazão mínima registrada na bacia (SMA/CRHi, 2010). O setor primário de sua economia tem na cana-de-açúcar seu ponto forte. Segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA, 2009), só ela ocupava em 2009, 39% do território da bacia hidrográfica, enquanto todas as suas pastagens ocupavam emblemáticos 25%, característica esta que não se observa na maior parte das demais UGRHI, onde a pecuária tem expressão territorial maior que a das culturas – temporárias e perenes –, mesmo quando somadas. A bacia hidrográfica do Pardo abriga nove usinas de açúcar e álcool, o que explica o esforço de concentrar nas culturas da cana a maior parte da produção agrícola, fazendo da UGRHI 04, um pólo estratégico para a produção de energia limpa, no qual o Estado se empenha com toda convicção. Com relação ao segundo e ao terceiro setor, merece destaque o município de Ribeirão Preto, que abriga grande parte dos estabelecimentos industriais, de comércio e serviços existentes na bacia, seguidos de Mococa, São José do Rio Pardo e Tambaú, os outros três municípios de maior expressão na economia regional para os setores citados. Verifica-se ainda na região, a existência de um potencial para o desenvolvimento turístico nos segmentos rural, de aventura, religioso e ecoturismo. As grandes fazendas de café que foram prósperas no final do século XIX e início do século XX são atrativos de grande valor arquitetônico, histórico e cultural. No segmento do turismo religioso, o Caminho da Fé, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, foi criado em 2003 para servir de apoio às pessoas que peregrinam ao Santuário de Nossa Senhora de Apare- cida. Ribeirão Preto destaca-se com a realização de turismo de negócios e eventos, especialmente ligados ao setor sucroenergético. Este quadro de situação revela, sim, a condição da bacia hidrográfica do Rio Pardo de estar vivendo um mo ento m em que transita de uma vocação marcadamente agropecuária para a realidade de uma região com uma economia que se apóia na força do binômio indústria/serviços, com maior capacidade de geração de riquezas. Essa mudança de perfil é importante para que se possa caracterizar os impactos ambientais que venham a ocor- rer de agora em diante. E essas mudanças se fazem ainda mais presentes quando se sabe que a Aglomeração Urbana de Ribeirão Preto já ostenta a condição de abrigar iniciativas importantes, economicamente expressivas e gerencialmente bem sucedidas, de Arranjos Produtivos Locais, tais como os das indústrias de instrumentação médico-hospitalar e odontológicos, de precisão e de automação. Porém, este esforço por fazer-se uma região com vocação industrial esbarra numa segurança hídrica frágil, como já citado anteriormente. uGrHi 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí A UGRHI 05 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí, o PCJ, tem sua vocação definida como industrial. Os 14.178 km² que seu espaço territorial abarca, continham, em 2010, uma população da ordem de 5,1 mi hões l de habitantes (IBGE, 2010a), espalhada, de forma muito desigual, por seus 57 municípios (Figura 2.8). Em 2020, são esperados 5,7 milhões de habitantes (SEADE, 2010b). Atualmente, o PCJ comporta pouco mais de 12% da população paulista. 18
- 38. FiGura 2. 8 uGrHi 05 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Os recursos hídricos existentes na bacia hidrográfica não estão de todo disponíveis para saciar as suas deman- das. Uma parte considerável deles, pertencente ao do Rio Piracicaba, é transferida para o Sistema Cantareira (algo em torno de 30 m3/s), sendo responsável por 50% do abastecimento doméstico demandado pela Região Metro olitana de São Paulo. p O PCJ trabalha com uma demanda total da ordem de 81 m³/s, coberta sem qualquer segurança hídrica por uma disponibilidade hídrica total de 65 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Esta situação crítica se revela bastante presente na distribuição das reservas de águas interiores na UGRHI 05, porque se torna necessário alimentar, também, um sistema de exportações internas. Isso se dá pela transposição das águas da Bacia Hidrográfica do Piracicaba (com recursos de sua sub-bacia do Rio Atibaia), para as dos rios Jundiaí (visando garantir o abastecimento de Jundiaí) e do Capivari (visando assegurar o completo abastecimento de Campinas). O mesmo ocorre, internamente, da sub-bacia do Atibaia para a do Baixo Piracicaba e da sub-bacia do Jaguari para as do Atibaia e do Baixo Piracicaba. A UGRHI abriga a Região Metropolitana de Campinas e seus 19 municípios1, parte da Aglomeração Urbana de Piracicaba-Limeira2, e da Aglomeração Urbana de Sorocaba-Jundiaí3. Todos esses conjuntos de municípios – os postos na Região Metropolitana de Campinas e nas aglomerações urbanas citadas – são parte integrante da Macrometrópole Paulista, men ionada anteriormente. c 1 Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo. 2 Araras, Conchal, Cordeirópolis, Estiva Gerbi, Iracemápolis, Leme, Limeira, Mogi-Guaçu, Moji-Mirim, Piracicaba, Rio Claro, Santa Gertrudes. 3 Atibaia, Bragança Paulista, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itu, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Porto Feliz, Salto, Sorocaba, Várzea Paulista. 19
- 39. A bacia hidrográfica do PCJ consolidou-se como um lugar importante na opção por alternativas de localização de indústrias da Região Metropolitana de São Paulo, quando esta passou a viver a transição de suas vocações industriais, para assumir o seu status de núcleo de formulação de estratégias empresariais e financeiras, próprias dos centros urbanos com expressão mundial. Implantou-se, então, um parque industrial diversificado na bacia, com maior concentração nos municípios de Indaiatuba, Paulínia e Sumaré, com destaque para produção de tecnologias e componentes para telecomuni- cações e informática, montadoras de veículos automotivos, refinarias de petróleo, fábricas de celulose e papel e, como não poderia deixar de ser, indústrias alimentícias e sucroalcooleiras. Só de usinas de açúcar e álcool, a bacia hidrográfica do PCJ abriga doze unidades. Este aglomerado de plantas industriais, com tão diversos objetivos, tornou-se, por força de suas cada vez maiores exigências tecnológicas, um fornecedor confiável de oportunidades a centros de pesquisa e universidades do País, na busca por alargar, de forma constante, suas capacidades de gestão e de produção. Essa transformação da região em um centro produtivo industrial com tais dimensões, foi acompanhada também por uma imensa rede de serviços, com todas as exigências necessárias para fazer da região um espaço sul-ameri- cano de produção, produtividade e liderança. A força de sua capacidade empreendedora, em nível urbano, não rouba a necessidade de empreender avanços e con- quistas na sua agropecuária, dominada pela presença da cana-de-açúcar e da citricultura e que tem em Piracicaba o centro de maior relevância na busca pela cada vez mais significativa produtividade para suas áreas plantadas. Ainda vale destacar a presença de diversas estâncias hidrominerais, climáticas e turísticas na UGRHI 05, as quais integram diversos circuitos turísticos paulistas. O Circuito das Frutas, formado por 10 municípios des- ta UGRHI, enfatiza a importância do turismo rural na região. Os produtores de frutas exploram a atividade turísti a através da visita às suas propriedades rurais, onde se pode vivenciar a produção artesanal do vinho e c de doces, a produção das frutas e a vida em contato com as raízes históricas e culturais do interior paulista. No município de Holambra, que responde sozinho por um terço da produção de flores e plantas ornamentais do país, pode-se testemunhar a influência holandesa na arquitetura e nos moinhos que compõem a paisagem. No circuito das águas, que são conhecidas internacionalmente por seu poder de cura, fazem parte os municípios de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul e Pedreira. Na Região Metropolitana de Campinas destaca-se o potencial para o turismo de negócios e de ciência e tecnologia. Já o Circuito Turístico entre Serras e Águas, com potencial para o turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura nas exuberantes formações da Serra da Manti- queira, conta com a participação de onze municípios da UGRHI 05 e dois da UGRHI 06. uGrHi 06 – alto tietê A UGRHI 06 – Alto Tietê e sua vocação industrial obrigam a Região Metropolitana de São Paulo a se aproxi- mar cada vez mais de seu objetivo maior: o de ser um aglomerado urbano de expressão globalizada. O que se tem de concreto é que a região está posicionada como o centro do sistema urbano contínuo que com- põe os domínios da Macrometrópole Paulista, composta por 102 municípios, que contêm 70% da população do Estado e gera 80% de suas riquezas. Seu território, de 5.868 km², abriga população que, em 2010, conformou aproximadamente 20 milhões de habi- tantes (IBGE, 2010a), pouco mais de 47% do contingente populacional paulista do momento, a viver em seus 34 municípios (Figura 2.9). Calcula-se que sua população em 2020, chegará próximo aos 22 milhões de habitantes (SEADE, 2010b). 20
- 40. FiGura 2. 9 uGrHi 06 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) A UGRHI 06 vive um enorme desequilíbrio hídrico. A disponibilidade hídrica total da bacia é da ordem de 31 m³/s, enquanto sua demanda total de abastecimento é de 55 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Como já registrado na caracterização da UGRHI 05 – PCJ, esse déficit é superado por importações de vazões interbacias e intrabacias, gerando um comportamento bastante peculiar. É preciso que se registre que esse respeitável contingente de pessoas que habita a Região Metropolitana de São Paulo guarda uma tradição que, felizmente, agora se esgota: o de crescer aos saltos. Entre 1872 (com 30 mil habitantes) e 1900 (com 240 mil habitantes), o município de São Paulo viu sua popu- lação crescer oito vezes. Em 1920, já tinha 580 mil habitantes. Em 1940, 1 milhão e 300 mil, ou seja, 5,5 vezes mais do que em 1900. Hoje, com 11 milhões de habitantes (IBGE, 2010), abriga população 8,5 vezes maior do que a de 1940 (SÃO PAULO, 2007). Como se não bastassem esses saltos populacionais, que por si só são obstáculos à construção de sua melhor qua- lidade de vida, é preciso considerar que 40% da ocupação humana ocorrida entre 1940 e 1990, primeiro em São Paulo e depois em sua Região Metropolitana, se deu em áreas com restrições ambientais sérias. Soma-se a isso, o fato de que entre 1990 e 1996, a população favelada da Região Metropolitana de São Paulo au entou em 50% m seus números originais, sendo, em boa parte, acomodada em áreas de proteção de mananciais. A tendência para a desconcentração econômica observada, que marca o passado recente e o presente da Região Metropolitana de São Paulo, anotada já na caracterização da UGRHI 05 – PCJ, vem fazendo com que a região perca de forma substantiva a sua par icipação nos PIB nacional e do Estado. t 21
- 41. Duas tendências trabalham para reverter a situação aqui colocada: • Aproveitando a sua condição de centro financeiro e de decisão de estratégias empresariais, a Região Metropolitana tenta conformar um centro de atividades do setor terciário avançado. De um lado, busca gerenciar as atividades dos setores com plantas produtivas instaladas em regiões abarcadas por sua área de influência, no interior do País. De outro lado, busca centralizar na região todo o gerenciamento da ati- vidade econômica do agronegócio, um setor em sustentável desenvolvimento, pelo fato de se beneficiar da condição do Brasil ser fornecedor de alimentos de um mundo em franca expansão do poder de compra de parte significativa de suas, hoje ainda, populações periféricas; e • Constata-se, desde 2004, uma participação crescente da indústria na formação do PIB metropoli- tano, o que surpreende porque as expectativas são as de que São Paulo caminhe para a condição de metrópole pós-industrial, apontando para o fato de que vive a oportunidade de trabalhar formas de convivência harmônica, possibilitando complementar as atividades industriais e terciárias avançadas que pratica. Contando com diversos circuitos turísticos, a UGRHI 06 se destaca, também, pela diversidade de atra- tivos, que abrangem praticamente todos os segmentos turísticos: ecoturismo, turismo rural, de saúde, de aventura, religioso, de negó ios, de compras, de eventos, cultural, gastronômico, científico-tecnológico, c educacional, entre outros. A capital São Paulo, um dos principais destinos do país, possui o maior parque hoteleiro no Brasil, concentra 75% das grandes feiras e realiza 90 mil eventos por ano. Em 2006 e 2007, São Paulo foi a cidade das Américas que sediou o maior número de eventos internacionais vinculados à Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA), tendo ficado em 23º lugar no mundo, su- perando destinos como Nova Iorque, Vancouver, Madri e Tóquio. uGrHi 07 – baixada santista A UGRHI 07 – Baixada Santista está classificada, também, como industrial e, está inteiramente formada pelos municípios que integram a Região Metropolitana da Baixada Santista. É importante que se registre, também, que é parte da Macrometrópole Paulista, já delineada quando aqui se tratou de analisar as características da UGRHI 06. Num território de 2.818 km², contemplando nove municípios, como pode ser visto na Figura 2.10, a Baixada Santista tem população permanente de aproximadamente de 1,7 milhão de habitantes, 4% do total do Estado (IBGE, 2010a). Como a bacia hidrográfica do Litoral Norte, convive também com população flutuante ex- pressiva, como consequência de sua vocação turís ica de segunda residência ou para o lazer. Essa semelhança t se dá, também, quanto às suas áreas habitáveis, que se encontram comprimidas entre o mar e a serra e, como o que ocorre no Litoral Norte, faz oportuna a apropriação de sítios impróprios à ocupação urbana, que são na maioria das vezes áreas de risco, por serem manguezais ou terras com pouca estabilidade geológica situadas em encostas de morro. 22
- 42. FiGura 2. 10 uGrHi 07 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Seu balanço hídrico apresenta uma situação de atenção, já que sua disponibilidade hídrica total é de 58 m³/s e a demanda gira em torno de 18 m³/s (31% da vazão total disponível) (SMA/CRHi, 2010). Com uma economia espremida entre as atividades portuárias, as do Pólo Industrial de Cubatão e as terciárias, de apoio ao turismo de lazer, em muito incentivado pelo monumental complexo viário de acesso ao porto, a Baixada Santista não conta com uma atividade agropecuária a ser considerada, dada a sua total inexpressividade. O turismo é evidenciado principalmente nas estações do ano mais quentes (primavera e verão), devido à sua orla marítima extensa. Além da forte expressão do turismo de segunda residência na região, podemos destacar a presença do circuito turístico Costa da Mata Atlântica, que evidencia toda a riqueza natural do Parque Estadual da Serra do Mar e conta com a participação de todos os municípios da UGRHI. Em Santos, a presença do por- to, juntamente com um terminal de passageiros que tem capacidade para receber 6.500 pessoas por dia, é fator essencial ao desenvolvi ento do turismo náutico no município. m Outro segmento que é observado na região é o turismo cultural, favorecido devido à região ter vivenciado mo- mentos marcantes da história do Brasil. Merece destaque São Vicente, primeira cidade brasileira, fundada em 1532 pelo navegador português Martim Afonso de Sousa. O turismo religioso desponta também como um importante segmento na região, o que é evidenciado pelo pro- jeto “Caminhos de Anchieta”, que visa desenvolver o turismo nos lugares de passagem e peregrinação do Beato José de Anchieta, fundador da cidade de São Paulo. A região ainda dispõe de espaços estruturados para eventos e convenções de grande porte, um parque hoteleiro em grande crescimento e uma gastronomia diversificada. 23
- 43. Da mesma forma que o Litoral Norte, está a viver momentos de mudança dessas expectativas econômicas pouco ágeis. A exploração previsível do Campo de Tupi, e suas copiosas reservas de petróleo das camadas pré-sal da Ba- cia de Santos, está a desenhar um futuro de empreendedorismo dinâmico para a região. Nela, muito se acredita em seus desdobramento a curto prazo, tanto assim que já se registram mudanças importantes nas estratégias do mercado imobiliário de Santos, a trabalhar agora com mudanças visíveis de tendências para o uso e a ocupação de seu solo urbano, e isso não pode ser visto como um acontecimento localizado. O município de Santos apresentou, na década que agora se encerra, comportamento populacional com números que trabalham na direção de uma estabilização de seu desenvolvimento. Assim, em 2000, tinha quase 418 mil habitan es e, em 2010, 420 mil. Porém, esta previsão está sendo desmentida pelos reflexos das possibilidades de t se incrementar a economia regional a partir da atividade petroleira, num futuro quase que imediato. Para o todo da bacia da Baixada Santista, está prevista uma população de aproximadamente 1,9 milhão de ha- bitantes em 2020 (SEADE, 2010b), sem se considerar, como ocorre com a do Litoral Norte, eventuais fluxos migra órios significativos em direção à região, por força das iniciativas para a exploração do Campo de Tupi. t uGrHi 08 – sapucaí/Grande A UGRHI 08 – Sapucaí/Grande tem sua vocação definida como predominantemente agrária, mas em transição para ser parte das que têm, no Estado, perfil industrial. Com um território de 9.125 km², é composta por 22 municípios (Figura 2.11), que abrigavam uma popula- ção, em 2010, de 670 mil habitantes (1,6% do Estado), com quase a metade dela residindo em Franca (IBGE, 2010a). Em 2020, a previsão é de que a população da bacia chegue a 780 mil habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 11 uGrHi 08 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) 24
- 44. Sua segurança hídrica se mostra em situação de relativo conforto. Sua disponibilidade total é de 46 m³/s, en- quanto que a demanda está próxima de 5 m³/s (SMA/CRHi, 2010). A tendência à industrialização que se verifica, dá-se pelo desenvolvimento do Pólo Calçadista de Franca, um Ar- ranjo Produtivo Local, que abriga o conjunto de suas fábricas, as plantas industriais das empresas periféricas de seus fornecedores e as instituições destinadas à formação de mão-de-obra especializada, todas essas instituições voltadas a suprir suas necessidades de produção. Seus mentores têm hoje, um objetivo estratégico: superar a concorrência internacional, imbatível quando para suprir o mercado de calçados de média e baixa qualidades, dominado de maneira absoluta pela China. Resta ao Brasil, assim, buscar capacidade competitiva nos mercados de produtos com desenho e acabamento de alta sofisticação, uma fronteira nova para os negócios do calçado brasileiro. Segundo o IEA (2009), suas áreas de pastagem, cobrindo cerca de 2 mil km², estão destinadas, em especial, à pecuária bovina de corte, o que representou 22% do território da Bacia em 2009. Estas áreas são supera as pela d presença da cana-de-açúcar, plantada em 4,6 mil km², ou 50% do território, onde estão localizadas oito usinas de açúcar e álcool. Os municípios de Aramina, Buritizal, Igarapava, Ituverava, Miguelópolis, Pedregulho e Rifaina fazem parte do Circuito Turístico dos Lagos, marcado pela paisagem da região do rio Grande. O ecoturismo pode ser praticado nas matas preservadas da região, onde há cachoeiras e grutas. Ainda existe um potencial para a prática do turis o cultural, em função da existência de um patrimônio histórico e m cultural preservado na região. uGrHi 09 – Mogi-Guaçu A UGRHI 09 – Mogi-Guaçu também está classificada como em transição para a condição de industrial, embora suas características estejam, nesse sentido, mais bem explicitadas do que as da UGRHI 08, por exemplo. Um conjunto importante de seus municípios está listado entre os que compõem a Macrometrópole Paulista, pertencentes ao Aglomerado Urbano de Piracicaba-Limeira. São eles: Araras, Conchal, Estiva Gerbi, Leme, Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Seu território cobre uma área de 15.004 km² e é composto por 38 municípios, vide Figura 2.12 que segue. Sua população, em 2010, era de 1,5 milhão de habitantes, segundo IBGE (2010a), perfazendo 3,5% do total da população do Estado. Em 2020, prevê-se que tenha 1,6 milhão de habitantes (SEADE, 2010b). 25
- 45. FiGura 2. 12 uGrHi 09 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Um fato relevante a ser considerado é que a maior parte de sua população está localizada na sub-bacia do Alto Mogi (com cerca de 600 mil habitantes), formada pelos municípios de Aguaí, Araras, Conchal, Enge- nheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Leme, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Santa Cruz da Conceição. A pressão por água de abastecimento doméstico na região vem se somar àquela de sua produção agroindustrial, onde se concentra o forte de seu desempenho econômico, com grande presença do setor de açúcar e álcool, que conta com mais de 30 usinas instaladas, além do setor de celulose e papel, óleos vegetais, frigoríficos e bebidas. Por suas sub-bacias ocorrem, com ênfase, episódios críticos, originários indistintamente de atividades industriais ou de uso doméstico, que ameaçam o seu equilíbrio hídrico, hoje numa boa situação, apresentando uma disponi- bilidade hídrica total de 72 m³/s e uma demanda de aproximadamente 19 m³/s (SMA/CRHi, 2010). No mais, são destaques de desempenho econômico diferenciado as Estâncias Hidrominerais de Águas de Lin- dóia, Lindóia, Serra Negra e Socorro, que fazem parte do Circuito das Águas, conhecido internacionalmente pelo poder de cura de suas águas. A prática de esportes de aventura merece destaque nesses municípios. Socorro é conhecida pela prática do rafting, já em Águas de Lindóia, verifica-se a ocorrência do off-road na Serra do Brejal e, ainda vale frisar, que Serra Negra faz parte da rota de motoqueiros. uGrHi 10 – sorocaba/Médio tietê A UGRHI 10 – Sorocaba/Médio Tietê, de vocação industrial, tem os municípios de Cabreúva, Itu, Porto Feliz e Sorocaba, pertencentes ao Aglomerado Urbano de Sorocaba-Jundiaí, como parte da Macrometrópole Paulista. 26
- 46. Com um território de 11.829 km², seus 33 municípios (Figura 2.13) abrigavam uma população, em 2010, de 1,8 milhão de habitantes, 4,5% da população estadual (IBGE, 2010a). Sua popu ação, em 2020, está prevista para l chegar a 2,2 milhões de habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 13 uGrHi 10 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Seu balanço hídrico apresenta uma situação de atenção, com uma disponibilidade total de 39 m³/s e uma de- manda de 12,4 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Sua região de melhor desempenho econômico é a da sub-bacia do Médio Sorocaba. Nela, convivem seus três municípios com maior presença na atividade secundária, com empreendimentos industriais de grande porte: Alumínio, Sorocaba e Votorantim. A bacia do Sorocaba Médio/Tietê começou a industrializar-se a partir da década de 1970, intensifi ando-se a c partir dos anos 1980, quando recebeu boa parte das indústrias que, saindo de uma São Paulo que começava a apresentar sucessivas dificuldades ao desenvolvimento de seu parque industrial, deslocaram-se para o interior, dando prioridade às regiões dotadas de infra-estrutura viária e de fácil acesso a matérias-primas, en ontrando c na UGRHI 10, a prática de uma agropecuária consistente e reservas minerais abundantes. Este fato propiciou que, na bacia, se instalassem grandes complexos industriais de base mineral – o alumínio e o cimento –, o que acelerou sobremaneira o seu significado econômico para o desenvolvimento do Estado. Com isso, abriu-se espaço para que, em suas regiões mais industrializadas se desenvolvessem centros diversifica- dos e sofisticados de serviços, com especial destaque aos centros universitários de Botucatu, Itu e Sorocaba. 27
- 47. Em concomitância com esses avanços, a região foi se tornando um espaço importante para a implantação de cadeias produtivas com base na agropecuária. A presença de vastas áreas com florestas plantadas de Pinus e Eucalipto, serve para sinalizar a importância do setor agroindustrial de papel e celulose. Suas florestas plantadas dividem o solo rural da região com a cana-de-açúcar, que vai assumindo partes importantes dessas paragens, fa- zendo com que a presença das pastagens diminua, mas não se torne menos importante nos espaços de produção agropecuária da bacia. Encontra-se ainda na região, o Circuito Turístico Itupararanga, formado pelas cidades localizadas na área de influência da APA de Itupararanga. Com atrativos voltados para o ecoturismo, o turismo rural e o de aventura, a maior parte da infraestrutura turística está concentrada nos municípios de São Roque e Ibiúna. Estes dois municípios, juntamente com Itu, receberam o título de estâncias turísticas do Estado de São Paulo. O Roteiro Turístico dos Bandeirantes, também contempla a região, reunindo cidades às margens do Rio Tietê, por onde as antigas expedições bandeirantes passaram a partir do século XVI, em busca de metais preciosos e apresamento de índios. Além de Cabreúva, Itu, Porto Feliz e Tietê, também inclui Araçariguama, que tem a mina de ouro mais antiga do Brasil, datada de 1605. Outro roteiro que merece destaque é o do Pólo Cuesta, com seu cenário diferenciado de formações rochosas, ideal para a prática de ecoturismo, turismo de aventura e rural. As represas existentes e o Rio Tietê são elementos ideais para a prática da pesca e de esportes náuticos. uGrHi 11 – ribeira de iguape/litoral sul A UGRHI 11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul está classificada como de conservação, entre outras razões porque divide com a bacia hidrográfica do Alto Paranapanema, de mesma vocação, a defesa da ambiência natural da Ser- ra do Mar e, por própria conta, das regiões que compõem o Vale do Ribeira e do Complexo Lagunar Estua ino r de Iguape e Cananéia, na foz do rio Ribeira de Iguape. Sua extensão territorial é de 17.068 km². Sua população alcançou 365 mil habitantes em 2010, perfazendo 0,9% do total estadual, segundo IBGE (2010a). São 23 os seus municípios, vide Figura 2.14, que em 2020 deverão contar com aproximados 420 mil habitantes (SEADE, 2010b). 28
- 48. FiGura 2. 14 uGrHi 11 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) A bacia vive uma despreocupada relação com sua segurança hídrica. A disponibilidade hídrica total é de 229 m³/s, enquanto a demanda chega a pouco mais de 3 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Sua economia tem atividade secundária de muito pequena expressão, o que também se reflete na atividade do setor terciário, o de serviços. Já sua atividade primária está baseada na produção de banana e de chá. Existe na UGRHI uma grande diversidade de atividades turísticas que podem ser desenvolvidas, da prática de turismo de sol e praia no Lagamar à prática do espeleoturismo nas cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). No Pólo Turístico de Lagamar, os lagos à beira-mar formam uma paisagem diferenciada, onde pode ser praticada a pesca esportiva. Em Ilha Comprida, dunas e zonas balneares se destacam no cenário. No Vale do Ribeira, a biodiversidade da Mata Atlântica, tombada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como Patrimônio Natural da Humanidade é um dos principais atra- tivos. Os Parques Estaduais de Jacupiranga e da Ilha do Cardoso são representantes desse bioma e apresentam grande potencial para a prática do ecoturismo. O Vale do Ribeira é uma região considerada por muitos como o paraíso dos ecoturistas, por possibilitar a prática de grande variedade de esportes de aventura, como canyoning, rafting, rapel, cascading, espeleoturismo, trekking, bóia-cross, etc. Já os sítios arqueológicos, quilombos, artesanato, gastronomia e bens tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHA- AT) fazem parte dos atrativos culturais da região. 29
- 49. Essa gama de atrativos, aliada à vocação conservacionista, evidencia uma potencialidade da região que deve ser estimulada cada vez mais pelo poder público. uGrHi 12 – baixo Pardo/Grande A UGRHI 12 – Baixo Pardo/Grande está classificada como a que busca a sua industrialização. Sua dimensão territorial é de 7.239 km². Sua população em 2010 era de 333 mil habitantes, 0,8% da população de São Paulo (IBGE, 2010a), que ocupam os seus 12 municípios (Figura 2.15). Em 2020 espera-se contar com 350 mil habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 15 uGrHi 12 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Sua segurança hídrica expressa uma situação de atenção, já que sua disponibilidade hídrica total é de 31 m³/s e sua demanda alcança pouco mais de 12 m³/s, mais que 30% da vazão disponível (SMA/CRHi, 2010). O que explica a bacia ter como vocação deixar de ser agropecuária e caminhar em direção a sua condição de in- dustrial, se deve ao grande aumento do número de indústrias de transformação, como também de suas atividades terciárias, observado ao longo da última década. No município de Barretos acontece a internacionalmente conhecida Festa do Peão Boiadeiro, considerada a maior festa de rodeio do Brasil, atraindo centenas de milhares de visitantes todos os anos. Além do espe- táculo dos peões nas provas de rodeio, shows com artistas renomados, exposições e gastronomia compõem o atrativo. 30
- 50. Nas atividades primárias, cana-de-açúcar, laranja e pastagens dominam o uso e a ocupação de seu solo rural. A cana ocupava algo como 54% de todo o território da UGRHI em 2009 e, no mesmo ano as pastagens se esten- diam por 14% do território (IEA, 2009). uGrHi 13 – tietê/Jacaré A UGRHI 13 – Tietê/Jacaré é uma bacia hidrográfica vivendo em transição da condição de produtora agro- pecuária para industrial. A extensão de seu território é de 11.779 km². Sua população em 2010, conformava 3,6% do total estadual, com quase 1,5 milhão de habi antes (IBGE, 2010a), abrigada em seus 34 municípios (Figura 2.16). Sua população, t em 2020, está estimada para ser de quase 1,7 milhão de habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 16 uGrHi 13 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Seu balanço hídrico também apresenta uma situação de atenção, pois está ditado por uma vazão total disponível de 50 m³/s e uma demanda total de 24 m³/s (SMA/CRHi, 2010). O setor primário da UGRHI 13 – Tietê/Jacaré trabalha no apoio às cadeias produtivas para a produ ão de açú- ç car e álcool, com usinas instaladas nas regiões de entorno de Araraquara e Jaú, de suco de laranja, em Araraquara, de celulose e papel e de bebidas em Agudos, Araraquara e Bauru e de couro, de origem bovina, em Jaú e Bocaina. As usinas de açúcar e álcool localizadas na bacia somam 22 unidades. 31
- 51. São componentes fortes do setor secundário da região o Pólo Calçadista de Jaú, o Arranjo Produtivo Local de bordados de Ibitinga, além do Pólo Turístico de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê. Os Circuitos Caminhos do Tietê, Chapada Guarani e Centro Oeste Paulista, reúnem os principais atrativos tu- rísticos desta UGRHI. Cortada pelo rio Tietê, a região oferece cenário e clima agradáveis, propícios à realização de passeios, prática de esportes náuticos e pesca esportiva. Além disso, a identidade histórica e a força do setor agrícola propiciam a prática do turismo rural na região. A Chapada Guarani, marcada por grandes eventos históricos da época dos bandeirantes e auge do café, é dotada de grande beleza paisagística e é hoje referência para a prática de turismo de aventura e ecoturismo. O município de Brotas é conhecido como a capital da aventura e a hidrografia da região é ideal para a prática de canoagem e rafting. Em Barra Bonita, a eclusa, que é explorada turisticamente, é o principal atrativo, juntamente com os esportes náuticos e atividades recreativas que são praticados na represa. E em São Carlos, o turismo de negócios e científico-tecnológico são os principais segmentos. Vale ainda destacar, a existência de um Pólo Industrial de Alta Tecnologia no município de São Carlos, em função, principalmente, da existência de diversos centros de pesquisa de geração de tecnologia, além da Hidrovia Tietê-Paraná, que propicia à região contar com uma estrutura intermodal de serviços portuários, localizada em Pederneiras, e que fomenta a atividade econômica na região. uGrHi 14 – alto Paranapanema A UGRHI 14 – Alto Paranapanema está classificada como de conservação, como já se registrou quando se tratava de caracterizar a bacia hidrográfica do Ribeira de Iguape/Litoral Sul. As nascentes do Paranapanema estão nos contrafortes da Serra do Mar, em sua fachada que se volta para o inte ior, o que lhe confere a condição de objetivar, por vocação, os feitos para a conservação do r ambiente natural. Sua extensão territorial é de 22.689 km². É composta por 34 municípios, de acordo com a Figura 2.17 a seguir, que ostentaram uma população, em 2010, de 722 mil habitantes (1,8% do total do Estado) segundo o IBGE (2010a), estan o previsto que, em 2020, a bacia deva ter uma população de 820 mil habitantes d (SEADE 2010b). 32
- 52. FiGura 2. 17 uGrHi 14 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Seu balanço hídrico aponta para uma folgada situação de segurança. Sua disponibilidade total é de 114 m³/s, enquanto sua demanda anda por volta de 10 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Suas atividades econômicas estão divididas, basicamente, entre as voltadas à agropecuária e às de mineração. Com relação ao uso e ocupação do solo na bacia, vale destacar a presença da cana, que ocupava, em 2009, uma área de 911 km² ou 4% do total do território. A presença de pastagens na região também merece destaque, já que ocupavam no mesmo ano, 28% do território, equivalente a 6.300 km² (IEA, 2009). As atividades de mineração estão baseadas na exploração de minerais não metálicos e se concentram nos muni- cípios de Bom Sucesso de Itararé, Guapiara, Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco e Ribeirão Grande. Têm destaque as de calcário, em Guapiara e Itapeva, para a fabricação de cal hidratada, e em Ribeirão Branco para a fabricação de cimento. As áreas legalmente protegidas da Bacia – Áreas de Proteção Ambiental, Estações Experimentais, Estações Eco ógicas, Florestas Nacionais, Florestas Estaduais e Parques Estaduais – cobrem cerca de 15% de seu terri- l tório e invadem bordas das bacias hidrográficas circunvizinhas, capacitando-a para cumprir o que estabelece a sua classificação vocacional. Entre as Unidades de Conservação que se concentram nesta UGRHI, se destacam o Parque Estadual de In- tervales, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), o Parque Estadual Carlos Botelho e a Estação Ecológica de Xituê. A região possui um grande potencial hídrico e um dos maiores índices de biodiversidade do planeta. As atividades que podem ser praticadas pelos turistas vão desde uma simples caminhada e contemplação 33
- 53. da natureza, ao turismo cultural e prática de esportes de aventura. As cachoeiras, riachos, cavernas e corredeiras oferecem o am iente propício para isso. b O Caminho dos Tropeiros, circuito turístico que conta com a participação de 14 municípios desta UGRHI e outros oito da UGRHI 10, foi criado em 2003, e proporciona ao visitante a oportunidade de reviver a história, a cultura e os cenários da época em que bens de consumo eram trazidos a São Paulo nos lombos de burros. No trecho paulista, o roteiro vai de Itararé a Sorocaba. uGrHi 15 – turvo/Grande A UGRHI 15 – Turvo/Grande está classificada como de vocação agropecuária. Sua extensão territorial é de 15.925 km². Seus 64 municípios (Figura 2.18) abrigavam uma população, em 2010, de 1,2 milhão de habitantes, o que corresponde a quase 3% da população de São Paulo (IBGE, 2010a). Para 2020 sua população está estimada em 1,3 milhão de habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 18 uGrHi 15 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Sua segurança hídrica é tida como em estado de atenção, pois sua disponibilidade hídrica total é de 39 m³/s, enquanto as demandas por consumo são da ordem de 17 m³/s (SMA/CRHi, 2010), mais de 30% do total disponível. 34
- 54. A atividade primária de sua economia tem na cana-de-açúcar e na laranja seus principais produtos. A cana vai alimentar as 18 usinas de açúcar e álcool da região. A laranja vai abastecer unidades de esmagamento para a pro- dução de suco na região de Catanduva. É também importante a presença da pecuária, a alimentar frigoríficos e laticínios da região. Das atividades industriais de sua economia, são destaques as indústrias de eletrodomésticos, em Catanduva, móveis, confecções e metalúrgicas (carrocerias) em Votuporanga, material elétrico (transformadores de energia) em Fernandópolis e fundição e autopeças de borrachas em Monte Alto, que convivem com um parque industrial diversificado e dinâmico, localizado em São José do Rio Preto, contando com centenas de indústrias. Nessas em- presas prepondera a produção de bens não duráveis relativos às indústrias de bebidas, eletrodomésticos, papel, móveis, artefatos de borracha, etc. Existe ainda nesta UGRHI um grande potencial para o desenvolvimento do turismo de esportes náuticos e de atividades recreativas aquáticas, graças aos atributos hidrográficos da região. uGrHi 16 – tietê/batalha A UGRHI 16 – Tietê/Batalha também está classificada como de vocação agropecuária. Seu território mede 13.149 km². Está composto por 33 municípios (Figura 2.19), com população calculada, para 2010, de 512 mil habitantes (1,2% do total da população paulista), de acordo com a o IBGE (2010a). Em 2020 sua população deve somar algo como 550 mil habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 19 uGrHi 16 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) 35
- 55. Seu balanço hídrico mostra-se na posse de uma situação confortável, com sua disponibilidade total sendo de 40 m³/s e sua demanda registrando um nível aproximado de consumo de 8 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Na sua economia, as questões da agropecuária se desenvolvem na maior porção de suas áreas rurais, apoiadas nas atividades do cultivo da cana-de-açúcar e da laranja e criação, em escala preponderante, de rebanhos bovinos. São partes de cadeias produtivas que buscam agregar valor a produtos primários. Assim, estão instaladas na ba ia, c nove usinas de açúcar e álcool, além de algumas unidades esmagadoras de laranja e frigoríficos de porte. Cerca de 31% da área da bacia está destinada ao plantio da cana, enquanto 26% a áreas de pastagens (IEA, 2009). As cidades de Itápolis, Lins, Matão, Novo Horizonte e Taquaritinga concentram a força industrial e, por conse- quência, a força dos serviços da bacia. A Hidrovia Tietê-Paraná é um atrativo potencial para que seja desenvolvido o turismo náutico nesta UGRHI. A Estância Hidromineral Ibirá oferece a possibilidade da prática de atividades de lazer e de turismo de saúde, nas fontes hidrominerais com propriedades terapêuticas. uGrHi 17 – Médio Paranapanema A UGRHI 17 – Médio Paranapanema está classificada como agropecuária. Sua extensão territorial é de 16.749 km². Sua população, em 2010, girava em torno de 666 mil habitantes, 1,6% da população do Estado (IBGE, 2010a). Eles se acomodam em seus 42 municípios (Figura 2.20), que deverão abrigar, em 2020, presumíveis 750 mil habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 20 uGrHi 17 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) 36
- 56. A bacia goza de confortável condição em relação à sua segurança hídrica, pois sua vazão total disponível é de 82 m³/s e sua demanda total de água de 8 m³/s (SMA/CRHi, 2010). A grande força de sua economia está depositada nas atividades desenvolvidas pelo setor primário, agropecuário. Seu segmento mais expressivo é o da cadeia produtiva do setor sucroalcoleiro, que mantém, na região, 17 usinas em atividade. Ainda merecem destaque a bovinocultura e a suinocultura que têm grande representatividade no segmento para o todo do Estado. Contando com as Estâncias Turísticas de Avaré e Paraguaçu Paulista, com a Estância Climática de Campos Novos Paulista e a Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, esta UGRHI participa ainda de circuitos turísticos oficiais do Estado de São Paulo, como o Pólo Cuesta e o Circuito Oeste Paulista. As represas no rio Paranapanema possibilitam a prática de atividades de lazer e entretenimento aquático e a prática de esportes náuticos. uGrHi 18 – são José dos dourados A UGRHI 18 – São José dos Dourados é, por vocação, uma bacia hidrográfica agropecuária. Tem uma extensão territorial de 6.783 km². É composta por 25 municípios, vistos na Figura 2.21. Tem uma população que, em 2010, atingiu 224 mil habitantes, abarcando 0,5% do total do Estado (IBGE, 2010a). Para 2020, a bacia deve contar com uma população estimada em 235 mil habitantes (SEADE, 2010b). Seu município pólo é Jales, que contou com população de 47 mil habitantes no ano de 2010, o que representou 21% do todo da população da UGRHI (IBGE, 2010a). FiGura 2. 21 uGrHi 18 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) 37
- 57. Sua segurança hídrica se encontra em estado de atenção, já que sua disponibilidade hídrica total é de 16 m³/s, en- quanto sua demanda de consumo chega a pouco mais de 5 m³/s, 32% do total disponível (SMA/CRHi, 2010). Com uma economia basicamente agropecuária, tem na cana-de-açúcar, que alimenta suas cinco usinas de açú- car e álcool, e na laranja, as suas culturas predominantes. Elas dividem com sua pecuária – de corte e de leite – o conjunto forte da produção de riquezas da região. Nesta UGRHI, as Estâncias Turísticas de Ilha Solteira e Santa Fé do Sul destacam-se pelo turismo desenvolvi o na Represa de Ilha Solteira, que é voltado para a prática de atividades recreativas e náuticas, d além da pesca esportiva. uGrHi 19 – baixo tietê A UGRHI 19 – Baixo Tietê tem por vocação a agropecuária. Seu território abrange uma área de 15.588 km². Fazem parte dela 42 municípios (Figura 2.22), totalizando uma população, em 2010, de 754 mil habitantes, 1,8% da população do Estado (IBGE, 2010a). Em 2020, espera-se que a bacia tenha uma população de aproximados 790 mil habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 22 uGrHi 19 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Seu balanço hídrico sugere que a bacia hidrográfica viva confortavelmente. Sua vazão total disponível é de 36 m³/s e sua demanda total de água para consumo é de 4 m³/s (SMA/CRHi, 2010). 38
- 58. São ambientes pólos de seu desenvolvimento o Aglomerado Urbano de Araçatuba e Birigui, além do município de Penápolis. Neles estão concentrados, em números de 2010, 348 mil habitantes, ou 46% da população existen- te na bacia neste ano (IBGE, 2010a). Seu espaço rural está dividido, grosso modo, entre as terras ocupadas pela cultura da cana-de-açúcar, com todos os seus municípios convivendo com plantios de cana, e pelas pastagens, uma paisagem tradicional da região. Toda essa cana plantada é trabalhada para atender à demanda das 28 usinas de açúcar e álcool insta- ladas na bacia. O plantel do gado criado em suas pastagens vai servir às necessidades dos frigoríficos, dos curtumes e da indús- tria de leite em pó, instalados nos municípios de Araçatuba, Birigui, Penápolis e Andradina. Em Araçatuba, em função da presença de seu Porto Hidroviário, às margens da Hidrovia Tietê-Paraná, veri- ficam-se oportunidades de diversificação de seu parque industrial, que hoje se destaca pelas indústrias da área médica, que produzem fios cirúrgicos e equipamentos hospitalares. Birigui, por sua vez, abriga o Arranjo Produtivo Local Calçadista, que produz calçados para o público infantil e artefatos de couro sintético. Esta UGRHI apresenta grande potencial para desenvolvimento do turismo náutico e de pesca esportiva, espe- cialmente nos municípios localizados às margens do rio Tietê. As represas possuem grande potencial para a prática de atividades recreativas. A Estância Turística de Pereira Barreto tem potencial para a prática do turismo cultural e rural, uma vez que tem sua história ligada à chegada dos imigrantes japoneses em 1920, que foram atraídos para trabalhar nas fazendas da região. uGrHi 20 – aguapeí A UGRHI 20 – Aguapeí está classificada também como de vocação agropecuária. As semelhanças das UGRHI 20, 21 e 22 com a bacia hidrográfica de São José dos Dourados (UGRHI 18) são evidentes. Estão situadas num mesmo sítio geográfico, possuem mesmas características paisagísticas e vivem a braços com mesmos problemas logísticos. São eles: as distâncias que as separam dos centros de maior consumo e das áreas portuárias de exportação de seus produtos; a dependência da estrutura de alta qualidade, porém muito cara, do transporte rodoviário; e as incertezas nas operações das combalidas malhas ferroviárias e do Complexo Hidroviário do Estado, ainda pouco explorado por razões das mais diversas, mas infinitamen- te mais baratos que o rodoviário. Sua extensão territorial é de 13.196 km². Seus 32 municípios (Figura 2.23) abrigavam uma população, em 2010, de 364 mil habitantes (0,9% da população paulista), segundo o IBGE (2010a), estando previsto que não passará de 375 mil habitantes em 2020 (SEADE, 2010b). A Estância Turística de Tupã é seu município pólo. Os 63 mil habitantes calculados para 2010 conformam aproximados 17% do todo da população da bacia. 39
- 59. FiGura 2. 23 uGrHi 20 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) A segurança hídrica da UGRHI está avaliada como bastante confortável pelos números que apresenta. Assim, sua vazão total disponível é de 41 m³/s, enquanto sua demanda é algo como 3 m³/s (SMA/CRHi, 2010). O uso e ocupação de solo da Bacia se dão segundo as culturas da cana-de-açúcar e da bovinocultura, seus prin- cipais produtos agropecuários. A cana cobria em 2009, 15% do todo do território da bacia, garantindo a sustentação da produção das oito usinas instaladas na região. As pastagens, por sua vez, cobriam 41% de seu espaço territorial (IEA, 2009). A Estância Turística de Tupã recebeu grande influência das colônias que se instalaram naquela região na época do cultivo do café. Letos, russos, japoneses, portugueses, italianos, espanhóis e sírios ajudaram a escrever a histó- ria do município que hoje é propenso ao desenvolvimento do turismo cultural e rural. Boa parte da região apresenta grande potencial para a prática da pesca esportiva, do turismo náutico e de ativi- dades recreativas nas águas dos rios Paraná e Aguapeí. Merece destaque o município de Panorama, eleito recen- temente pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo (SELT) um dos 16 municípios indutores estaduais do turismo. uGrHi 21 – Peixe A UGRHI 21 – Peixe, também agropecuária, guarda as mesmas semelhanças já detectadas em relação às espe- cificidades das bacias hidrográficas de São José dos Dourados e Aguapeí. 40
- 60. Com extensão territorial de 10.769 km², espalhados por 26 municípios (Figura 2.24), tinha uma população, em 2010, de 448 mil habitantes (IBGE, 2010a), não indo além de 500 mil, quando em 2020 (SEADE, 2010b). Atualmente comporta cerca 1,1% da população total de São Paulo. Seu município pólo é Marília, com população de 217 mil habitantes em 2010 ou 48% do todo da bacia (IBGE, 2010a). FiGura 2. 24 uGrHi 21 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Sua segurança hídrica está assegurada. Sua disponibilidade hídrica total é de 38 m³/s, bem superior aos 2 m³/s da demanda por suas águas (SMA/CRHi, 2010). Seu desempenho econômico está muito próximo àquele observado na bacia hidrográfica do Aguapeí, com sua força de produção agropecuária dividida entre a cultura da cana-de-açúcar e a bovinocultura. Suas pastagens ocupavam, em 2009, 50% do todo da área da bacia. A cana cobria no mesmo ano 16% do terri- tório e abastecia suas seis usinas de açúcar e álcool (IEA, 2009). Existe ainda um grande potencial para a prática da pesca esportiva e de atividades voltadas para o turismo náutico no rio do Peixe. 41
- 61. uGrHi 22 – Pontal do Paranapanema A UGRHI 22 – Pontal do Paranapanema é também classificada como de vocação agropecuária. Repete-se, aqui, as questões de similaridade levantadas para as bacias hidrográficas de São José dos Dourados, Aguapeí e Peixe. Sua extensão territorial é de 12.395 km². São 21 municípios (Figura 2.25) habitados em 2010 por uma popula- ção de 479 mil habitantes, abarcando 1,2% da população do Estado (IBGE, 2010a), estando estimado que, em 2020, esta população não deva ultrapassar os 510 mil habitantes (SEADE, 2010b). Seu município pólo é Presidente Prudente, com uma ascendência muito forte sobre os demais municípios da UGRHI. Sua população, em 2010, era de 208 mil habitantes ou 43% da população total da bacia (IBGE, 2010a). FiGura 2. 25 uGrHi 22 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Em relação à sua segurança hídrica vive situação confortável. Sua disponibilidade hídrica total é de 47 m³/s, e sua demanda total gira em torno de 1 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Suas nove usinas de açúcar e álcool tiveram à sua disposição uma safra de cana, que ocupou, em 2009, 18% do seu território, segundo o IEA (2009). Ainda, suas pastagens ocupavam 71% do território no mesmo ano. Nos rios Paraná e Paranapanema podem ser praticadas atividades de recreação, pesca esportiva e esportes náu- ticos, com destaque para a região da Estância Turística de Presidente Epitácio. O Parque Estadual Morro do Diabo, localizado no município de Teodoro Sampaio, além de ser o maior fragmento de floresta de todo o oeste paulista, com aproximadamente 33 mil hectares, oferece o cenário ideal para a prática do ecoturismo. 42
- 62. referências EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. – EMPLASA. Macrometrópole Paulista – Indica- dores 2008. São Paulo: EMPLASA, 2008. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE. Produto Interno Bruto. 2010a. Disponível em: <http://www.seade.sp.gov.br>. Acesso em: dez.2010. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE. Projeções Populacionais. 2010b. Disponível em: <http://www.seade.sp.gov.br>. Acesso em: nov.2010. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico. 2010a. Disponível em <http:// www.ibge.gov.br>. Acesso em: dez. 2010. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Contagem Populacional. 2007. Disponível em <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: nov. 2010. INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA - IEA: Banco de dados. 2009. Disponível em: <http://www.iea.sp.gov.br>. Acesso em: nov. 2010. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Banco de Dados. 2010. Disponível em <http://www.ipeadata. gov.br>. Acesso em: dez. 2010. INSTITUTO FLORESTAL – IF. Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2008/2009. Dados forne- cidos não publicados. São Paulo, 2010. SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento. DAEE. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004-2007. 2005. São Paulo, 2005. SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Planejamento/ Departamento de Estatística e Produção de Informação. Histórico Demográfico do Município de São Paulo. São Paulo, 2007. SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO / FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – SELT/FIPE. Caracterização da demanda turística do Estado de São Paulo. Relatório de Pes- quisa, não publicado. São Paulo, 2008. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – SMA/SP. Coordenadoria de Recursos Hídricos. Da- dos fornecidos. São Paulo: SMA/CRHi, 2010. 43
- 63. 2.2 caracterização das dinâmicas territoriais Para que se avalie a qualidade ambiental de qualquer região, é imprescindível que se conheça as dinâmicas que ocorrem na sociedade e no território que ela ocupa. As atividades humanas, retratadas pelas dinâmicas demo- gráficas, sociais, econômicas e de ocupação do território, produzem pressões no ambiente, pressões estas que vão alterar seu estado, podendo gerar impactos na saúde humana e nos ecossistemas, levando a sociedade a emitir respostas, seja por meio da elaboração de novas políticas públicas ou produção de informação como subsídio a tomada de decisão. Nesse sentido, o adensamento populacional no território implica em uma maior pressão sobre o meio ambiente, sendo fundamental conhecer as condições dessa ocupação, subsidiando o poder público na tomada de decisões e elaboração de novas políticas relacionadas ao ordenamento territorial. 2.2.1 dinâmica demográfica e social Localizado na região Sudeste do Brasil, o Estado de São Paulo ocupa 248.209 km2, ou 2,9% do território na- cional. De todas as unidades federativas, é aquela com a maior população, somando 41,2 milhões de pessoas, conforme dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE. Isso representa 21,6% da população total do Brasil, que alcança pouco mais de 190,7 milhões de pessoas. O município de São Paulo, capital do Estado, é a cidade mais populosa do país, com 11,2 milhões de habitantes, sendo também o núcleo da Região Metropolitana de São Paulo, composta por 39 municípios e ocupada por 19,7 milhões de habitantes. O Estado conta ainda com duas outras regiões metropolitanas, a de Campinas (19 municípios) e a da Baixada Santista (9 municípios), com 2,8 e 1,7 milhões de habitantes, respectivamente. Se compararmos as 22 UGRHI do Estado, podemos perceber uma grande discrepância quanto à distribuição espacial da população, ficando evidenciado um grande adensamento populacional no entorno da cidade de São Paulo e nas bacias mais próximas a mesma. Vale destacar a UGRHI 06 (Alto Tietê), que contempla o município de São Paulo e conta com 19,5 milhões de habitantes, ou 47% da população total do Estado. Além desta, merecem também destaque as UGRHI 05 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí), 02 (Paraíba do Sul), 10 (Sorocaba/ Médio Tietê) e 07 (Baixada Santista), todas vizinhas da bacia do Alto Tietê e que também contam com população expressiva (Figura 2.26). Esse adensamento populacional pode ainda ser verificado na Figura 2.27, que apresenta a distribuição da densidade demográfica dos municípios paulistas. 44
- 64. FiGura 2. 26 PoPulação do estado de são Paulo Por uGrHi eM 2010 1 ,5 20 19 18 16 14 Milhões de habitantes 12 10 8 08 6 5, 4 99 85 66 45 48 1, 23 1, 11 2 1, 1, 1, 67 75 72 67 51 1, 48 45 1, 33 36 37 28 22 06 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 6 5 2 10 7 13 9 15 4 19 14 8 17 16 22 21 11 20 12 3 18 1 UGRHI Fonte: IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 2. 27 densidade deMoGráFica dos MunicíPios do estado de são Paulo eM 2010 Fonte: SEADE (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) 45
- 65. Apesar da maior população entre todos estados, se analisarmos a evolução do crescimento da população paulista, podemos identificar uma diminuição gradual da taxa geométrica de crescimento populacional do Estado entre 1980/1991 e 2000/2010, como visto na Figura 2.28. FiGura 2. 28 taxa GeoMétrica de cresciMento PoPulacional do estado de são Paulo entre 1980/1991 e 2000/2010 % ao ano 2,5 2,1 2,0 1,8 1,5 1,1 1,0 0,5 0,0 1980/1991 1991/2000 2000/2010 Fonte: SEADE (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) Para avaliar as condições de vida da população, tomamos como referência o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), calculado pela Fundação SEADE. Inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e com alguns aperfeiçoamentos, o IPRS considera variáveis de três dimensões: riqueza municipal, longevidade e escolaridade. O resultado em cada uma delas é um número entre zero e 100, que por sua vez, corresponde a um determinado nível de qualidade (baixo, médio ou alto). A Tabela 2.8 mostra os parâmetros que compõe o IPRS em cada dimensão considerada e a contribuição de cada um deles no valor final. tabela 2. 8 ParâMetros coMPonentes do iPrs contribuição para o dimensão componentes indicador Consumo anual de energia elétrica residencial 44% Consumo anual de energia elétrica no comércio, agricultura e nos serviços 23% Riqueza Rendimento médio do emprego formal 19% Valor adicionado fiscal per capita 14% Taxa de mortalidade perinatal 30% Taxa de mortalidade infantil 30% Longevidade Taxa de mortalidade de pessoas de 15 a 39 anos 20% Taxa de mortalidade de pessoas de 60 anos e mais 20% Porcentagem de pessoas de 15 a 17 anos que concluíram o ensino fundamental 36% Porcentagem de pessoas de 15 a 17 anos com pelo menos quatro anos de estudo 8% Escolaridade Porcentagem de pessoas de 18 a 19 anos que concluíram o ensino médio 36% Taxa de atendimento à pré-escola entre crianças de 5 a 6 anos 20% Fonte: SEADE (2011) 46
- 66. A Tabela 2.9 mostra os indicadores sintéticos das três dimensões do IPRS em 2002, 2004, 2006 e 2008, para o Estado de São Paulo. Podemos observar uma melhora nas três dimensões que compõe o índice para o período analisado. tabela 2. 9 indicadores sintéticos do iPrs do estado de são Paulo de 2002 a 2008 diMensão 2002 2004 2006 2008 Riqueza 50 (alto) 52 (alto) 55 (alto) 58 (alto) Longevidade 67 (médio) 70 (médio) 72 (médio) 73 (médio) Escolaridade 52 (médio) 54 (médio) 65 (médio) 68 (médio) Fonte: SEADE (2011), elaborado por SMA/CPLA (2011) As Figuras 2.29, 2.30 e 2.31 mostram a distribuição desses indicadores nos municípios paulistas para o ano de 2008. Podemos constatar que a riqueza está concentrada nas regiões mais populosas, enquanto os melhores índices de escolaridade estão concentrados mais a oeste do Estado e os de longevidade nas regiões central e norte. FiGura 2. 29 distribuição do indicador de riQueza Por MunicíPio eM 2008 Fonte: SEADE (2011), elaborado por SMA/CPLA (2011) 47
- 67. FiGura 2. 30 distribuição do indicador de lonGevidade Por MunicíPio eM 2008 Fonte: SEADE (2011), elaborado por SMA/CPLA (2011) FiGura 2. 31 distribuição do indicador de escolaridade Por MunicíPio eM 2008 Fonte: SEADE (2011), elaborado por SMA/CPLA (2011) 48
- 68. Com relação à questão habitacional, utilizamos aqui o conceito de déficit habitacional, que está ligado direta- mente às deficiências do estoque de moradias. Compreende tanto aquelas moradias sem condições de serem ha- bitadas devido à precariedade das construções ou em virtude de terem sofrido desgaste da estrutura física e que devem ser repostas, como também aspectos relacionados à necessidade de incremento do estoque, decorrente da coabitação familiar ou da moradia em locais destinados a fins não residenciais. O indicador de déficit habitacional expressa a quantidade de novas unidades domiciliares necessárias para com- portar a população urbana existente nos municípios, revelando as contradições e disparidades sociais existentes. Segundo dados do Ministério das Cidades (2010a), o Estado de São Paulo apresentou, em 2008, um déficit de 1.062.366 moradias, sendo que quase a metade (48,12%) se encontra na Região Metropolitana de São Paulo. Se compararmos com o número verificado para o Brasil (5.572.313 moradias), constatamos que o déficit habitacio- nal do Estado de São Paulo representa pouco mais de 19% do total observado para o país. 2.2.2 dinâmica econômica O Estado de São Paulo apresentou, em 2008, um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 1 trilhão (preços correntes), o que representa 33,1% de tudo que foi produzido no país no mesmo ano. A Figura 2.32 mostra a distribuição percentual, por setor da economia, do valor adicionado do Estado de São Paulo em 2008, que totalizou R$ 826.580,00. Vale frisar que o valor adicionado equivale ao PIB menos os impostos sobre produtos líquidos de subsídios. FiGura 2. 32 distribuição do valor adicionado do estado de são Paulo Por setor da econoMia eM 2008 1,4% 29,5% Agropecuária Indústria Serviços 69,0% Fonte: SEADE (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: Consideramos aqui a atividade de construção civil um subsetor da indústria enquanto o setor de comércio e da administração pública inseridos no setor de serviços. Podemos observar que o setor de serviços responde pela maior parcela do valor adicionado, 69%, e é responsável por 50% dos empregos formais no Estado (Tabela 2.10). 49
- 69. tabela 2. 10 distribuição do eMPreGo ForMal no estado de são Paulo Por setor da econoMia eM 2009 agropecuária comércio construção civil indústria serviços total número de vínculos 372.451 2.322.390 566.575 2.714.326 6.103.389 12.079.131 empregatícios Parcela do total 3,08 19,23 4,69 22,47 50,53 100,00 (%) Fonte: SEADE (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: O número de empregos apresentado refere-se, em uma determinada data, ao total de vínculos empregatícios remunerados, efetivamente ocupados por trabalhadores com carteira de trabalho assinada (regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), estatutários (funcionários públicos) e trabal- hadores avulsos, temporários e outros, desde que formalmente contratados, informados pelos estabelecimentos quando da elaboração da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho. A Figura 2.33 mostra o rendimento médio mensal por setor da economia no Estado de São Paulo em 2009. Podemos observar que a indústria é responsável maior rendimento médio, seguido do setor de serviços, muito pela exigência de maior qualificação por parte dos trabalhadores. FiGura 2. 33 rendiMento Médio Mensal Por setor da econoMia no estado de são Paulo eM 2009 2.500,00 2.076,16 2.000,00 1.885,02 1.500,00 1.400,71 1.296,69 Reais (R$) 1.000,00 930,66 500,00 0,00 Agropecuária Comércio Construção Indústria Serviços Civil Fonte: SEADE (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) Dentro do setor de serviços, vale destacar a atividade turística do Estado de São Paulo, que é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com 645 municípios e imensa diversidade cultural, paisagística e de atrativos, é o Estado que mais emite e recebe turistas no país. Dados de 2006 revelam que o Estado recebeu 29% do fluxo turístico doméstico brasileiro, sendo também responsável pela emissão de 41% dos turistas para as outras unida- des da federação. Dos 30 destinos turísticos brasileiros mais visitados pela população, cinco estão em São Paulo: Praia Grande, Ubatuba, Caraguatatuba, Santos e a capital São Paulo (SELT/FIPE, 2008). 50
- 70. Contando com três aeroportos internacionais e com o maior porto brasileiro, São Paulo é a porta de entrada para 47% dos turistas estrangeiros que visitam o país. Desse total, 99% chegam por via aérea e 1% por via marítima. Além disso, o Estado possui o maior parque hoteleiro do Brasil, concentrando mais de 20% dos estabelecimentos hoteleiros do país. De acordo com a FIPE (2006), os destinos mais visitados de São Paulo são: a capital, Praia Grande, Ubatuba, Santos, Guarujá, Aparecida, Caraguatatuba, Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. Podemos obser- var dessa relação uma nítida preferência pelos destinos do litoral paulista. A cidade de São Paulo é o principal destino de negócios do Brasil e da América Latina (FIPE, 2006), recebendo cinco milhões de turistas/ano em feiras, convenções, entre outros. O turismo de negócios também é representa- tivo em cidades como Campinas, Bauru, Santo André, Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto, entre outras. A maior parte dos turistas que visita os destinos paulistas é proveniente do próprio Estado de São Paulo (74%), seguido pelos estados vizinhos de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro (FIPE, 2006). Ainda com o objetivo de caracterizar a dinâmica econômica do Estado, podemos verificar na Figura 2.34, a par- ticipação de alguns setores no consumo energético final de São Paulo em 2009. Observamos, neste ano, um consumo energético da ordem de 58.146 x 103 toe (tonne of oil equivalent ou tone- lada equivalente de petróleo), com um aumento de aproximadamente 0,5% em relação ao ano anterior. A maior parte do consumo se deu no setor industrial (27.085 x 103 toe) e de transportes (19.040 x 103 toe) que, juntos, representaram quase 80% do consumo energético final. Porém, vale destacar o recuo de 0,7% observado no consumo do setor industrial em relação ao ano anterior, reflexo da crise econômica ocorrida no período. O setor de transportes apresentou um aumento no consumo de energia final de 1,5%, enquanto os setores comercial e residencial cresceram 3,4% e 3,0% respectivamente. FiGura 2. 34 ParticiPação dos setores no consuMo enerGético Final do estado de são Paulo eM 2009 5,6% 7,9% Setor Energé co 3,8% Residencial 1,8% 1,6% Comercial Público Agropecuário 46,5% Transportes 32,8% Industrial Fonte: São Paulo (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Vale ressaltar a participação expressiva do modal rodoviário no consumo energético final do Estado, repre- sentando 86% do consumo do setor de transportes e 28% do consumo total, considerando todos setores consumidores. A Figura 2.35 que segue mostra a evolução da intensidade energética de 2005 a 2009. A intensidade energética é um indicador que expressa a quantidade de energia empregada para produzir cada unidade de PIB de uma região, estado ou país. Tendo em mente que o consumo energético traz impactos ao meio ambiente, seja pela exploração de recursos naturais ou pela geração de resíduos e efluentes, economias de alta intensidade energética andam na contramão do desenvolvimento sustentável. 51
- 71. FiGura 2. 35 intensidade enerGética no estado de são Paulo de 2005 a 2009 0,075 0,071 0,071 0,071 0,071 R$ 0,070 10³ toe/ 106 0,070 0,065 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: São Paulo (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Verifica-se que a intensidade energética no Estado de São Paulo vem se mantendo constante ao longo dos úl- timos anos, indicando que o aumento do Produto Interno Bruto estadual tem sido proporcional ao aumento do consumo de energia, sendo necessária, desta forma, a adoção de medidas mais eficientes no uso da energia para desacoplar o crescimento econômico do consumo energético, possibilitando, assim, a diminuição da intensidade energética no Estado. 2.2.3 dinâmica de uso e ocupação do solo Quando se analisa o conjunto das UGRHI agrupadas por meio de suas vocações socioeconômicas (Figura 2.2), percebe-se que a relação entre a distribuição espacial da população e a área ocupada pelo grupo dessas UGRHI é muito desigual. Isso se dá conforme todo o histórico de uso e ocupação do território paulista, especialmente desde o início do processo de industrialização brasileiro, concentrado primeiramente na cidade de São Paulo. Como definido na Lei Estadual nº 9.034/94, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos, as UGRHI estão divididas em quatro categorias de vocação: agropecuária, em industrialização, industrial e conservação. Como se verifica na Figura 2.36, 73% de toda a população do Estado se encontra nas UGRHI de vocação indus- trial, evidenciando um grande adensamento demográfico nessas áreas, já que as bacias com essa vocação ocupam tão somente 20% de todo o território. Delas fazem parte as três regiões metropolitanas paulistas e muitas cidades de elevada relevância econômica. O contrário acontece nas UGRHI de vocação agropecuária. Com 42% da área do Estado, possuem somente 11% de toda a população. Já as UGRHI com vocação conservacionista ocupam 17% do território e contam com 3,5% da população. Atenção especial merece o grupo das UGRHI que estão em processo de transição socioeconômica, ou seja, em industrialização. Ocupam uma quinta parte (21%) da área do Estado e 12% da população. Entretanto, as trans- formações e o crescimento econômico que vêm ocorrendo nessas bacias certamente levarão a um incremento significativo da população ao longo dos próximos anos, especialmente nas zonas urbanas. 52
- 72. FiGura 2. 36 Percentual de área e PoPulação Por vocação das uGrHi no estado de são Paulo eM 2010 População Área 80% 73,0% 60% 42,1% 40% 19,8% 21,0% 20% 17,1% 12,2% 11,3% 3,5% 0% Industrial Em Agropecuária Conservação industrialização Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) áreas urbanas Nas últimas décadas, houve no Estado de São Paulo a priorização do modal rodoviário em detrimento da fer- rovia, ocasionando o surgimento de uma densa malha viária, o que impulsionou a localização dos principais eixos industriais para novas áreas próximas às rodovias. O cenário econômico mais recente, associado a um planejamento governamental que priorizou a descentraliza- ção econômica, resultou em uma refuncionalização do território do ponto de vista da ocupação urbana. Além da já existente Região Metropolitana de São Paulo, passaram a existir as Regiões Metropolitanas de Campinas e da Baixada Santista. Entre estas três regiões formou-se um corredor de cidades de médio porte, altamente urbanizadas e dotadas de importantes parques industriais, estabelecendo-se fluxos de pessoas, mercadorias e serviços. As rela ões de ç complementaridade urbana destas cidades, bem como suas relações econômicas e institucionais, fazem com que vários autores e instituições passem a trabalhar com o conceito da Macrometrópole Paulista, destacada na Figura 2.37 e detalhada mais adiante. Outra relação importante de complementaridade urbana está em curso na região urbano-industrial do Vale do Paraíba, que, com o avanço do processo de conurbação entre as cidades da região, contribui para configurar, no futuro, uma megalópole – espaço urbano contínuo entre as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo. De forma complementar à análise dos principais vetores de desenvolvimento urbano do Estado, faz-se necessário o entendimento da rede urbana paulista. Nesse sentido, baseado em critérios da Fundação SEADE (2006) e da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano –EMPLASA (2008), consideramos aqui três classificações para as regiões urbanizadas do Estado: regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e centros urbanos. De acordo com a Constituição da República, “os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir re- giões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” (Constituição art.25 § 03). 53
- 73. Em São Paulo, existem três regiões metropolitanas legalmente instituídas: a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP); a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). Além destas, consideramos que existem ainda, oito aglomerações urbanas – sem normas específicas que as criam – e 10 centros urbanos, municípios que funcionam como pólos regionais, como pode ser visto na Tabela 2.11 e na Figura 2.37. tabela 2. 11 reGiões MetroPolitanas, aGloMerações urbanas e centros urbanos reGionais do estado de são Paulo número de regiões Metropolitanas Municípios municípios Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Cajamar, Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itapecerica da Serra, Jandira, Juquitiba, São Paulo 39 Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Campinas 19 Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínea, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio da Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo. Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Monguaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, Baixada Santista 9 São Vicente. número de aglomerações urbanas Municípios municípios Aparecida, Caçapava, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, Potim, Roseira, São São José dos Campos 10 José dos Campos, Taubaté e Tremembé. Atibaia, Bragança Paulista, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itu, Itupeva, Jarinu, Sorocaba-Jundiaí 13 Jundiaí, Louveira, Porto Feliz, Salto, Sorocaba e Várzea Paulista. Araras, Conchal, Cordeirópolis, Estiva Gerbi, Iracemápolis, Leme, Limeira, Mogi- Piracicaba-Limeira 12 Guaçu, Moji-Mirim, Piracicaba, Rio Claro e Santa Gertrudes. Barrinha, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Pradópolis, Ribeirão Preto, Serrana, Ribeirão Preto 8 Sertãzinho. Araraquara-São Carlos 5 Américo Brasiliense, Araraquara, Gavião Peixoto, Ibaté e São Carlos. São José do Rio Preto 3 Bady Bassit , Mirassol e São José do Rio Preto. Bauru 4 Agudos, Bauru, Lençóis Paulista e Pederneiras. Araçatuba 2 Araçatuba e Birigui. número de centros urbanos Municípios municípios Barretos, Botucatu, Catanduva, Franca, Itapetininga, Jaú, Marília, Ourinhos, 10 Presidente Prudente, Tatuí. Fonte: SEADE (2006) e EMPLASA (2008), elaborado por SMA/CPLA (2010) 54
- 74. FiGura 2. 37 reGiões MetroPolitanas, aGloMerações urbanas e centros urbanos reGionais do estado de são Paulo Fonte: SEADE (2006) e EMPLASA (2008), elaborado por SMA/CPLA (2010) Em 2010, segundo o IBGE (2010a), o conjunto das três regiões metropolitanas concentrava quase 60% da popula ão ç do Estado, sendo que, somente a Região Metropolitana de São Paulo concentrava 48%. As regiões metropolitanas da Baixada Santista e de Campinas concentravam, respectivamente, 4% e 7% da população (Tabela 2.12). tabela 2. 12 – PoPulação e área das áreas urbanas do estado de são Paulo eM 2010 unidade População (hab) % área (km²) % regiões Metropolitanas São Paulo 19.672.582 47,7% 7.943,82 3,2% Campinas 2.798.477 6,8% 3.645,67 1,5% Baixada Santista 1.663.082 4,0% 2.422,78 1,0% aglomerações urbanas São José dos Campos 1.566.592 3,8% 4.525,32 1,8% Sorocaba-Jundiaí 1.867.230 4,5% 4.041,61 1,6% Piracicaba-Limeira 1.359.475 3,3% 5.415,83 2,2% Ribeirão Preto 846.803 2,0% 2.327,53 0,9% Araraquara-São Carlos 500.327 1,2% 2.803,57 1,1% São José do Rio Preto 476.849 1,2% 784,70 0,3% Bauru 481.555 1,2% 3.174,12 1,3% Araçatuba 290.340 0,7% 1.697,96 0,7% centros urbanos Total 1.581.894 3,8% 8.978,99 3,6% estado de são Paulo 41.252.160 100,00% 248.209,43 100,00% Fonte: SEADE (2010c) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) 55
- 75. Como já visto anteriormente, o panorama de ocupação do território paulista evidencia algumas discrepâncias regionais. Apesar de concentrar expressivos 60% da população, as três regiões metropolitanas ocupam juntas, somente 6% do território do Estado. Se considerarmos, ainda, todos os municípios tipicamente urbanos citados acima, observamos mais de 80% da população paulista vivendo nesses municípios, que ocupam uma área de apenas 19% de todo território. Desse perfil resulta, portanto, uma grande concentração demográfica em poucas áreas do Estado. Especificamente abordando a distribuição espacial do uso do solo urbano no Estado de São Paulo, um estudo organizado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU/USP (REIS, 2006) indica que, entre 1970 e 1990, houve a formação de um eixo entre as regiões metropolitanas do Estado, além de outros eixos ligando a RMSP a Sorocaba e ao Vale do Paraíba, em direção ao Rio de Janeiro. Diante disso, conjuntos de cidades de médio porte, como no Vale do Paraíba e no entorno de Campinas, passam a ser organizados de modo integra o, como uma área metropolitana. d A mudança no padrão do tecido urbano torna-se evidente principalmente nestas regiões do Estado, com a ace- leração do processo de ocupação, o aumento da demanda por espaços e equipamentos urbanos e a consequente elevação dos preços da terra edificável, causando a formação de áreas periféricas, de início com os subúrbios e depois com áreas desconexas dos núcleos principais. A maior concentração populacional acompanha os eixos da Rodovia Anhanguera (SP-330) e da antiga Com- panhia Paulista de Estradas de Ferro, sendo que a urbanização deste vetor apresenta, em maior escala, os novos padrões de grande dispersão4. Já no eixo do Vale do Paraíba, a mancha urbanizada desenvolveu-se ao longo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), tendo como centros as cidades de São José dos Campos e Taubaté. A Bai- xada Santista também apresenta elevado grau de urbanização e adensamento populacional. A grande concentração urbana se define, de acordo com o estudo da FAU/USP, como um “Sistema Integrado de Regiões Metropolitanas” e envolve, além das regiões metropolitanas oficiais, as regiões adjacentes de São Jose dos Campos, de Sorocaba e Itu, de Jundiaí, de Piracicaba, Limeira e Rio Claro, de Mogi Mirim e Mogi-Guaçu e de Atibaia. Caminhando no mesmo sentido, a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA, 2008), como subsídio ao planejamento territorial do Estado, definiu a Macrométropole Paulista, que nada mais é do que a conformação das Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas e da Baixada Santista, juntamente com os Aglomerados Urbanos de Piracicaba-Limeira, de São José dos Campos e de Sorocaba-Jundiaí, abrangen- do um total 102 municípios. A Figura 2.38 mostra a Macrometrópole Paulista e as regiões que a compõe. 4 Entende-se por novos padrões de dispersão urbana áreas de ocupação residenciais voltadas ao lazer que se consolidam como núcleos de habitação permanente, configurando-se simultaneamente bairros industriais e complexos comerciais, atrelados a essa nova configuração. Esse fenômeno pode ser chamado de urbanização difusa ou dispersa. 56
- 76. FiGura 2. 38 a MacroMétroPole Paulista e suas reGiões constitutivas Fonte: EMPLASA (2008), elaborado por SMA/CPLA (2010) A importância desta macrometrópole é confirmada quando observamos que a mesma abriga 70% da população paulista em apenas 11% do território e produz cerca de 80% do PIB estadual (EMPLASA, 2008). Desta forma, fica ainda mais evidente a distribuição desigual da população paulista em seu território, no qual, como podemos observar na Figura 2.39, mais de 80% de sua população vive em municípios tipicamente urbanos, que somados, ocupam uma área de pouco menos de 20% do total do Estado. 57
- 77. FiGura 2. 39 Percentual de PoPulação e área da MacroMetróPole Paulista e do restante do estado eM 2010 População Área 100% 80,8% 80% 70,1% 60% 40% 19,7% 20% 11,3% 6,3% 4,3% 3,8% 3,6% 0% Macrometrópole Demais Centros Urbanos Restante do Aglomerados Estado Urbanos Fonte: SEADE (2010c) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) Confirmando a tendência de concentração populacional e de uso urbano do solo no entorno das regiões me- tropolitanas, e da dispersão urbana ao longo dos eixos viários que partem da capital rumo a outros centros im- portantes do Estado, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (MIRANDA et al, 2005) realizou um estudo, integrando dados do IBGE (Censo 2000) com informações obtidas por meio da interpretação de imagens de satélite (LANDSAT 2000-2001), mapeando as áreas efetivamente urbanizadas em todo o país. Neste estudo, estimativas realizadas para o ano de 2020 (MIRANDA et al, 2005) apontam que a tendência de elevada con entração populacional permanecerá nas áreas do entorno das regiões metropolitanas e aglomerações c próximas a elas, consolidando, desta forma, a região da Macrometrópole Paulista. áreas rurais O setor primário da economia, ou seja, o setor ligado diretamente às atividades rurais é vigoroso e participa de modo importante na economia estadual. Para a maioria dos municípios paulistas, as atividades ligadas à agrope- cuária e à silvicultura são as principais. Esses municípios, embora espalhados por todo o território do Estado, se localizam principalmente no interior, nas UGRHI com vocação agropecuária. De acordo com a metodologia adotada pelo IBGE, apresentada no trabalho “Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil”, publicado em 1999 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), são con- siderados rurais, todos aqueles municípios com população de até 50 mil habitantes, independentemente de sua densidade demográfica, ou com população entre 50 e 100 mil habitantes e densidade demográfica abaixo de 80 hab/km², e que, ainda, se localizem fora das regiões metropolitanas e aglomerados urbanos. No Estado de São Paulo, os municípios rurais somam 488, mais de 75% do total de municípios existentes. Estes ocupam 76% da área do Estado e concentram o grosso das atividades agropecuárias paulista. Contudo, vale frisar, que alguns municípios considerados rurais de acordo com os critérios descritos acima, não apre- sentam suas atividades econômicas ligadas exclusiva ou predominantemente ao setor primário da economia. Esses municípios têm potencial para a conservação e para o setor terciário da economia, como o turismo, e se localizam, sobretudo, nas UGRHI de vocação conservacionista (Litoral Norte, Mantiqueira, Ribeira de Iguape/Litoral Sul e Alto Paranapanema). 58
- 78. Cana-de-açúcar e pastagens: a predominância no uso do solo A predominância na ocupação e uso do solo no Estado de São Paulo se dá pela cultura canavieira e pelas pastagens, predominantemente do gado bovino, como pode ser observado na Figura 2.40. FiGura 2. 40 PrinciPais usos do solo aGrícola no estado de são Paulo eM 2008 22,1% Cana-de-açúcar Pastagem 36,2% Laranja Café Soja Eucalipto Pinus 2,7% 29,0% Milho 0,6% 3,5% Outros usos 3,0% 1,6% 0,9% Fonte: São Paulo (2008), elaborado por SMA/CPLA (2010) Ao longo da última década, a cana-de-açúcar tem crescido cada vez mais e ocupado áreas de pastagens, principalmen- te. De acordo com dados do Levantamento Censitário de Unidades de Produção Agrícola do Estado de São Paulo (LUPA) 2007/2008 (SÃO PAULO, 2008), de 1995/1996 até 2007/2008, houve um significativo recuo das áreas de pastagens e um incremento dos canaviais em seu lugar. Esse avanço se dá principalmente em direção ao Oeste Paulista. No período, as pas agens declinaram em 2,2 milhões de hectares (recuaram de 51% para 40% das áreas totais t rurais). As dedicadas a lavouras temporárias (incluindo a cana-de-açúcar) aumenta am, no mesmo período, em r 1,1 milhão de hectares (evoluíram de 23% para 33% do todo do solo rural). As demais atividades mantiveram-se em mesmas proporções de ocupação, em relação ao todo utilizado nos anos 90. Segundo as mesmas fontes, no período, as Unidades de Produção Agrícola (UPA) que cultivavam a cana cres- ceram de 70.111 unidades para 99.799 unidades. Um acréscimo de 42,3%. Sua área plantada aumentou de 2.886.313 ha para 5.497.139 ha, um aumento de 90,5%. Quanto às pastagens, as UPA que se dedicaram à criação de bovinos representaram 62,3% do todo, em 1996/1997, com média de 73 cabeças de gado por UPA. Em 2007/2008, as Unidades com pastagens para cria- ção bovina decresceram para 14,7% do todo, com média de 121 cabeças por UPA. Como se vê, registrou-se um aumento importante da produtividade em sua atividade, na busca por melhor utilizar espaços disponíveis cada vez mais exíguos. Embora a cana-de-açúcar e as pastagens ocupem de modo majoritário a área total do Estado, se destacam tam- bém as produções de laranja, café, soja, milho e a silvicultura, notadamente o eucalipto e pinus. cobertura vegetal natural As alterações da área de cobertura vegetal nativa, à medida que ilustram a dinâmica de uso dos recursos naturais e, de maneira geral, das atividades antrópicas, acabam refletindo os padrões de evolução do uso e ocupação do solo numa determinada região. 59
- 79. No Estado de São Paulo, a cobertura de florestas nativas já chegou a ocupar mais de 80% de seu território, de- caindo progressivamente até a década de 90 quando começou a apresentar uma tendência de recuperação. De acordo com os dados do Inventário Florestal de Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2005 (KRONKA et al, 2005), para o período de 1962 a 1992, os remanescentes de vegetação natural tiveram um decréscimo de 46,9%, retomando o seu crescimento entre 1992 e 2001, quando observa-se um acréscimo de 3,8%, demonstran- do uma estabilização da taxa de desmatamento. Ainda segundo Kronka et al (2005), a área total dos remanescentes de vegetação contabilizou, em 2001, 3.457.301 hectares, ou 13,9% da área total do Estado. Já conforme o Inventário Florestal de Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2008/2009, elaborado pelo Instituto Florestal (IF, 2010), o Estado conta hoje com 4.343.718 hectares de cobertura vegetal nativa, correspondendo a 17,5% de sua superfície. É importante ressaltar que as metodologias utilizadas ao longo dos anos, desde 1962 até 2009, foram diferentes, portanto, o que se pretende aqui, é mostrar apenas a tendência da taxa de desmatamento no Estado e não com- parar as áreas de cobertura vegetal em valores absolutos. Ainda, como exemplo, podemos destacar que a variação observada entre 2001 e 2009, se deve, principalmente, ao fato de o novo mapa de cobertura vegetal ter sido produzido com imagens de satélite de alta resolução, o que determinou a descoberta de novos remanescentes florestais que não podiam ser vistos no mapeamento anterior. A Figura 2.41 que segue mostra a evolução da área de cobertura vegetal nativa ao longo dos anos, indicando também o percentual em relação à área total do Estado para os anos considerados. FiGura 2. 41 evolução da área cobertura veGetal nativa no estado de são Paulo Área de cobertura vegetal na�va 8,0 29,3% 7,0 6,0 Milhões de hectares 5,0 17,7% 17,5% 4,0 13,9% 13,4% 3,0 2,0 1,0 0,0 1962 1971/1973 1990/1992 2000/2001 2008/2009 Fonte: Kronka et al (2005) e IF (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Destes remanescentes, observa-se a predominância das matas e capoeiras (vegetação florestal atlântica em processo de regeneração), dispostas principalmente no contínuo da Serra do Mar. Os outros ecossistemas encontrados são: o Cerrado; os ecossistemas costeiros (restinga e manguezais); e a vegetação de várzea. Do Cerrado, que já ocupou 14% da superfície do Estado, resta hoje aproximadamente 1%, fato que compromete severamente sua sustentabilidade futura e que levou o Governo a promulgar, em 2009, a Lei Estadual 13.550/09, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado. 60
- 80. Ainda segundo dados do Inventário Florestal de Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2008/2009 (IF, 2010), pode-se constatar que a vegetação remanescente está distribuída de forma heterogênea e se concentra nas áreas de maior declividade. Os maiores remanescentes são encontrados nas escarpas da Serra do Mar, no Litoral, no Vale do Ribeira, e nas Unidades de Conservação administradas pelo poder público. Já no interior do Estado, muito em função do processo histórico de ocupação do território, verifica-se a diminuição dos índices de cobertura vegetal natural e o aumento da fragmentação dos remanescentes. A Figura 2.42 mostra os remanescentes de vegetação natural existentes no Estado divididos por tipo de vegetação, os quais são descritos com mais detalhes no Capítulo 3 (item 3.6) deste documento. FiGura 2. 42 reManescentes de veGetação natural do estado de são Paulo eM 2008/2009 Fonte: IF (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) referências EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. – EMPLASA. Macrometrópole Paulista – Indica- dores 2008. São Paulo: EMPLASA, 2008. FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE. Relatório Final do Turismo. São Paulo: FIPE, 2006. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. 2011. Disponível em: <http://www.seade.sp.gov.br>. Acesso em: fev. 2011. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE. Informações dos municípios paulistas. 2010c. Dis- ponível em: <http://www.seade.sp.gov.br>. Acesso em: nov.2010. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE. CDHU, Subsídios à Elaboração do Plano Habi- tacional do Governo do Estado de São Paulo. Relatório técnico. São Paulo, 2006. 61
- 81. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico. 2010a. Disponível em <http:// www.ibge.gov.br>. Acesso em: dez. 2010. INSTITUTO FLORESTAL – IF. Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2008/2009. Dados forne- cidos não publicados. São Paulo, 2010. KRONKA, F. J. N. et al. Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2005. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente/Instituto Florestal. Imprensa Oficial, 2005. MINISTÉRIO DAS CIDADES – MCidades. Déficit Habitacional 2008. 2010a. Disponível em <http://www.cidades.gov.br>. Acesso em: jan. 2011. MIRANDA, E. E; GOMES, E. G; GUIMARÃES, M. Mapeamento e estimativa da área urbanizada do Brasil com base em imagens orbitais e modelos estatísticos. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2005. Disponível em: <http://www.urban- izacao.cnpm.embrapa.br>. Acesso em: nov.2010. REIS, N. G. Notas sobre a Urbanização Dispersa e Novas Formas de Tecido Urbano. Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação. FAU - USP/FAPESP. São Paulo, 2006. SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Instituto de Econo- mia Agrícola. Levantamento censitário de unidades de produção agrícola do Estado de São Paulo - LUPA 2007/2008. São Paulo: SAA/CATI/IEA, 2008. Disponível em: <http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa>. Acesso em: nov. 2010. SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento. DAEE. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004-2007. 2005. São Paulo, 2005. SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Saneamento e Energia. Balanço Energético do Estado de São Paulo 2010: Ano Base 2009. São Paulo: SSE/SP, 2010. SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO / FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – SELT/FIPE. Caracterização da demanda turística do Estado de São Paulo. Relatório de Pes- quisa, não publicado. São Paulo, 2008. 62
- 82. 3 diagnóstico ambiental do estado de são Paulo 63
- 83. 64
- 84. 3.1 recursos Hídricos O Brasil destaca-se no cenário mundial pela grande descarga de água doce dos seus rios, cuja produção hídrica, 178 mil m³/s e mais 73 mil m³/s da Amazônia internacional, representa 53% da produção de água doce do continente sul-americano (334 mil m³/s) e 12% do total mundial (1.488 milhões de m³/s), segundo Rebouças (2006). O Brasil apresenta uma rede hidrográfica densa, com grandes bacias continentais (Amazonas, Paraná, Paraguai, São Francisco, entre outras), além de pequenas bacias litorâneas. Existem, ainda, grandes reservatórios de água, como os aquíferos subterrâneos. No entanto, permanece o problema da distribuição. Existem, de um lado, regiões populosas, como os grandes centros urbanos, nos quais há muita gente para pouca água, e de outro, regiões de baixa ou baixíssima densidade demográfica, como a Amazônia e o Centro-Oeste, com fartura de recursos e pouca infraestrutura de utilização. Assim, os problemas de abastecimento no Brasil decorrem, fundamentalmente, da combinação do crescimento exagerado das demandas localizadas e da degradação da qualidade das águas (REBOUÇAS, 2006). A desigualdade na distribuição e nos graus de utilização da água levou a uma definição de regras para o seu uso, com o intuito de mediar possíveis conflitos através de uma política de gestão integrada das águas. Entre os instrumentos desta política, podemos citar a implementação da Lei de Águas, de 1997, além da criação da Agência Nacional de Águas em 2000. A aqui chamada ‘gestão integrada’, se refere à necessidade de garantir o abastecimento atual sem comprometer o uso da água pelas gerações futuras, além de promover a utilização adequada e racional pelos múltiplos usos – abastecimento público, irrigação, geração de energia elétrica, transporte aquaviário, entre outros. A desigualdade na distribuição da água, presente em território nacional, se repete em diferente escala no território paulista. No Estado de São Paulo, o volume anual de chuva atinge um valor em torno de 10.840 m³/s, sendo que 29% se transformam em escoamento superficial, representando uma disponibilidade hídrica superficial de cerca de 3.120 m³/s (SÃO PAULO, 2005). Isto significa que, de maneira geral, há água em abundância. No entanto, quando se analisa a distribuição da água associada à concentração populacional, existem regiões pouco populosas com alta disponibilidade hídrica e regiões populosas com grande demanda e pouca disponibilidade de água, levando à necessidade de transferências de águas entre bacias. Para fins de planejamento e gestão dos recursos hídricos, o Estado de São Paulo está dividido em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI). O princípio básico que norteia esta divisão é a utilização da bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão. Cada UGRHI, por sua vez, é representada politicamente por um comitê de bacia, responsável pela gestão, de forma descentralizada e compartilhada, dos recursos hídricos na sua área de atuação, exceto as UGRHI Aguapeí e Peixe, que escolheram formar um único comitê. A Figura 3.1 apresenta um mapa com a divisão do Estado em UGRHI. 65
- 85. FiGura 3. 1 unidades de GerenciaMento de recursos Hídricos do estado de são Paulo Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) A questão da água no Estado de São Paulo não representa uma situação homogênea, seja do ponto de vista da distribuição, como também de seus usos e conflitos. No Estado de São Paulo, quanto a demanda por água, pode-se dividir o Estado em duas grandes áreas: 1) o setor mais a leste, onde está situada a “Macrometrópole Paulista”, composta pelas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, bem como pelos Aglomerados Urbanos de São José dos Campos, Sorocaba/Jundiaí e Piracicaba/Limeira e; 2) o restante do Estado, que possui, em sua maioria, extensas áreas agrícolas e um padrão de urbanização mais disperso, contando com a presença de alguns grandes centros urbanos, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente e Araçatuba. Como já visto no Capítulo 2 (item 2.2.3) a Macrometrópole Paulista é composta por 102 municípios, detém 70% da população do Estado, responde por 80% do seu PIB e contempla áreas das UGRHI: 02 (Paraíba do Sul), 05 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí), 06 (Alto Tietê), 07 (Baixada Santista), 09 (Mogi-Guaçu) e 10 (Sorocaba/Médio Tietê). Por ser a região mais industrializada e urbanizada do Estado, é grande consumidora de água, sendo de extrema importância a gestão integrada dos recursos hídricos. 3.1.1 águas subterrâneas Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004-2007, publicado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2005, em pelo menos 2/3 do Estado, o potencial explotável dos mananciais subterrâneos é muito bom, devido à existência de importantes aquíferos de extensão regional e local. Mesmo nas áreas menos favoráveis do ponto de vista hidrogeológico, quando as demandas são compatíveis com vazões menores, o suprimento 66
- 86. de pequenas comunidades, propriedades rurais e pequenas indústrias com água subterrânea pode ser atraente. Em virtude da abundância e qualidade de suas águas (que dispensam tratamentos custosos), baixo custo de extração, grau de deterioração da qualidade das águas superficiais (cujo uso vem exigindo investimentos cada vez maiores), as águas subterrâneas vêm adquirindo um crescente valor econômico, sendo amplamente utilizadas para abastecimento público e industrial. Segundo Iritani e Ezaki (2008), as águas subterrâneas no Estado de São Paulo se distribuem pelos diferentes aquíferos existentes no território, os quais se distinguem por suas características hidrogeológicas, como por exemplo tipo de rocha e forma de circulação da água. No Estado, podemos reunir os aquíferos em dois grandes grupos: os Aquíferos Sedimentares e os Fraturados, cujas áreas de afloramento podem ser vistas na Figura 3.2. O grupo dos Aquíferos Sedimentares é aquele constituído por sedimentos depositados pela ação dos rios, vento e mar, onde a água circula pelos poros existentes entre os grãos. No Estado de São Paulo destacam-se, pela produção de água, os Aquíferos Guarani, Bauru, Taubaté, São Paulo e Tubarão (IRITANI e EZAKI, 2008). O grupo dos Aquíferos Fraturados reúne aqueles formados por rochas ígneas e metamórficas. As rochas ígneas são formadas pelo resfriamento do magma, sendo o granito o mais comum. Os gnaisses, xistos, quartzitos e metacalcários são exemplos de rochas metamórficas, geradas quando rochas ígneas ou sedimentares forma submetidas a mudanças significativas de temperatura e pressão. São rochas maciças e compactas, não apresentando espaços vazios entre os minerais, sendo que, a água circula pelas fraturas formadas durante e após o resfriamento. No Estado de São Paulo destacam-se os Aquiferos Serra Geral e o Cristalino(IRITANI e EZAKI, 2008). FiGura 3. 2 unidades aQuiFeras do estado de são Paulo Fonte: DAEE, IG, IPT e CPRM (2007), elaborado por SMA/CPLA (2010) 67
- 87. Quanto a qualidade das águas subterrâneas, a CETESB, em 2010, publicou o “Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo: 2007-2009”, que apresenta os resultados do monitoramento da rede de qualidade das águas subterrâneas para o triênio 2007-2009. Segundo o relatório, o período de 2007 a 2009 não apresentou mudança significativa na qualidade das águas subterrâneas em relação ao período anteriormente analisado, durante os anos de 2004 a 2006. Os parâmetros nitrato, crômio, fluoreto e bário continuam apresentando desconformidades em maior número, além dos parâmetros microbiológicos, coliformes totais e bactérias heterotróficas, que ocorreram de forma sistemática em todas as UGRHI. Em 2009, foi instituído o Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas (IPAS), que representa o percentual das amostras de águas subterrâneas coletadas em conformidade com os padrões de potabilidade e de aceitação ao consumo humano da Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04. Em 2010, o IPAS foi publicado no Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas (CETESB, 2010a), onde foi detalhado para as UGRHI e para os aquíferos do Estado de São Paulo. O indicador foi divido em três classes que indicam a qualidade das águas subterrâneas: Ruim (0 – 33%), Regular (33,1 – 67%) e Boa (67,1 – 100%). A Tabela 3.1 apresenta o Indicador de Potabilidade de Água Subterrânea, de 2006 a 2009, por UGRHI e para o Estado de São Paulo, com indicação da substância que possui concentração acima do padrão de potabilidade do Ministério da Saúde. 68
- 88. tabela 3. 1 indicador de Potabilidade das áGuas subterrâneas Por uGrHi de 2007 a 2009 2007 2008 2009 uGrHi iPas Parâmetros em iPas Parâmetros em iPas Parâmetros em (%) não conformidade (%) não conformidade (%) não conformidade ferro, manganês, 02 – Paraíba do sul 62,5 bário, ferro, manganês 78,6 ferro, manganês 62,5 bactérias heterotróficas, coliformes totais 04 – Pardo 91,7 manganês, bactérias heterotróficas 90,9 alumínio 90,9 alumínio, manganês fluoreto, manganês, fluoreto, manganês, 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 79,2 fluoreto, manganês, coliformes totais 70,8 bactérias heterotróficas, 75,0 coliformes totais coliformes totais alumínio, chumbo, ferro,fluoreto, alumínio, crômio, ferro, fluoreto, manganês, nitrato, bactérias alumínio, ferro, fluoreto, manganês, nitrato, 06 – alto tietê 62,2 manganês, nitrato, coliformes totais, 56,3 79,5 heterotróficas e bactérias heterotróficas, coliformes totais bactérias heterotróficas coliformes totais 08 – sapucaí/grande 100,0 - 100,0 - 91,7 bactérias heterotróficas ferro, bactérias heterotróficas, bactérias heterotróficas, 09 – Mogi-Guaçu 82,6 ferro, manganês, coliformes totais 83,3 87,5 coliformes totais coliformes totais, Escherichia coli arsênio, manganês, arsênio, ferro, fluoreto, arsênio, fluoreto, manganês, 10 – sorocaba/Médio tietê 65,0 78,9 nitrogênio amoniacal, sódio, bactérias 65,0 manganês, sódio, sódio, bactérias heterotróficas heterotróficas bactérias heterotróficas 12 – baixo Pardo/Grande 100,0 - 100,0 - 87,5 bactérias heterotróficas 13 – tietê /Jacaré 81,5 alumínio 84,0 ferro, bactérias hetotróficas 85,7 bactérias heterotróficas 14 – alto Paranapanema 62,5 alumínio, coliformes totais 85,7 nitrogênio amoniacal 100,0 - 15 – turvo/Grande 80,0 alumínio, ferro 100,0 - 100,0 - 16 – tietê /batalha 84,6 crômio, coliformes totais 81,8 crômio, bactérias heterotróficas 75,0 crômio, ferro, nitrato 17 – Médio Paranapanema 100,0 - 83,3 bário 100,0 - 18 – são José dos dourados 76,5 crômio 50,0 crômio, nitrato 62,5 crômio, Escherichia coli nitrato, coliformes totais, 19 – baixo tietê 83,3 nitrato 75,0 58,3 nitrato, coliformes totais bactérias heterotróficas alumínio, bário, nitrato, coliformes bário, nitrato, 20 – aguapeí 71,4 92,9 bário, crômio, coliformes totais 81,5 totais coliformes totais crômio, nitrato, 21 – Peixe 73,1 crômio, nitrato, coliformes totais 69,2 crômio, coliformes totais 65,4 bactérias heterotróficas 22 – Pontal do Paranapanema 90,0 alumínio, coliformes totais 90,0 ferro 100,0 - estado de são Paulo 77,7 79,7 80,1 Fonte: CETESB (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) 69
- 89. No Estado de São Paulo, o IPAS passou de 86,9% em 2006 para 80,1% em 2009 e apesar desse índice apre- sentar queda, de acordo com a CETESB (2010a), as águas subterrâneas do Estado de São Paulo ainda são classificadas como de boa qualidade. As UGRHI 02 (Paraíba do Sul), 06 (Alto Tietê), 10 (Sorocaba/Médio Tietê) e 18 (São José dos Dourados) apresentaram qualidade regular em dois dos três anos monitorados e as UGRHI 14 (Alto Paranapanema), 19 (Baixo Tietê) e 21 (Peixe) apresentaram qualidade regular em um dos três anos. As demais apresentaram boa qualidade nos três anos. As UGRHI 19 e 21 apresentam a tendência de piora da qualidade das águas subterrâneas, demonstrando elevadas concentrações de crômio e nitrato. Quanto aos aquíferos, os menores valores do IPAS foram registrados nos aquíferos Pré-Cambriano (Cristalino), São Paulo, Taubaté e Bauru. A pior situação foi encontrada no Aquífero São Paulo em 2008, com qualidade ruim das águas, no entanto em 2007 e 2009 as águas apresentaram boa qualidade (Tabela 3.2). As águas dos Aquífero Pré-Cambriano e Taubaté apresentaram qualidade regular em dois, dos três anos monitorados. Nos demais aquíferos a qualidade permaneceu boa durante o triênio. Para o Aquífero Bauru o indicador mostra boa qualidade das águas apesar das elevadas concentrações de nitrato e crômio detectadas. tabela 3. 2 indicador de Potabilidade das áGuas subterrâneas Por aQuiFeros de 2007 a 2009 2007 2008 2009 aquiferos Parâmetros Parâmetros Parâmetros iPas (%) iPas (%) iPas (%) desconformes desconformes desconformes alumínio, bário, bário, crômio, ferro, bário, crômio, nitrato, crômio, ferro, nitrato, coliformes bactérias heteotróficas, bauru 76,7 80,0 77,6 nitrato, coliformes totais, bactérias coliformes totais, totais heterotróficas Escherichia coli alumínio, coliformes bactérias serra Geral 91,7 92,0 89,3 bactérias heterotróficas totais heterotróficas alumínio, alumínio, nitrogênio alumínio, ferro, Guarani 92,3 manganês, bactérias 91,9 amoniacal, bactérias 90,2 manganês, nitrato, heterotróficas heterotróficas bactérias heterotróficas manganês, alumínio, fluoreto, sódio, nitrogênio tubarão 67,9 manganês, sódio, 85,2 82,1 fluoreto, manganês, sódio amoniacal, coliformes totais coliformes totais alumínio, arsênio, alumínio, arsênio, arsênio, ferro, fluoreto, Pré- chumbo, ferro, chumbo, ferro, manganês, nitrato, fluoreto, manganês, fluoreto, manganês, 60,0 56,9 67,8 bactérias heterotrofias, nitrato, bactérias nitrato, bactérias cambriano coliformes totais, heterotróficas, heterotróficas, Escherichia coli coliformes totais coliformes totais ferro, coliformes totais, taubaté 66,7 bário, ferro 90,9 ferro 66,7 bactérias heterotróficas alumínio, ferro, ferro, manganês, manganês, coliformes são Paulo 75,0 ferro, manganês 28,6 bactérias 87,5 totais, bactérias heterotróficas heterotróficas estado de 77,7 79,7 80,1 são Paulo Fonte: CETESB (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) O Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas, triênio 2007 a 2009, (CETESB, 2010a) ainda destaca: a tendência de aumento do nitrato, principalmente no Aquífero Bauru, que é utilizado para abastecimento público de água e como solução alternativa de abastecimento na região oeste do Estado; a presença de crômio em concentrações acima do padrão de potabilidade, principalmente em relação às UGRHI 16 (Tietê/Batalha), 70
- 90. 18 (São José dos Dourados) e 21 (Peixe); concentrações de bário acima do valor máximo permitido nos aquíferos livres Bauru e Guarani, nas UGRHI 13 (Tietê/Jacaré), 17 (Médio Paranapanema) e 20 (Aguapeí); desconformidades para fluoreto nos aquíferos Tubarão, na UGRHI 10 (Sorocaba/Médio Tietê) e no Pré- Cambriano, nas UGRHI 05 (PCJ) e 06 (Alto Tietê). Verificou-se ainda que os parâmetros alumínio e ferro ultrapassaram os valores de intervenção definidos com base no padrão de aceitação para consumo humano da Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde, porém a maioria dessas ocorrências não ultrapassaram os valores de investigação da Resolução CONAMA nº 420/09, que foram derivados com base em risco à saúde humana. Esses valores foram ultrapassados nos pontos de monitoramento dos municípios de Bananal e Lindóia, no Aquífero Pré-Cambriano, e Guarulhos, no Aquífero São Paulo. Quanto as desconformidades dos parâmetros microbiológicos, verificadas sistematicamente em todas as UGRHI, destacou-se que podem estar associadas aos sistemas de tratamento de esgotos nas áreas próximas aos pontos monitorados e à deficiência sanitária dos perímetros de proteção dos poços. Das ações realizadas pelo Estado para melhorar a qualidade das águas subterrâneas podemos destacar: o Projeto Ambiental Estratégico (PAE) Aquíferos e o projeto “ Padrões de Ocupação Urbana e Contaminação por Nitrato nas Águas Subterrâneas do Sistema Aquífero Bauru, Centro-Oeste do Estado de São Paulo”. O PAE Aquíferos, desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, tem como objetivo promover a proteção dos aquíferos do Estado de São Paulo identificando as áreas críticas e sensíveis em termos de qualidade e quantidade. Como ações já realizadas, podemos citar: a implementação da rede de monitoramento integrada de qualidade e quantidade das águas subterrâneas, realizada em conjunto entre a CETESB e o DAEE; a proposição de norma para áreas de alta vulnerabilidade de aquíferos à poluição; a proposição do anteprojeto de lei específica da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) do Aquífero Guarani; a criação de um sistema integrado de gestão para a regionalização de diretrizes de utilização e proteção das águas subterrâneas nas bacias do leste do Estado; e difusão de informações sobre as águas subterrâneas do Estado, bem como a realização de capacitações de agentes técnicos envolvidos na gestão de recursos hídricos subterrâneos. Já o projeto “Padrões de Ocupação Urbana e Contaminação por Nitrato nas Águas Subterrâneas do Sistema Aquífero Bauru, Centro-Oeste do Estado de São Paulo”, desenvolvido pelo Instituto Geológico, tem como objetivo principal avaliar as tendências de incremento nas concentrações de nitrato nas águas subterrâneas, ao longo do tempo e espaço, frente aos padrões de ocupação urbana dos municípios da região de estudo. As atividades previstas compreendem o cadastro das fontes potenciais de contaminação (fossas sépticas e negras, fugas das redes de esgoto), dos poços tubulares e/ou cacimbas, coleta de amostras de água subterrânea para análises físico–químicas, químicas e isótopos estáveis, elaboração de mapas de uso e ocupação do solo e estimativas das cargas potenciais de nitrato. Acredita-se que os resultados deste estudo possam definir relações entre as densidades de ocupação e saneamento e as concentrações de nitrato, bem como estabelecer critérios e recomendações que permitam nortear os poderes públicos na elaboração de programas de proteção dos aquíferos no Estado de São Paulo. 3.1.2 águas superficiais e litorâneas A poluição das águas superficiais no Estado de São Paulo se deve a diversas fontes, dentre as quais se destacam os efluentes domésticos, os efluentes industriais e os deflúvios superficiais, urbano e rural, guardando uma relação direta com o uso e a ocupação do solo. Além disso, o desenvolvimento alavanca um crescimento populacional que pode requerer alocações de água incompatíveis com as disponibilidades locais, trazendo a necessidade de transferências de água entre UGRHI vizinhas (SÃO PAULO, 2005). 71
- 91. A avaliação da situação dos recursos hídricos é apresentada por meio de uma série de indicadores, que dizem respeito tanto à qualidade da água quanto à disponibilidade hídrica e sua respectiva demanda. No Estado de São Paulo, a CETESB é responsável pelo acompanhamento da qualidade dos rios e reservatórios, por meio das análises de variáveis físicas, químicas e biológicas tanto da água quanto do sedimento. O intenso uso da água e a conseqüente poluição gerada contribuem para agravar sua escassez e provocam, como consequência, a necessidade crescente do acompanhamento das alterações de sua qualidade. Assim, a informação sobre a qualidade da água é necessária para que se conheça a situação dos corpos hídricos com relação aos impac- tos antrópicos na bacia hidrográfica, sendo essencial para que se planeje sua ocupação e para que seja exercido o devido controle sobre os impactos (BRAGA et al, 2006). No Estado de São Paulo, a CETESB opera desde 1974 a rede de monitoramento de águas superficiais, com o objetivo de avaliar a evolução da qualidade das águas superficiais do Estado, subsidiando, desta forma, as toma- das de decisão relativas ao tema. Em 2010, a CETESB publicou o “ Relatório de Qualidade das Águas Superficiais no Estado de São Paulo 2009”. Nessa publicação são apresentados diversos índices que proporcionam uma visão geral da qualidade da água do Estado de São Paulo. Os principais indicadores utilizados e que serão apresentados aqui são: • Índice de Qualidade de Água (IQA); • Índice de Qualidade de Água para fins de Abastecimento Público (IAP); • Índice de Estado Trófico (IET); • Índice de Qualidade de Água para proteção da Vida Aquática (IVA) e; • Índice de Balneabilidade (IB). A Tabela 3.3 apresenta as variáveis analisadas em cada um dos índices considerados. tabela 3. 3 variáveis Medidas nos índices de Qualidade de áGua índice variáveis de qualidade Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio iQa Total, Fósforo Total, Resíduos Totais e Turbidez. Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Resíduos Totais e Turbidez, Ferro Dissolvido, Manganês, Alumínio Dissolvido, Cobre Dissolvido, iaP Zinco, Potencial de Formação de Trihalometanos, Número de Células de Cianobactérias (Ambiente Lêntico), Cádmio, Chumbo, Cromo Total, Mercúrio e Níquel. iet Clorofila a e Fósforo Total. Oxigênio Dissolvido, pH, Toxicidade, Cobre, Zinco, Chumbo, Cromo, Mercúrio, Níquel, Cádmio, Surfactantes, Fenóis, iva Clorofila a e Fósforo Total. ib Coliforme Termotolerante ou E. coli. Fonte: CETESB (2010b) índice de Qualidade de água (iQa) Para o cálculo do IQA são consideradas variáveis de qualidade que indicam o lançamento de efluentes sanitários nos corpos d’água, fornecendo uma visão geral sobre as condições de qualidade das águas superficiais. O índice é calculado através de uma fórmula matemática, podendo variar de zero a 100 e, em função do valor obtido, o IQA pode ser classificado em cinco classes de qualidade da água, como pode ser visto na Tabela 3.4. 72
- 92. tabela 3. 4 classes do iQa intervalo Qualidade das águas iQa ≤ 19 Péssima 19 < iQa ≤ 36 ruim 36 < iQa ≤ 51 regular 51 < iQa ≤ 79 boa 79 < iQa ≤ 100 ótima Fonte: CETESB (2010b) Em 2009, foi possível o cálculo do IQA para todos os 338 pontos da rede básica da CETESB. A Figura 3.3 apresenta o a distribuição percentual anual dos pontos de amostragem enquadrados nas classes do IQA para o Estado de São Paulo no período de 2004 a 2009. Vale frisar que para este gráfico foi considerado o conjunto de pontos onde foi possível o cálculo do IQA para todos os anos (2004 a 2009), totalizando-se, assim, 181 pontos. FiGura 3. 3 distribuição Percentual do iQa no estado de são Paulo de 2004 a 2009 Péssima Ruim Regular Boa Ó ma 100% 9 9 10 9 13 10 90% 80% 70% 54 56 53 53 60% 59 52 50% 40% 30% 18 21 16 14 18 20 20% 10 13 12 14 12 10% 13 6 5 6 6 6 3 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: CETESB (2010b) A distribuição de qualidade do IQA apresentou uma pequena variação ao longo dos cinco anos analisados, mas com predomínio desse índice na categoria Boa. A Tabela 3.5 apresenta a distribuição percentual do IQA por UGRHI em 2009. Considerando a média anual do IQA, 54% dos corpos d’água do Estado de São Paulo foram enquadrados na categoria Boa em 2009. Enquan- to 15% dos pontos monitorados foram classificados nas categorias Ruim e Péssima. 73
- 93. tabela 3. 5 distribuição Percentual do iQa Por uGrHi eM 2009 número de % de pontos em cada faixa de qualidade uGrHi pontos de amostragem Péssima ruim regular boa ótima 01 – Mantiqueira 2 100 02 – Paraíba do sul 19 16 63 21 03 – litoral norte 30 17 73 10 04 – Pardo 4 100 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 80 4 21 44 31 06 – alto tietê 48 13 31 13 38 6 07– baixada santista 15 13 87 08 – sapucaí/Grande 13 15 77 8 09 – Mogi-Guaçu 39 5 33 62 10 – sorocaba/Médio tietê 21 14 33 43 10 11 – ribeira de iguape/litoral sul 10 20 80 12 – baixo Pardo/Grande 2 100 13 – tietê/Jacaré 7 14 86 14 – alto Paranapanema 8 88 12 15 – turvo/Grande 10 30 30 40 16 – tietê/batalha 4 75 25 17 – Médio Paranapanema 3 100 18 – são José dos dourados 1 100 19 – baixo tietê 8 50 50 20 – aguapeí 6 100 21 – Peixe 3 34 33 33 22 – Pontal do Paranapanema 5 20 20 60 estado de são Paulo 338 3 12 24 54 7 Fonte: CETESB (2010b) Observa-se que as UGRHI 05 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí e 6 – Alto Tietê foram as únicas que apresenta- ram corpos d’água na categoria Péssima, com 4% e 13%, respectivamente. Além disso, apresentaram, juntamente com as UGRHI 09 (Mogi-Guaçu), 10 (Sorocaba/Médio Tietê), 15 (Turvo/Grande) e 22 (Pontal do Paranapa- nema), porcentagens na categoria Ruim. Ressalta-se que as UGRHI 05 e 06 são intensamente industrializadas e possuem elevada densidade populacional, a UGRHI 10 também tem grande atividade industrial, porém em menor escala se comparada ao PCJ e ao Alto Tietê. Já a UGRHI 09 se encontra em fase de industrialização, apresentando alguma atividade industrial importante, porém também conta com atividade agrícola expressiva, enquanto nas UGRHI 15 e 22 predomina a atividade agropecuária e uma baixa densidade populacional. Por outro lado, em 2009, as UGRHI 01 (Mantiqueira), 04 (Pardo), 12 (Baixo Pardo/Grande), 14 (Alto Pa- ranapanema), 16 (Tietê/Batalha), 17 (Médio Paranapanema), 18 (São José dos Dourados), 19 (Baixo Tietê) e 20 (Aguapeí) apresentaram 100% dos pontos monitorados na categoria Boa. Dessas, as UGRHI 01 e 14 têm vocação para conservação, as UGRHI 04 e 12 são consideradas em industrialização e as demais, agropecuárias. A Figura 3.4 apresenta a distribuição dos pontos de monitoramento do Estado, enquadrados nas classes do IQA, em 2009. 74
- 94. FiGura 3. 4 distribuição dos Pontos de MonitoraMento enQuadrados nas classes do iQa no estado de são Paulo eM 2009 Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) 75
- 95. índice de Qualidade de água para fins de abastecimento Público (iaP) O IAP avalia, além das variáveis consideradas no IQA, as substâncias tóxicas e as variáveis que afetam a quali- dade organoléptica5 da água, advindas, principalmente, de fontes difusas. O índice é calculado através de uma fórmula matemática, podendo variar de zero a 100 e, em função do valor obtido, o IAP pode ser classificado em cinco classes de qualidade da água, como pode ser visto na Tabela 3.6. tabela 3. 6 classes do iaP intervalo Qualidade das águas iaP ≤ 19 Péssima 19 < iaP ≤ 36 ruim 36 < iaP ≤ 51 regular 51 < iaP ≤ 79 boa 79 < iaP ≤ 100 ótima Fonte: CETESB (2010b) Ressalta-se que o IAP é calculado somente em quatro meses (dos seis em que os mananciais são monitorados), devido à análise do potencial de formação de trihalometanos, uma das variáveis do indicador, ser realizada com essa freqüência. Além disso, vale também destacar que o IAP é calculado apenas nos pontos onde existem cap- tações de água para abastecimento público. Em 2009, a CETESB calculou o IAP para 65 pontos de monitora- mento da rede básica. A Figura 3.5 apresenta a distribuição percentual anual dos pontos de amostragem enquadrados nas classes do IAP para o Estado de São Paulo no período de 2004 a 2009. Neste gráfico foram considerados apenas os 32 pontos de captação em que foi possível o cálculo do índice para todos os anos avaliados (2004 a 2009). FiGura 3. 5 distribuição Percentual do iaP no estado de são Paulo de 2004 a 2009 Péssima Ruim Regular Boa Ó ma 100% 3 3 3 6 3 90% 31 25 80% 41 41 47 41 70% 60% 38 50% 41 40% 31 16 38 34 30% 20% 25 28 19 19 10% 13 13 9 6 6 9 6 6 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: CETESB (2010b) 5 Características organolépticas são as variáveis que afetam o odor, o sabor e a cor das águas. 76
- 96. Observa-se que em 2007 e 2009, a categoria Ruim representa 25% e 28% dos pontos monitorados respectiva- mente, correspondendo as maiores porcentagens dessa categoria no período. Verificou-se, ainda, que em 2009, houve uma queda considerável do percentual de pontos enquadrados na categoria Boa, com apenas 25% dos pontos neste ano. Vale destacar que o IAP é fortemente influenciado pelo potencial de formação de Trihalometanos. Essa variável está associada à carga difusa, principalmente a parcela associada ao arraste de material vegetal. Essas substâncias húmicas são responsáveis pela formação de compostos organoclorados leves (como por exemplo, clorofórmio) durante o processo de cloração da água, os chamados Trihalometanos. Portanto, para a avaliação do IAP do manancial em relação à quantidade de precursores de Trihalometanos, deve-se considerar o potencial de forma- ção desses compostos. Em 2009, o índice pluviométrico do Estado de São Paulo foi elevado, colaborando para a elevação da média anual do potencial de formação de Trihalometanos, contribuindo, desta forma, para a piora na média anual do IAP no mesmo ano. A Tabela 3.7 apresenta a distribuição percentual do IAP por UGRHI em 2009. Considerando a média anual do IAP, verificamos que 34% dos pontos de amostragem do Estado foram classificados na categoria Ruim e 9% na Péssima. A classe Regular representou 31% dos pontos. Observa-se que a UGRHI 03 – Litoral Norte se destaca por apresentar todos os seus pontos de amostragem nas classes Ótima e Boa, respectivamente, 25% e 75%. Destaca-se ainda a UGRHI 02 – Paraíba do Sul, com 75% dos pontos de amostragem nas classes Ótima e Boa. Por outro lado, as UGRHI com os maiores números de pontos de amostragem, UGRHI 05 (PCJ) e 06 (Alto Tie- tê), apresentaram, respectivamente 48% e 36% dos pontos de amostragem nas classes Ruim e Péssima. Destaca-se também que a UGRHI 10 – Sorocaba/MédioTietê não registrou nenhum ponto nas classes Ótima e Boa. Vale ressaltar ainda, que das UGRHI monitoradas, quatro apresentam apenas um ponto de amostragem, a 09 – Mogi-Guaçu (Regular), a 13 – Tietê/Jacaré (Ruim), a 15 – Turvo/Grande (Boa), e a 16 – Tietê/Batalha (Regular). tabela 3. 7 distribuição Percentual do iaP Por uGrHi eM 2009 número de % de pontos em cada faixa de qualidade uGrHi pontos de amostragem Péssima ruim regular boa ótima 02 – Paraíba do sul 8 25 37 37 03 – litoral norte 4 75 25 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 21 9 38 48 5 06 – alto tietê 11 9 27 36 27 07– baixada santista 3 67 33 09 – Mogi-Guaçu 1 100 10 – sorocaba/Médio tietê 5 20 60 20 13 – tietê/Jacaré 1 100 15 – turvo/Grande 1 100 16 – tietê/batalha 1 100 17 – Médio Paranapanema 2 50 50 19 – baixo tietê 3 33 33 33 20 – aguapeí 2 50 50 21 – Peixe 2 50 50 estado de são Paulo 65 9 34 31 20 6 Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) 77
- 97. De acordo com a CETESB (2010b), a maior parte dos pontos de amostragem do IAP não apresenta tendência de melhora ou piora, sendo que dos 65 pontos de captação monitorados, um ponto localizado na UGRHI 02 apresentou tendência de melhora, devido ao aumento do volume operacional do Reservatório de Santa Branca e regime das vazões do Rio Paraíba do Sul efetuada de forma programada e mais criteriosa, que aumentaram a capacidade de diluição dos lançamentos, e, outro ponto localizado na mesma UGRHI, apresentou tendência de piora, devido principalmente ao aumento populacional dos municípios de Taubaté e Tremembé, sem tratamento dos esgotos sanitários, visto que, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Areão/SABESP que trata 100% dos esgotos coletados dos dois municípios somente entrou em operação em março de 2010. A Figura 3.6 apresenta a distribuição dos pontos de monitoramento do Estado, enquadrados nas classes do IAP, em 2009. 78
- 98. FiGura 3. 6 distribuição dos Pontos de MonitoraMento enQuadrados nas classes do iaP no estado de são Paulo eM 2009 Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) 79
- 99. índice de estado trófico (iet) O Índice de Estado Trófico classifica os corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas. Para o cálculo do IET, são consideradas as variáveis Clorofila a e/ou Fósforo Total. Este índice é calculado para todos os pontos da rede básica. A Tabela 3.8 apresenta a distribuição das classes do IET. tabela 3. 8 classes do iet intervalo classe iet > 67,5 Hipereutrófico 63,5 < iet ≤ 67,5 supereutrófico 59,5 < iet ≤ 63,5 eutrófico 52,5 < iet ≤ 59,5 Mesotrófico 47,5 < iet ≤ 52,5 oligotrófico iet ≤ 47,5 ultraoligotrófico Fonte: CETESB (2010b) Em 2009, o IET foi calculado pela CETESB com os valores de Fósforo Total e Clorofila a em 73 pontos e somente com Fósforo Total em 269 pontos, totalizando, assim, 341 pontos de amostragem no Estado de São Paulo. A Figura 3.7 apresenta o a distribuição percentual anual dos pontos de amostragem enquadrados nas classes do IET para o Estado de São Paulo no período de 2004 a 2009. Ressalta-se que neste histórico foram considerados apenas os pontos enquadrados nas classes especial, 1, 2 e 3, que, segundo a legislação, dentre outras destinações prevê a proteção da vida aquática. Observa-se no gráfico uma tendência de aumento na eutrofização em 2009, sendo que neste ano, 44% dos pontos avaliados ficaram entre Eutróficos e Hipereutróficos. FiGura 3. 7 distribuição Percentual do iet no estado de são Paulo de 2004 a 2009 Hipereutrófico Supereutrófico Eutrófico Mesotrófico Oligotrófico Ultraoligotrófico 100% 3 9 7 5 8 6 90% 20 14 15 80% 25 24 34 70% 60% 35 42 46 50% 39 41 40% 33 18 30% 17 17 20% 14 15 15 9 17 10% 11 12 9 10 5 12 2 2 5 6 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: CETESB (2010b) 80
- 100. A Tabela 3.9 apresenta a distribuição percentual dos valores médios anuais do IET, por UGRHI no Estado de São Paulo, em 2009. Podemos verificar que a maioria dos corpos d’água apresentou condição média anual Mesotrófica. tabela 3. 9 distribuição Percentual do iet Por uGrHi eM 2009 número de % de pontos em cada classe uGrHi pontos de amostragem Hipereutrófico supereutrófico eutrófico Mesotrófico oligotrófico ultraoligotrófico 01 – Mantiqueira 2 100 02 – Paraíba do sul 19 32 26 42 03 – litoral norte 30 3 3 23 70 04 – Pardo 4 75 25 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 80 41 36 11 8 1 3 06 – alto tietê 49 33 14 12 33 6 2 07– baixada santista 15 13 7 60 13 7 08 – sapucaí/Grande 13 31 61 7 09 – Mogi-Guaçu 38 3 13 42 37 3 3 10 – sorocaba/Médio tietê 21 19 19 29 24 9 11 – ribeira de iguape/litoral sul 10 20 10 60 10 12 – baixo Pardo/Grande 2 50 50 13 – tietê/Jacaré 7 14 29 57 14 – alto Paranapanema 8 14 72 14 15 – turvo/Grande 13 8 15 23 46 8 16 – tietê/batalha 4 25 50 25 17 – Médio Paranapanema 3 33 33 33 18 – são José dos dourados 1 100 19 – baixo tietê 8 12 50 25 12 20 – aguapeí 6 17 33 50 21 – Peixe 3 33 67 22 – Pontal do Paranapanema 5 20 20 20 40 estado de são Paulo 341 17 16 16 32 14 5 Fonte: CETESB (2010b) De acordo com a CETESB (2010b), destaca-se uma diminuição no número de ambientes nas condições de baixa trofia (Ultraoligotrófica e Oligotrófica) e um aumento no número de pontos com condições de alta trofia (Eutrófico a Hipereutrófico). Essa alteração direciona-se a uma piora na qualidade em alguns dos corpos d’água monitorados, bem como à introdução de novos pontos na rede de monitoramento, que se enquadraram nas categorias indicadoras de pior qualidade. Apenas a UGRHI 01 – Mantiqueira apresentou, em relação a 2008, uma ligeira melhora no estado trófico, enquanto a UGRHI 04 – Pardo, 07 – Baixada Santista, 08 – Sapucaí/Grande, 09 – Mogi-Guaçu, 13 – Tietê/Jacaré, 20 – Aguapeí, 21 – Peixe e 22 – Pontal do Paranapanema apresentaram aumento no grau de trofia. Dentre essas, as do Mogi-Guaçu e Aguapeí destacaram-se devido a um aumento significativo de pontos classificados como eutrofizados. A Figura 3.8 apresenta a distribuição dos pontos de monitoramento do Estado, enquadrados nas classes do IET, em 2009. 81
- 101. 82 FiGura 3. 8 distribuição dos Pontos de MonitoraMento enQuadrados nas classes do iet no estado de são Paulo eM 2009 Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010)
- 102. índice de Qualidade de água para proteção da vida aquática (iva) O IVA avalia a qualidade da água para fins de proteção da vida aquática, incluindo as variáveis essenciais para os organismos aquáticos (oxigênio dissolvido, pH e toxidade), bem como as substâncias tóxicas e as variáveis do IET (clorofila a e fósforo total). Em função do valor obtido em seu cálculo, o IVA pode ser classificado em cinco classes de qualidade da água, como pode ser visto na Tabela 3.10. tabela 3. 10 classes do iva intervalo Qualidade das águas iva ≥ 6,8 Péssima 4,6 ≤ iva ≤ 6,7 ruim 3,4 ≤ iva ≤ 4,5 regular 2,6 ≤ iva ≤ 3,3 boa iva ≤ 2,5 ótima Fonte: CETESB (2010b) A Figura 3.9 apresenta a distribuição percentual anual dos pontos de amostragem enquadrados nas classes do IVA para o Estado de São Paulo no período de 2004 a 2009. Ressalta-se que em 2009, foram realizadas alte- rações na metodologia de cálculo do IVA, relativas aos níveis de Substâncias Tóxicas (ST), com o objetivo de se adequar aos padrões de qualidade de água da legislação brasileira (Resolução CONAMA nº 357/05). Por este motivo, os valores do IVA para os anos anteriores foram recalculados com base nas adequações metodológicas adotadas a partir de 2009. Para o gráfico abaixo, foram selecionados 145 pontos que possibilitaram calcular o índice para todo o período analisado (2004 a 2009). FiGura 3. 9 distribuição Percentual do iva no estado de são Paulo de 2004 a 2009 Péssima Ruim Regular Boa Ó ma 100% 4 3 5 4 7 11 90% 23 23 21 23 80% 21 26 70% 60% 39 42 39 37 35 50% 32 40% 30% 19 21 26 25 20% 26 22 10% 12 14 11 9 12 8 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: CETESB (2010b) 83
- 103. Ao longo do período, podemos observar que a soma das categorias Péssima e Ruim mantiveram-se entre 30 e 40%. Quanto às categorias Ótima e Boa, com exceção do ano de 2008, que somadas representam um valor de 37%, os demais anos apresentam 26 a 28% dos pontos classificados nessas duas categorias. Observa-se ainda, que a categoria Regular foi a que mais enquadrou os pontos de monitoramento ao longo do período, com valores ente 32 e 42%. A Tabela 3.11 apresenta a distribuição percentual da média anual do IVA nos 170 pontos de monitorados no Estado de São Paulo em 2009, agrupados por UGRHI. tabela 3. 11 distribuição Percentual do iva Por uGrHi eM 2009 número de % de pontos em cada faixa de qualidade uGrHi pontos de amostragem Péssima ruim regular boa ótima 01 – Mantiqueira 1 100 02 – Paraíba do sul 17 6 29 47 18 03 – litoral norte 7 14 14 43 29 04 – Pardo 4 75 25 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 24 29 42 17 8 4 06 – alto tietê 30 13 37 37 10 3 07– baixada santista 5 40 40 20 08 – sapucaí/Grande 3 33 33 33 09 – Mogi-Guaçu 6 33 50 17 10 – sorocaba/Médio tietê 16 25 38 25 13 11 – ribeira de iguape/litoral sul 8 38 13 38 13 12 – baixo Pardo/Grande 2 100 13 – tietê/Jacaré 6 50 50 14 – alto Paranapanema 7 29 14 43 14 15 – turvo/Grande 6 17 17 67 16 – tietê/batalha 4 50 25 25 17 – Médio Paranapanema 3 33 67 18 – são José dos dourados 1 100 19 – baixo tietê 7 57 29 14 20 – aguapeí 6 33 67 21 – Peixe 3 33 67 22 – Pontal do Paranapanema 4 25 25 50 estado de são Paulo 170 11 29 33 19 8 Fonte: CETESB (2010b) Podemos verificar que 29% e 11% dos pontos monitorados foram classificados nas categorias Ruim e Péssima, respectivamente. Enquanto as categorias Ótima e Boa representaram no período 27% dos pontos (8% e 19% respectivamente). Destaca-se ainda os cursos d’ água classificados como Regular, que representaram 33% dos pontos monitorados no Estado de São Paulo em 2009. 84
- 104. As UGRHI 04 (Pardo), 12 (Baixo Pardo/Grande) e 17 (Médio Paranapanema) apresentaram as melhores con- dições de qualidade de água para proteção da vida aquática, com 100% dos pontos de amostragem classificados nas categorias Ótima e Boa. Vale ressaltar que essas UGRHI apresentam pouco pontos de monitoramentos (4, 2 e 3 pontos, respectivamente). As UGRHI 05 (PCJ), 06 (Alto Tietê), 07 (Baixada Santista), 10 (Sorocaba/Médio Tietê) e 16 (Tietê/Batalha) se destacaram por apresentar mais de 50% de seus pontos monitorados classificados como Ruim e Péssimo, oferecendo as piores condições de qualidade de água para a proteção da vida aquática. A UGRHI 07 apresentou o maior percentual de pontos de amostragem enquadrados na categoria Ruim e Péssima, com 80%, seguida pelas UGRHI 05 e 10, que apresentaram, respectivamente, 71% e 63% dos pontos classificados nas categorias Ruim e Péssima. No entanto, vale ressaltar que na UGRHI 06 o IVA não é calculado para boa parte de seus cursos d’água, visto que os mesmos, segundo a legislação vigente, não precisam atender ao uso de proteção da vida aquática, como é o caso dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. Ainda, é importante frisar que essas bacias, por vocação, são definidas como industriais. A UGRHI 15 (Turvo/Grande) também merece atenção quanto à qualidade da água, visto que apresentou 67% dos pontos monitorados classificados como Regular e o restante como Ruim e Péssimo. A UGRHI 01 (Mantiqueira), apesar de contar apenas com um ponto de monitoramento e se tratar de uma área com vocação para conservação, apresentou baixa qualidade da água para a proteção da vida aquática. A Figura 3.10 apresenta a distribuição dos pontos de monitoramento do Estado, enquadrados nas classes do IVA, em 2009. 85
- 105. 86 FiGura 3. 10 distribuição dos Pontos de MonitoraMento enQuadrados nas classes do iva no estado de são Paulo eM 2009 Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010)
- 106. balneabilidade de praias Com relação à balneabilidade das praias do Estado de São Paulo, as mesmas podem ser classificadas em Pró- prias ou Impróprias, sendo que, as praias próprias ainda podem ser enquadradas como Excelente, Muito Boa ou Satisfatória. A classificação das praias é obtida a partir das análises de concentração de Escherichia coli e Coliformes Termoto- lerantes (para água doce) e Enterococos (para água salina), tendo como objetivo avaliar as condições da qualidade da água no que tange às atividades de recreação de contato primário, levando em consideração praias litorâneas e de reservatórios. A Tabela 3.12 indica, para os parâmetros analisados, os limites de concentração permitidos para cada categoria, de acordo com a Resolução CONAMA 274/00. tabela 3. 12 ParâMetros Para classiFicação anual das Praias litorâneas e de reservatórios coliformes termotolerantes categoria escherichia coli (uFc/100ml) enterococos (uFc/100ml) (uFc/100ml) Máximo de 250 em 80% ou Máximo de 200 em 80% ou Máximo de 25 em 80% ou mais excelente mais tempo mais tempo tempo Máximo de 500 em 80% ou Máximo de 400 em 80% ou Máximo de 50 em 80% ou mais Própria Muito boa mais tempo mais tempo tempo Máximo de 1.000 em 80% ou Máximo de 800 em 80% ou Máximo de 100 em 80% ou satisfatória mais tempo mais tempo mais tempo Superior a 1.000 em mais de Superior a 800 em mais de Superior a 1.000 em mais de 20% do tempo 20% do tempo 20% do tempo imprópria Maior que 2.500 na última Maior que 2.000 na última Maior que 400 na última medição medição medição Fonte: CETESB (2010c) Nota: UFC (Unidade Formadora de Colônia) contagem de unidades formadoras de colônia em placas obtidas pela técnica de membrana filtrante. Com base nos dados obtidos do monitoramento semanal e com o objetivo de apresentar a tendência da qualida- de das praias de modo mais global, a CETESB definiu critérios para uma qualificação anual das praias do Esta- do, que se constitui na síntese da distribuição das classificações obtidas pelas praias no período correspondente às 52 semanas do ano. De acordo com a CETESB (2010c), baseada em critérios estatísticos, a qualificação anual expressa não apenas a qualidade mais recente apresentada pelas praias, mas a qualidade que a praia apresenta com mais constância ao longo do ano. A Tabela 3.13 apresenta os critérios definidos para a qualificação anual, com base nos dados de monitoramento semanal. tabela 3. 13 critérios Para deterMinação da Qualidade anual das Praias coM aMostraGeM seManal balneabilidade das Praias critérios Péssima Praias classificadas como IMPRóPRIAS em mais de 50% do tempo ruim Praias classificadas como IMPRóPRIAS entre 25% e 50% do tempo regular Praias classificadas como IMPRÒPRIAS em até 25% do tempo boa Praias Próprias em 100% do tempo, exceto quando classificadas como EXCELENTES ótima Praias classificadas como EXCELENTES em 100% do tempo Fonte: CETESB (2010c) 87
- 107. De modo semelhante, para as praias litorâneas com amostragem mensal, foi estabelecida uma qualificação anual baseando-se na concentração de Enterococos obtida em cada amostragem. Os critérios para essas praias estão descritos na Tabela 3.14. tabela 3. 14 critérios Para deterMinação da Qualidade anual das Praias coM aMostraGeM Mensal balneabilidade das Praias critérios Péssima Concentração de Enterococos superior a 100 UFC/100 mL em mais de 50% do ano ruim Concentração de Enterococos superior a 100 UFC/100 mL em entre 30% e 50% do ano regular Concentração de Enterococos superior a 100 UFC/100 mL em entre 20% e 30% do ano boa Concentração de Enterococos superior a 100 UFC/100 mL em até 20% do ano ótima Concentração de Enterococos até 25 UFC/100 mL em pelo menos 80% do ano Fonte: CETESB (2010c) Praias litorâneas Segundo a CETESB (2010c), as praias a serem monitoradas e seus pontos de amostragem são definidas con- siderando diversos fatores que influem na sua balneabilidade. Esses pontos são selecionados em função da fre- quência de banhistas, da fisiografia da praia e dos riscos de poluição que possam existir. Deste modo, as praias que fazem parte da rede de monitoramento de balneabilidade, possuem frequência elevada de banhistas, além da ocorrência de adensamento urbano próximo, o que pode representar uma possível fonte de poluição fecal. Em 2009 foram monitorados 155 pontos ao longo do litoral paulista. A Tabela 3.15 apresenta as proporções de praias litorâneas próprias em 100% do ano (referente às categorias Ótima e Boa), no Estado de São Paulo, entre 2004 e 2009. tabela 3. 15 ProPorção de Praias litorâneas PróPrias eM 100% do ano no estado de são Paulo de 2004 a 2009 Proporção de praias próprias em 100% do ano uGrHi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 uGrHi 03 – litoral norte 48% 54% 52% 49% 40% 46% uGrHi 07 – baixada santista 8% 18% 1% 24% 0% 18% uGrHi 11 – ribeira de iguape/litoral sul 83% 100% 40% 80% 80% 60% estado de são Paulo 33% 40% 30% 38% 24% 34% Fonte: CETESB (2010c) Observa-se que em 2009 houve um aumento na proporção de praias litorâneas próprias em 100% do ano para o Estado, com 34%, com destaque para as praias da Baixada Santista, que passou de 0% de praias próprias em 2008 para 18% em 2009, com 31% das praias apresentando melhora em sua qualidade. Analisando as condições de balneabilidade das praias do litoral paulista em 2009, podemos verificar que 34% das praias permaneceram próprias o ano todo (classificações anuais Ótima e Boa), enquanto aquelas com situação mais crítica, classificadas como Ruim e Péssima, representaram 18% e 10%, respectivamente e, ainda, 38% das praias foram classificadas como Regular (Figura 3.11). 88
- 108. FiGura 3. 11 distribuição da balneabilidade das Praias litorâneas no estado de são Paulo eM 2009 6% 10% Péssima 28% 18% Ruim Regular Boa Ó ma 38% Fonte: CETESB (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) A Figura 3.12 apresenta a classificação anual das praias para o Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul. FiGura 3. 12 distribuição da balneabilidade das Praias litorâneas Por uGrHi eM 2009 Fonte: CETESB (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) 89
- 109. No Litoral Norte 11% das praias foram classificadas como Ótima e 36% como Boa. Dentre as que estiveram impróprias em alguma ocasião a maioria (35%) foi classificada como Regular. No Litoral Sul, 60% das praias apresentaram classificação anual Boa e 40% classificadas como Regular. A Figura 3.13 apresenta a classificação anual das praias por municípios. FiGura 3. 13 distribuição da balneabilidade das Praias litorâneas Por MunicíPio eM 2009 Péssima Ruim Regular Boa Ó ma 100% 8 20 15 20 90% 23 27 33 80% 46 50 70% 57 20 27 38 50 67 60% 38 89 90 50% 100 100 40% 64 39 41 67 30% 60 27 47 50 20% 43 42 33 10% 7 4 10 7 11 9 10 5 3 0% e o á a ba e ém e á de a a os a ão íb tã u el uj og ub nt p id tu ag nt ru ua an ab ba ha ar pr ce at s ta Sa gu Pe Gr Ig r Gu ba Cu Ilh om Vi n Ub Be ua Ita on Se ia o aC ag Sã M a o Pr r Ilh Sã Ca Fonte: CETESB (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) Notas: 1) ubatão, embora não possua praia litorânea, integra o Programa de Balneabilidade da CETESB com análise mensal de um ponto localizado C no Rio Perequê, onde há grande frequência de banhistas nos finais de semana e feriados prolongados, visitantes do Parque Ecológico do Perequê. 2) Litoral Sul é formado por três municípios; Iguape, Ilha Comprida e Cananéia, no entanto o município de Cananéia não possui praia com O face para o oceano. As 13 praias da região localizam-se principalmente nos canais que o separam de Ilha Comprida e de sua parte continental. De acordo com a CETESB (2010c), as principais pressões negativas sobre as condições de banho são: a) o crescimento populacional desordenado dos municípios litorâneos (acima da média do Estado), que fomenta a situação inadequada de infraestrutura de saneamento; b) ligações clandestinas de esgotos nas galerias pluviais, bem como ligações de águas pluviais na rede pública coletora de esgotos; c) loteamentos clandestinos e ocupação irregular às margens dos rios litorâneos, que muitas vezes se situam em Áreas de Proteção Permanente e, onde não é permitida a implantação de redes de esgoto; d) água de chuva contaminada pelos poluentes carreados da lavagem superficial do solo e de cursos d’água poluídos e da atmosfera (poluição difusa). Praias de água doce Em 2009, foram monitoradas 30 praias de água doce, localizadas nas UGRHI 02 (Paraíba do Sul), 05 (PCJ), 06 (Alto Tietê), 09 (Mogi-Guaçu), 10 (Sorocaba/Médio Tietê), 13 (Tietê/Jacaré) e 16 (Tietê/Batalha), locali- zadas principalmente nas regiões urbanizadas. As praias inseridas nos reservatórios urbanos (Billings e Guara- piranga) possuem monitoramento com frequência semanal de amostragem, pois são mais afetadas pelas fontes 90
- 110. de poluição. As demais praias possuem frequência mensal, pois apresentam, de um modo geral, condição boa para o banho, além de estarem mais afastadas das áreas urbanas (CETESB, 2010b). Os resultados do índice de balneabilidade das 30 praias, agrupados por UGRHI, encontram-se na Tabela 3.16. tabela 3. 16 balneabilidade das Praias de reservatórios Por uGrHi eM 2009 uGrHi reservatório/rio Praia/local de amostragem balneabilidade Braço do Rio Palmital Prainha de Redenção da Serra ótima 2 Ribeirão Grande À montante do bar do Edmundo Ruim Rio Piracuama Reino das Águas Claras Péssima Reservatório Cachoeira Praia da Tulipa ótima Praia no Condomínio Novo Horizonte ótima Reservatório Jacareí/Jaguari Praia da Serrinha ótima 5 Praia do Utinga ótima Rio Atibainha Praia do Lavapés ótima Rod. D. Pedro II ótima Praia do Sol (Marina Guarapiranga) Regular Bairro do Crispim Regular Marina Guaraci Regular Reservatório Guarapiranga Guarujapiranga (Restaurante Interlagos) Regular Praia do Hidroavião (Prainha do Jardim Represa) Ruim Praia do Aracati (Bairro Miami Paulista) Regular Prainha em frente à ETE Ruim 6 Clube Prainha Taiti Regular Reservatório Rio Grande Prainha do Parque Municipal Regular Próxima ao Zôo do Parque Municipal ótima Clube de Campo do Sind. dos Metalurg. do ABC ótima No Pier do Acampamento do Instituto de Engenharia Regular Reservatório Billings Próxima à entrada da ECOVIAS Regular Parque Imigrantes Regular Rio Mogi Guaçu Cachoeira de Emas Péssima 9 Lago Euclides Morelli Praia em frente à Rua Ver. Carlos Ranini, N° 336 Ruim Clube ACM de Sorocaba ótima 10 Reservatório Itupararanga Prainha do Piratuba ótima Rio Tietê Prainha de Igaraçu do Tietê ótima 13 Reservatório Promissão Praia Municipal de Arealva ótima 16 Córrego do Esgotão Em frente à Praia do Munic. de Sabino Ruim Fonte: CETESB (2010b) Mortandade de peixes A ocorrência de episódios de mortandade de peixes indica um elevado estresse no corpo hídrico, e, de forma geral, estão associados às alterações da qualidade da água e, apesar de nem sempre ser possível identificar suas causas, o seu registro consiste num bom indicador da suscetibilidade do corpo hídrico em relação às fontes de poluição existentes na bacia. 91
- 111. Em 2009, no Estado de São Paulo, foram registradas 124 reclamações, feitas pela população, de ocorrências de mortandade de peixes e/ou outros organismos aquáticos. A evolução no número de registros de reclamações de ocorrências de mortandades de peixes no período de 2005 a 2009 pode ser visto na Figura 3.14. Podemos verificar que, embora houve um aumento no número de reclama- ções desde 2007, o número de registros, em 2009, foi 60% inferior ao número de registros de 2006. FiGura 3. 14 núMero de reGistros de reclaMações de Mortandade de Peixes no estado de são Paulo de 2005 a 2009 250 203 Número de registros de reclamações 200 150 154 121 124 100 111 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) A Tabela 3.17 apresenta o número de reclamações de casos de mortandade de peixes recebidas pelas Agências Ambientais da CETESB, por UGRHI, em 2009. Vale frisar que algumas ocorrências geram mais de um registro de reclamação, portanto, o número apresentado não corresponde exatamente ao de ocorrências de mortandades de peixes. 92
- 112. tabela 3. 17 núMero de reGistros de reclaMações de Mortandade de Peixes Por uGrHi eM 2009 uGrHi vocação registros 01 – Mantiqueira Conservação 1 02 – Paraíba do sul Industrial 9 03 – litoral norte Conservação 2 04 – Pardo Em industrialização 3 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí Industrial 30 06 – alto tietê Industrial 8 07– baixada santista Industrial 2 08 – sapucaí/Grande Em industrialização 1 09 – Mogi-Guaçu Em industrialização 7 10 – sorocaba/Médio tietê Industrial 18 11 – ribeira de iguape/litoral sul Conservação 1 12 – baixo Pardo/Grande Em industrialização 1 13 – tietê/Jacaré Em industrialização 8 14 – alto Paranapanema Conservação 2 15 – turvo/Grande Agropecuária 9 16 – tietê/batalha Agropecuária 6 17 – Médio Paranapanema Agropecuária 3 18 – são José dos dourados Agropecuária 3 19 – baixo tietê Agropecuária 8 20 – aguapeí Agropecuária 1 21 – Peixe Agropecuária 0 22 – Pontal do Paranapanema Agropecuária 1 estado de são Paulo - 124 Fonte: CETESB (2010b) As bacias do Piracicaba/Capivari/Jundiaí (UGRHI 05) e do Sorocaba/Médio Tietê (UGRHI 10), ambas de vocação industrial, tiveram novamente o maior número de reclamações em 2009, mantendo a tendência apresen- tada desde 2005. Essas bacias foram responsáveis, respectivamente, por 24% e 14% dos registros de reclamações de ocorrências de mortandades de peixes feitas ao longo do ano. Ainda, apesar do número total de registros ter variado pouco em relação a 2008, a parcela devida a essas duas ba- cias aumentou, sendo que as ocorrências em ambas representaram, em 2009, quase 40% de todas as reclamações de mortandades de peixes registradas no Estado de São Paulo (Figura 3.15). As UGRHI 02 (Paraíba do Sul) e 15 (Turvo/Grande) vêm logo a seguir, cada uma responsável por 7% dos registros de reclamações, seguidas pelas UGRHI 06 (Alto Tietê) e 19 (Baixo Tietê), cada uma concentrando aproximadamente 6% dos registros. Podemos constatar também que as bacias industriais concentraram mais da metade (54%) do número total de reclamações de mortandades de peixes recebidas pelas Agências Ambientais da CETESB durante 2009 (Figura 3.15) e, ainda, que as UGRHI com vocação agropecuária apresentaram um número de registros (30) maior do que o das UGRHI em industrialização (20), assim como ocorreu em 2008. 93
- 113. FiGura 3. 15 distribuição do núMero de reGistros de reclaMações de Mortandade de Peixes Por vocação das uGrHi eM 2009 5% 54% 25% Industrial Em industrialização Agropecuária Conservação 16% Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) As mortandades atendidas durante 2009 foram, assim como em 2008 e 2006, decorrentes principalmente da presença de contaminantes na água. As ocorrências desse tipo superaram os eventos resultantes da depleção de oxigênio dissolvido e de florações de algas e cianobactérias potencialmente tóxicas. O menor número de registros, em 2009, ocorreu em fevereiro, enquanto que novembro manteve-se como o de maior número de reclamações registradas, sendo que ambos fazem parte do período chuvoso. A entrada de con- taminantes nos corpos d’água pode ter acontecido devido ao arraste causado pela água precipitada que escorre nas adjacências, até atingir o ambiente aquático. Dessa maneira, a matéria orgânica e/ou contaminantes deposi- tados nos solos são carreados, podendo causar contaminação de córregos, rios e/ou reservatórios. No período chuvoso foram registradas 52% das reclamações de mortandades no Estado, contra 48% no período de estiagem. 3.1.3 uso da água Com o objetivo de apresentar as principais características do uso da água no Estado, são apresentados a seguir os dados de disponibilidade e demanda hídrica por UGRHI e para o Estado de São Paulo. A disponibilidade hídrica superficial é calculada com base na variável Q 7,10 , ou seja, a vazão mínima de sete dias consecutivos, com período de retorno de 10 anos e, a disponibilidade hídrica subterrânea, é calculada pela reserva de águas explotá- veis que são armazenadas nos poros e fissuras das rochas pelas quais se movem lentamente. Quanto à demanda de água, os valores são apresentados quanto a sua origem (superficial ou subterrânea) e quan- to seu uso (urbano, industrial, rural e outros). Os valores expressos são levantados através do volume de água outorgado junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). Vale ressaltar ainda que os dados referentes aos anos de 2007 e 2008, obtidos junto ao banco de dados de outorga do DAEE, foram submetidos a uma nova metodologia de análise, o que justifica valores diferenciados entre os apresentados no Relatório de Qualidade Ambiental 2010. 94
- 114. A Tabela 3.18 apresenta a disponibilidade hídrica por UGRHI do Estado de São Paulo. tabela 3. 18 disPonibilidade Hídrica Por uGrHi disponibilidade hídrica (m³/s) uGrHi vazão mínima reservas explotáveis disponibilidade total superficial (Q7,10) de água subterrânea 01 – Mantiqueira 7 3 10 02 – Paraíba do sul 72 21 93 03 – litoral norte 27 12 39 04 – Pardo 30 14 44 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 43 22 65 06 – alto tietê 20 11 31 07– baixada santista 38 20 58 08 – sapucaí/Grande 28 18 46 09 – Mogi-Guaçu 48 24 72 10 – sorocaba/Médio tietê 22 17 39 11 – ribeira de iguape/litoral sul 162 67 229 12 – baixo Pardo/Grande 21 10 31 13 – tietê/Jacaré 40 10 50 14 – alto Paranapanema 84 30 114 15 – turvo/Grande 26 13 39 16 – tietê/batalha 31 9 40 17 – Médio Paranapanema 65 17 82 18 – são José dos dourados 12 4 16 19 – baixo tietê 27 9 36 20 – aguapeí 28 13 41 21 – Peixe 29 9 38 22 – Pontal do Paranapanema 34 13 47 estado de são Paulo 893 366 1259 Fonte: SMA/CRHi (2010) 95
- 115. A Tabela 3.19 apresenta a demanda de água por origem e tipos de usos para o ano de 2008. tabela 3. 19 deManda de áGua Por uGrHi eM 2008 demanda de água (m³/s) uGrHi origem tipo de uso total superficial subterrânea urbano industrial rural outros 01 – Mantiqueira 0,67 0,00 0,01 0,00 0,65 0,02 0,68 02 – Paraíba do sul 11,08 2,94 5,14 3,08 5,72 0,07 14,02 03 – litoral norte 1,22 0,18 0,81 0,01 0,50 0,08 1,40 04 – Pardo 8,79 4,74 4,45 4,25 4,77 0,07 13,53 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 71,88 9,22 55,92 14,31 1,83 9,05 81,10 06 – alto tietê 50,80 3,83 20,21 23,41 0,78 10,23 54,63 07– baixada santista 18,17 0,04 10,33 7,84 0,02 0,02 18,21 08 – sapucaí/Grande 4,36 0,74 0,79 0,66 3,50 0,15 5,10 09 – Mogi-Guaçu 16,57 2,29 2,76 7,30 8,72 0,08 18,86 10 – sorocaba/Médio tietê 11,29 1,09 4,82 4,15 3,33 0,07 12,39 11 – ribeira de iguape/litoral sul 3,06 0,07 0,15 2,17 0,81 0,00 3,13 12 – baixo Pardo/Grande 11,05 1,28 1,57 1,91 8,68 0,17 12,32 13 – tietê/Jacaré 19,57 4,66 3,21 6,73 14,20 0,09 24,23 14 – alto Paranapanema 9,83 0,13 0,30 2,99 6,62 0,05 9,96 15 – turvo/Grande 12,64 4,08 3,40 4,73 8,55 0,04 16,72 16 – tietê/batalha 6,92 1,55 0,88 1,03 6,56 0,00 8,47 17 – Médio Paranapanema 7,54 0,48 0,31 2,51 5,19 0,01 8,02 18 – são José dos dourados 4,95 0,21 0,11 0,45 4,60 0,00 5,16 19 – baixo tietê 3,61 0,70 0,66 2,61 1,02 0,00 4,30 20 – aguapeí 2,31 1,09 0,53 1,42 1,41 0,04 3,40 21 – Peixe 1,63 0,55 0,57 1,08 0,53 0,00 2,18 22 – Pontal do Paranapanema 0,64 0,73 0,70 0,54 0,13 0,00 1,37 estado de são Paulo 278,59 40,59 118,78 92,03 88,12 20,25 319,18 Fonte: SMA/CRHi (2010) 96
- 116. Observa-se que a demanda urbana predomina nas UGRHI 03 (Litoral Norte), 05 (PCJ), 07 (Baixada Santista), 10 (Sorocaba/Médio Tietê) e 22 (Pontal do Paranapanema). Enquanto a demanda industrial se destacou nas UGRHI 06 (Alto Tietê), 11 (Ribeira de Iguape/Litoral Sul) e 19 (Baixo Tietê). Vale ressaltar que na UGRHI 06 também se destaca o uso urbano com valores muito próximos ao uso industrial, enquanto a demanda urbana foi de 20 m³/s, a demanda industrial foi de 23 m³/s. Nas demais UGRHI predomina o uso rural. Ainda vale ressaltar que a UGRHI 02 (Paraíba do Sul) apresenta valores de demanda rural muito próximo a demanda urbana, algo em torno de 5 m³/s. A Figura 3.16 apresenta a distribuição da demanda de água por tipo de uso para as UGRHI do Estado, em 2008. FiGura 3. 16 distribuição da deManda de áGua Quanto ao uso Por uGrHi eM 2008 Fonte: SMA/CRHi (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Constatamos também, no Estado, a maior demanda para o uso urbano da água (37%). Em seguida se destaca o uso industrial (29%) e o rural (28%), como pode ser visto na Figura 3.17. Quanto à origem da água, podemos observar que o Estado de São Paulo apresenta maior demanda de água superficial, com 279 m³/s, o que corres- ponde a 87% da demanda total em 2008. 97
- 117. FiGura 3. 17 distribuição da deManda de áGua do estado de são Paulo Quanto ao uso eM 2008 6% 37% Urbano 28% Industrial Rural Outros 29% Fonte: SMA/CRHi (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) A Tabela 3.21 traz o balanço hídrico das UGRHI do Estado, apresentando a relação entre a demanda e dis- ponibilidade hídrica das bacias e classificando-as quanto a sua criticidade, conforme os critérios expostos na Tabela 3.20. tabela 3. 20 valores de reFerência Para balanço Hídrico balanço Hídrico estado Maior que 50% crítico entre 31 e 50% atenção até 30% bom Fonte: SMA/CRHi (2010) 98
- 118. tabela 3. 21 balanço Hídrico Por uGrHi eM 2007 e 2008 demanda/ disponibilidade demanda total (m³/s) uGrHi disponibilidade (%) hídrica total (m³/s) 2007 2008 2007 2008 01 – Mantiqueira 10 0,68 0,68 6,77 6,77 02 – Paraíba do sul 93 12,79 14,02 13,75 15,07 03 – litoral norte 39 0,68 1,40 1,74 3,59 04 – Pardo 44 10,56 13,53 23,99 30,75 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 65 78,94 81,10 121,44 124,77 06 – alto tietê 31 49,10 54,63 158,37 176,23 07– baixada santista 58 18,17 18,21 31,33 31,40 08 – sapucaí/Grande 46 4,80 5,10 10,43 11,10 09 – Mogi-Guaçu 72 18,87 18,86 26,21 26,20 10 – sorocaba/Médio tietê 39 10,47 12,39 26,84 31,76 11 – ribeira de iguape/litoral sul 229 1,95 3,13 0,85 1,37 12 – baixo Pardo/Grande 31 11,52 12,32 37,16 39,76 13 – tietê/Jacaré 50 16,19 24,23 32,38 48,46 14 – alto Paranapanema 114 6,78 9,96 5,94 8,74 15 – turvo/Grande 39 14,89 16,72 38,18 42,86 16 – tietê/batalha 40 7,97 8,47 19,93 21,17 17 – Médio Paranapanema 82 6,26 8,02 7,63 9,77 18 – são José dos dourados 16 4,99 5,16 31,20 32,23 19 – baixo tietê 36 3,12 4,30 8,66 11,95 20 – aguapeí 41 3,35 3,40 8,16 8,30 21 – Peixe 38 1,61 2,18 4,24 5,74 22 – Pontal do Paranapanema 47 0,83 1,37 1,77 2,91 estado de são Paulo 1259 284,50 319,18 22,60 25,35 Fonte: SMA/CRHi (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Podemos observar que a UGRHI 05 (PCJ) e 06 (Alto Tietê) se destacam como as mais críticas quanto à relação demanda e disponibilidade hídrica. Verifica-se, ainda, um aumento na demanda de água dessas UGRHI de 2007 para 2008. Na UGRHI 05 essa criticidade ocorre principalmente devido à superexploração das águas superficiais. Esta situação decorre das altas taxas de urbanização e industrialização da região e da transposição de águas para a UGRHI 06, através do Sistema Cantareira. Podemos verificar que quase 70% da demanda de água da UGRHI 05 é destinada para o uso urbano. Com relação à UGRHI 06, podemos constatar que a mesma tem o maior nível de criticidade do Estado, visto que sua disponibilidade hídrica total é de 31 m³/s, enquanto sua demanda, em 2008, foi de aproximadamente 55 m³/s. Como já visto, para suprir esta demanda, ocorre a transposição de águas da UGRHI 05 para o Sistema Cantareira, que , por sua vez, abastece a bacia do Alto Tietê. Os principais usos da água na bacia são para abas- tecimento industrial e urbano. Já quanto ao balanço hídrico da UGRHI 04 (Pardo) 10 (Sorocaba/Médio Tietê), observamos que em 2007, a relação entre demanda e disponibilidade hídrica foi considerada boa, no entanto, em 2008 essa relação entrou em estado de atenção. Verificou-se nessas UGRHI um grande aumento na demanda de água, principalmente para o uso industrial. 99
- 119. Para as UGRHI 12 (Baixo Pardo/Grande) e 13 (Tietê/Jacaré), tanto em 2007 como em 2008, o balanço hídrico permaneceu em níveis de atenção. Destaca-se que na UGRHI 13 houve um elevado aumento da demanda total em relação a 2008, com destaque para o uso rural, que em 2007 era de 7 m³/s e em 2008 foi para 14 m³/s. A demanda total dessa UGRHI aumentou de 16 m³/s em 2007 para 24 m³/s em 2008. Outras UGRHI que merecem destaque por estarem em níveis de atenção são as UGRHI 07 (Baixada Santista), 15 (Turvo/Grande) e 18 (São José dos Dourados), que em 2008 também apresentaram aumento nos valores de demanda total. Destaca-se na Baixada Santista a alta demanda por águas superficiais, principalmente na alta temporada, quando o abastecimento de água é insuficiente. Já o balanço hídrico das demais UGRHI do Estado são considerados bons. Entretanto deve-se atentar ao au- mento da demanda de água da UGRHI 02 (Paraíba do Sul), principalmente em função da demanda urbana, na UGRHI 14 (Alto Paranapanema), com um aumento considerável na demanda total que passou de 7 m³/s em 2007 para 10 m³/s em 2008, com aumento principalmente nos usos industriais e rurais. É importante ainda res- saltar que se deve atentar para o consumo de água para uso urbano durante o verão, principalmente nas UGRHI litorâneas, devido à grande presença de turistas. referências BRAGA, B.; PORTO, M.; TUCCI, C.E.M. Monitoramento de quantidade e qualidade das águas. In: Rebouças, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. Águas doces no Brasil: Capital ecológico, uso e conservação. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo: 2007 - 2009. 2010a. São Paulo: CETESB, 2010. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Relatório de Qualidade das Águas Superficiais no Estado de São Paulo 2009. 2010b. São Paulo: CETESB, 2010. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Relatório de Qualidade das Praias Litorâneas no Estado de São Paulo 2009. 2010c. São Paulo: CETESB, 2010. DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE, INSTITUTO GEOLÓGICO – IG, INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS – IPT, SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM. Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo. CD-ROM. 2007. IRITANI, M. A; EZAKI, S. As águas subterrâneas do Estado de São Paulo. São Paulo: Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA, 2008. REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. Águas doces no Brasil: Capital ecológico, uso e conservação. 3. ed. São Paulo: Es- crituras, 2006. SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento. DAEE. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004-2007. São Paulo, 2005. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – SMA/SP. Coordenadoria de Recursos Hídricos. Da- dos fornecidos. São Paulo: SMA/CRHi, 2010. 100
- 121. FiGura 3. 18 áreas de Proteção aMbiental MarinHas do estado de são Paulo Fonte SMA/CPLA (2010) 3.2.1 Pesca continental A pesca profissional continental é realizada principalmente nas bacias dos rios Grande, Paraná e Paranapanema. Alguns pontos críticos para a realização desta atividade podem ser destacados: leis e portarias pouco claras; carência de políticas públicas de incentivo à implantação de entrepostos pesqueiros com infraestrutura mínima para limpeza, processamento e comercialização; falta de organização associativa e apoio insuficiente das colônias de pescadores às comunidades de pescadores artesanais profissionais; ausência de cadastramento do número de pescadores artesanais profissionais efetivos junto às colônias de pescadores; baixo aproveitamento dos resíduos produzidos no processamento do pescado; e falta de uma política para resolução de conflitos entre pesca profis- sional e amadora. As espécies mais capturadas segundo o Levantamento da Pesca Profissional Continental no Estado de São Paulo em 2008 (VERMULM JR et al., 2010) foram o Curimbatá e a Traíra no rio Paranapanema; o Acará e a Piapara no rio Paraná; e, o Mandi e a Corvina no rio Grande. No total foram capturadas cerca de 380 toneladas de pescado dos quais cerca de 70% provêm do rio Paraná. A Figura 3.19 que se segue ilustra a evolução do pescado capturado nos três rios ao longo dos anos. Apesar do pico observado no início da década, nota-se a tendência de queda na captura do pescado ao longo da série histó- rica. Isto se deve aos pontos críticos mencionados anteriormente e que, de forma geral, dizem respeito à gestão da atividade pesqueira continental. Uma melhor eficiência na gestão desses recursos pode assegurar a sustenta- bilidade dos estoques em longo prazo. 102
- 122. FiGura 3. 19 Produção da Pesca ProFissional continental no estado de são Paulo de 1997 a 2008 Rio Grande Rio Paraná Rio Paranapanema 800 700 600 Toneladas 500 400 270,6 300 200 68,5 100 45,8 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 Fonte: Vermulm et al (2010) 3.2.2 Pesca marinha A pesca extrativista marinha se desenvolve em todo o litoral paulista. Cada região, o Litoral Norte com seus recortes e pequenas baías, a Baixada Santista com suas características metropolitanas, e o Litoral Sul com o Complexo Estuarino-Lagunar Iguape-Cananéia-Ilha Comprida, apresenta suas próprias especificidades, que vão determinar o tipo da pesca, as técnicas utilizadas, as espécies e a quantidade capturada. De acordo com o Relatório Estatístico do Ministério da Pesca 2008/2009, o Estado de São Paulo pro- duziu cerca de 27,5 mil toneladas de pescado a partir da pesca extrativa marinha, ocupando o sexto lugar na produção nacional de pescado. A Figura 3.20 ilustra a evolução da pesca extrativa marinha de 2003 a 2009. Nota-se uma volta aos patamares de produção de 2003 e 2004 após um breve período de aumento na produção de 2005 a 2008. 103
- 123. FiGura 3. 20 Produção da Pesca extrativa MarinHa no estado de são Paulo de 2003 a 2009 36.000 33.771 34.000 33.087 32.000 33.379 30.000 Toneladas 27.702 28.000 27.561 26.000 27.256 24.000 23.824 22.000 20.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Ministério da Pesca e Aquicultura (2010) Para o ano de 2010, a partir do “Informe da Produção Pesqueira Marinha e Estuarina do Estado de São Paulo” publicada pelo Instituto de Pesca em setembro de 2010, tem-se a estimativa preliminar da produção pesqueira entre Janeiro e Setembro, que gira em torno de 14.600 toneladas de pescado desembarcado. Desse total, 63% corresponde à produção da Baixada Santista, com Santos/Guarujá como o maior produtor; 20% corresponde à produção do Litoral Sul, com Cananéia como principal município produtor; e 17% corresponde à produção do Litoral Norte, tendo Ubatuba como maior produtor. As espécies mais capturadas foram, respectivamente, a Corvina, a Sardinha-verdadeira e o Camarão-sete-barbas. As duas primeiras espécies encontram-se na Lista de Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 53.494/08), na categoria sobreexplotadas. Uma descrição mais detalhada da estruturação da pesca extrativa marinha no litoral paulista, com a descrição dos atores envolvidos e propostas de fortalecimento, pode ser vista no Plano de Extensão Rural e Pesqueira para o Litoral Paulista, por Silva e Graça Lopes (2010), publicado pelo Instituto de Pesca. 3.2.3 aquicultura O crescimento da população, a urbanização e o aumento da renda per capita fizeram com que o consumo mun- dial de pescado mais do que triplicasse nos últimos quarenta anos, passando de 28 milhões de toneladas, em 1961, para 96 milhões em 2001. A aqüicultura, seja ela praticada em água doce ou água salgada, consiste numa possibilidade sustentável (desde que realizada dentro da capacidade de suporte do ambiente) de produção de pescados. Pode ser usada para pro- dução de peixes (tilápias, carpas, trutas, pacus, piaparas, etc.), moluscos, ostras, mexilhões, camarões, algas e rãs. Sua grande diferença em relação à pesca extrativa é que os organismos não são extraídos a esmo da natureza, embora em algumas formas de produção, como as ostras, seja necessário a extração da natureza para o posterior cultivo. Para muitos cultivos é possível realizar todo o processo em criadouros (viveiros, tanques-rede, etc.), o que diminui o impacto às comunidades naturais pela retirada desenfreada de organismos, permitindo que retomem seu equilíbrio natural. 104
- 124. Porém, embora a aquicultura alivie a pressão sobre os estoques pesqueiros, marinhos e continentais, esta ati- vidade, caso não seja executada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação ambiental, também pode gerar impactos, que vão desde a destruição de mangues e de outras formas de vegetação nativa (para a instalação dos tanques de criação), até conflitos pelo uso da água e a poluição orgânica de rios e estuários (descarte de efluentes). É por isso que, para a sustentabilidade do setor, a aquicultura necessita de uma gestão apropriada das suas inte- rações com o ambiente durante as ações de planejamento e implementação (FAO, 2006). A Figura 3.21 abaixo apresenta uma comparação da evolução da produção do pescado pela pesca e aqüicultura, marinha e continental. Observando-se os números da pesca continental e marinha, vê-se a tendência de estagna- ção na produção nos últimos anos. Isso vem ocorrendo com os estoques pesqueiros do mundo todo. FiGura 3. 21 Produção da Pesca e aQuicultura no estado de são Paulo de 2003 a 2009 Pesca marinha Pesca con nental Aquicultura marinha Aquicultura con nental 45.000 38.503 40.000 35.000 Toneladas 30.000 25.000 27.561 20.000 15.000 10.495 10.000 5.000 143 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Ministério da Pesca e Aquicultura (2010) Como já comentado, nota-se a estagnação ou queda de produção nas pescas continental e marinha, uma aquicul- tura marinha (ou maricultura) incipiente e sub-explorada, e, um crescente aumento na produção da aquicultura continental, que veio a ser responsável pela maior quantidade de pescado produzido no Estado em 2009, com quase 40 mil toneladas. Devido a esse declínio na produção tradicional do pescado, muitas vezes fruto da sobreexplotação das espécies, que impede a renovação dos estoques naturais, a produção da aquicultura terá um papel crucial nas próximas décadas, na compensação da produção da pesca e da crescente demanda por produtos de organismos aquáticos. Para isso é necessário o estabelecimento de marcos regulatórios, normatização e implementação de boas práticas de produção, além de instrumentos socioeconômicos de incentivo e inclusão. O Instituto de Pesca, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, tem como um de seus objetivos dar suporte à aquicultura paulista, fornecendo informações e assistência técnica a criadores de organis- mos aquáticos, produtores rurais, prefeituras, instituições governamentais e não governamentais e interessados em geral. Conta com centros de pesquisa na capital, litoral e interior, e, através de seu corpo técnico, realiza visitas a propriedades rurais para avaliação da viabilidade de implantação de projetos aquícolas. 105
- 125. referências MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA – MPA. Produção Pesqueira e Aquícola. Estatística 2008 e 2009. Disponível em: <http://www.mpa.gov.br> Acesso em: nov. 2010. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION – FAO. Fisheries Department State of world aquaculture 2006. FAO Fisheries Technical Paper. Rome: FAO, 2006. SILVA, N. J. R. da; Graça Lopes, R. Plano de Extensão Rural e Pesqueira para o Litoral Paulista. Série Relatórios Técnicos n. 44. São Paulo: Instituto de Pesca, 2010. VERMULM JR., H. et al. Levantamento da pesca profissional continental no Estado de São Paulo, 1994 a 2008. Série Relatórios Técnicos. Instituto de Pesca: São Paulo, 2010. 106
- 126. 3.3 saneamento ambiental De acordo com a Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais e a política federal de sanea- mento, o saneamento básico é composto pelo conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Os sistemas de abastecimento de água potável envolvem desde a captação da água bruta nos mananciais superfi- ciais ou subterrâneos, passando pelo transporte da mesma até as instalações onde ocorre seu tratamento, visando atender os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04, até a reserva- ção e a distribuição da água tratada às ligações prediais e seus respectivos instrumentos de medição. Por sua vez, os sistemas de esgotamento sanitário compreendem desde a coleta do esgoto gerado nos domicílios, seu transporte para as estações de tratamento, nas quais se reduz o potencial poluidor e de geração de agravos à saúde, e o lançamento dos efluentes nas coleções d’água, visando atender aos padrões estabelecidos na legislação federal e estadual. A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos abarcam todas as atividades relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares e daqueles provenientes dos sistemas de varrição e limpeza dos logradouros públicos, como a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final destes resíduos. Já a drenagem urbana e o manejo de águas pluviais congregam os dispositivos e as ações relativas à coleta e ao transporte das águas pluviais, bem como estruturas para amortecer as cheias e direcionar as águas drenadas de maneira a evitar enchentes, alagamentos e o agravamento de processos erosivos. A concepção de saneamento ambiental amplia o horizonte estabelecido pela Lei Federal nº 11.445/2007, incluindo a gestão de outras categorias de resíduos sólidos, como os provenientes de serviços de saúde e de obras de constru- ção e demolição, como também a identificação e a recuperação de áreas contaminadas, de maneira a promover a manutenção e a melhoria da qualidade ambiental, fator essencial para a qualidade de vida da população. 3.3.1 abastecimento de água Dentre as quatro vertentes do saneamento básico descritas acima, no Brasil, o abastecimento de água potável é a que se encontra mais consolidada. No Estado de São Paulo, o quadro se assemelha ao nacional, e podemos ver hoje todos os municípios paulistas contando com rede de distribuição de água (IBGE, 2010). Entretanto, a oferta deste serviço ainda não atinge a totalidade dos domicílios, conforme dados do Ministério das Cidades (MCidades, 2010b), contidos no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e divulgados na publicação “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 2008”. Segundo a Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Índice de Atendimento de Água (IAA), que representa a porcentagem da população total de cada município efetivamente aten- dida por abastecimento público de água, pode ser classificado em três categorias, como pode ser visto na Tabela 3.22. tabela 3. 22 classes do iaa intervalo abastecimento de água iaa < 50% ruim 50% < iaa < 90% regular iaa > 90% bom Fonte: SMA/CRHi (2010) A Figura 3.22 mostra a distribuição percentual dos municípios do Estado enquadrados nas classes do IAA, por UGRHI e, a Figura 3.23, o mapa dos municípios por classes do IAA, ambos em 2008. 107
- 127. FiGura 3. 22 distribuição Percentual dos MunicíPios do estado de são Paulo enQuadrados nas classes do iaa Por uGrHi eM 2008 Bom Regular Ruim Sem Dados 100% 11 12 9 12 8 18 17 14 90% 21 4 33 30 5 33 27 29 6 26 32 28 24 26 28 5 80% 9 2 50 3 70% 56 37 33 60% 21 60 26 50% 47 35 41 58 38 39 41 69 57 88 55 55 40% 70 67 67 30% 50 47 44 50 50 20% 41 35 32 34 33 31 26 24 28 10% 21 19 19 24 0% 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 UGRHI Fonte: MCidades (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 23 iaa dos MunicíPios do estado de são Paulo eM 2008 Fonte: MCidades (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) 108
- 128. Como se observa na Figura 3.22, na maioria das UGRHI, o percentual de municípios que apresentam menos da metade de sua população efetivamente atendida por rede de abastecimento de água não atinge 10%, exceção feita às UGRHI 01 (Mantiqueira) e 11 (Ribeira de Iguape/Litoral Sul). Dentre as UGRHI que apresentaram melhor desempenho, que contam com pelo menos a metade dos municípios enquadrados num nível de atendi- mento bom, encontram-se as UGRHI 03 (Litoral Norte), 07 (Baixada Santista), 09 (Mogi-Guaçu) e 12 (Baixo Pardo/Grande). Vale ressaltar que a análise destes resultados deve levar em conta a expressiva quantidade de municípios que não forneceram dados ao SNIS, uma vez que, em somente quatro das 22 UGRHI do Estado todos os municípios forneceram dados. 3.3.2 esgotamento sanitário Dentre as pressões ambientais advindas dos assentamentos humanos, assume papel de destaque o lançamento de grandes quantidades de matéria orgânica nos corpos d’ água, de maneira difusa ou por meio dos sistemas de esgotamento sanitário. Esse lançamento pode prejudicar a qualidade da água, pois potencializa a atuação de microorganismos que degradam a matéria orgânica, consumindo para isso o oxigênio dissolvido nas águas. A queda nos níveis de oxigênio dissolvido inviabiliza a sobrevivência de grande parte dos organismos que compõe a comunidade aquática, reduzindo assim a biodiversidade nesses ambientes. Para além da perda de biodiversidade, os baixos níveis de oxigênio dissolvido possibilitam a proliferação de microorganismos que sobrevivem em condições de anaerobiose e geram em seus processos metabólicos gases como o metano (CH4) e o gás sulfídrico (H2S), causando maus odores que depreciam a qualidade de vida da população que vive próxima a esses corpos d’ água. Para mensurar a carga orgânica presente em determinado efluente, utilizamos aqui a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), que consiste na quantidade de oxigênio dissolvido consumido pelos microorganismos aquáticos na degradação da matéria orgânica, num determinado intervalo de tempo e a uma dada temperatura de incubação. Por convenção, adota-se o período de cinco dias e uma temperatura de 20° C. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da norma NBR 12209:1992, estabelece como parâmetro para projetos de estações de tratamento de esgoto, a contribuição individual de 54 g DBO por habitante por dia, a partir da qual pode ser estimado o aporte de carga orgânica gerado pela população dos municípios. Portanto, a carga orgânica poluidora potencial é a quantidade de matéria orgânica gerada estimada em função da população, ou seja, a quantidade que seria lançada nos corpos d’água caso não houvesse nenhuma forma de tratamento de efluentes. Já a carga orgânica poluidora remanescente apresenta os valores de carga poluidora que efetivamente são lançados nos corpos hídricos após sua coleta e tratamento, quando existente. No Estado de São Paulo em 2009, segundo a CETESB (2010b), a carga orgânica poluidora potencial de origem doméstica foi de 2.090.588 kg DBO/dia. Destes, 1.285.603 kg DBO/dia (61%) foram lançados em corpos d’água. A Figura 3.24 apresenta a carga orgânica remanescente de origem doméstica em valor absoluto (kg DBO/dia), por UGRHI, em 2009. Podemos observar que somente a UGRHI 06 (Alto Tietê) é responsável por aproximadamente 54% (691.659 kg DBO/dia) de toda carga orgânica remanescente do Estado, seguida pela UGRHI 05 (PCJ), que lança nos rios quase 13% (165.704 kg DBO/dia) do total. 109
- 129. FiGura 3. 24 carGa orGânica Poluidora reManescente Por uGrHi eM 2009 800.000 9 65 1. Carga orgânica remanescente (kg DBO/dia) 69 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 4 70 200.000 5. 16 02 41 .9 42 58 46 42 25 06 100.000 82 .7 17 24 .1 .6 15 3 .4 10 53 12 3 57 10 2 11 6 11 3 9. 4 8 6. 0 0 46 9 .0 9 5 5 5 4 7 5 .1 1 0 .7 96 .0 .9 .9 .6 .2 73 76 83 77 84 62 7. 3. 4. 2. 1. 0 6 5 7 2 9 13 10 15 4 21 19 8 17 14 3 16 11 12 22 20 1 18 UGRHI Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) Importante indicador das condições dos sistemas de esgotamento sanitário, a proporção de carga orgânica po- tencialmente gerada pela população que é removida pelos sistemas de tratamento, reflete a contribuição dos mesmos para a manutenção da qualidade ambiental. Portanto, além do afastamento do esgoto gerado pela po- pulação, um dos principais enfoques das ações de saneamento consiste no tratamento e na consequente redução do potencial poluidor desses efluentes. A Tabela 3.23 apresenta a evolução do percentual de redução de carga orgânica potencial de origem doméstica em cada UGRHI do Estado de São Paulo. 110
- 130. tabela 3. 23 Percentual de redução de carGa orGânica Por uGrHi de 2006 a 2009 % redução de carga orgânica uGrHi 2006 2007 2008 2009 01 – Mantiqueira 3% 6% 3% 3% 02 – Paraíba do sul 26% 31% 30% 42% 03 – litoral norte 22% 24% 26% 29% 04 – Pardo 42% 49% 58% 68% 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 22% 34% 34% 35% 06 – alto tietê 30% 31% 30% 32% 07– baixada santista 48% 7% 7% 8% 08 – sapucaí/Grande 51% 63% 58% 66% 09 – Mogi-Guaçu 26% 27% 30% 35% 10 – sorocaba/Médio tietê 41% 40% 44% 51% 11 – ribeira de iguape/litoral sul 39% 42% 26% 41% 12 – baixo Pardo/Grande 56% 62% 59% 59% 13 – tietê/Jacaré 27% 31% 29% 40% 14 – alto Paranapanema 62% 59% 58% 65% 15 – turvo/Grande 22% 26% 25% 59% 16 – tietê/batalha 43% 57% 56% 60% 17 – Médio Paranapanema 58% 58% 68% 64% 18 – são José dos dourados 78% 85% 83% 85% 19 – baixo tietê 62% 60% 63% 65% 20 – aguapeí 68% 68% 71% 78% 21 – Peixe 31% 30% 33% 33% 22 – Pontal do Paranapanema 68% 73% 70% 79% estado de são Paulo 33% 34% 34% 39% Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) Podemos observar uma situação crítica nas UGRHI 01 (Mantiqueira) e 07 (Baixada Santista), que apresentaram os piores índices, 3% e 8% respectivamente, e o alto desempenho verificado na UGRHI 18 (São José dos Dourados), que apresentou percentual de redução de 85%, o mais alto entre todas as bacias. Cabe ressaltar que o Decreto Estadual nº 8.468/76, que regulamentou a Lei Estadual nº 997/76, estabeleceu como padrão de emissão para o lançamento de efluentes em corpos d’ água o patamar de 60 mg/L de DBO, sendo, a ultrapassagem desse limite, permitida somente quando a eficiência do sistema de tratamento seja de no mínimo de 80%. A Figura 3.25 apresenta o percentual de redução carga orgânica dividido em faixas, por UGRHI, em 2009. 111
- 131. FiGura 3. 25 distribuição do Percentual de redução de carGa orGânica Por uGrHi eM 2009 Fonte: CETESB (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) Para aferir a situação dos municípios paulistas quanto ao desempenho de seus sistemas de tratamento de esgotos sanitários, CETESB desenvolveu o Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto do Município (ICTEM). Este indicador tem como objetivo verificar a efetiva remoção da carga orgânica poluidora em relação à carga orgânica po encial gerada pelas populações urbanas dos municípios, sem deixar de observar, entretanto, outros t importantes aspectos relativos ao sistema de tratamento, que vão desde a coleta, o afastamento e o tratamento dos esgotos, até a destinação dada aos lodos gerados nas estações de tratamento e os impactos causados aos corpos hídricos receptores dos efluentes. A Tabela 3.24 mostra os elementos que compõe o indicador e suas respectivas contribuições. tabela 3. 24 coMPosição do icteM elementos do indicador composição (%) Ponderação Coleta 15 1,5 Tratamento e eficiência de remoção 15 1,5 Eficiência global de remoção 65 6,5 Destino adequado de lodos e resíduos de tratamento 2 0,2 Efluente da estação não desenquadra a classe do corpo receptor 3 0,3 total 100 1 Fonte: Novaes; Soares; Neto (2007) Notas: 1) coleta: % da população urbana atendida por rede de esgotos ou sistemas isolados. 2) tratamento e eficiência de remoção: % da população urbana com esgoto tratado. 3) a eficiência global de remoção depende da eficiência unitária das ETE. Se a eficiência global for igual ou maior que 80%, o valor para esse elemento do indicador será de 6,5. 112
- 132. Em função da nota do ICTEM, que pode variar de zero a dez, os sistemas de esgotamento sanitário dos muni- cípios são classificados em quatro em faixas, como pode ser visto na tabela que segue. tabela 3. 25 classes do icteM intervalo sistema de esgotamento sanitário icteM ≤ 2,5 Péssimo 2,5 < icteM ≤ 5,0 ruim 5,0 < icteM ≤ 7,5 regular 7,5 < icteM ≤ 10,0 bom Fonte: CETESB (2010d) É importante frisar que este indicador foi instituído recentemente no âmbito da CETESB e, em função disto, inexiste uma série histó ica do mesmo. Desse modo, são apresentados na Tabela 3.26 os dados de 2008 e 2009 r por UGRHI e para o Estado de São Paulo. Na sequência, são apresentado dois mapas: um com as notas do ICTEM por UGRHI e outro por município, todos relativos ao dado de 2009. tabela 3. 26 icteM Por uGrHi eM 2008 e 2009 icteM uGrHi 2008 2009 01 – Mantiqueira 1,4 1,4 02 – Paraíba do sul 4,1 5,1 03 – litoral norte 4,2 4,2 04 – Pardo 6,3 7,1 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 4,4 4,6 06 – alto tietê 4,1 4,2 07– baixada santista 1,8 1,9 08 – sapucaí/Grande 6,6 7,2 09 – Mogi-Guaçu 4,0 4,4 10 – sorocaba/Médio tietê 5,1 5,7 11 – ribeira de iguape/litoral sul 5,2 5,2 12 – baixo Pardo/Grande 6,6 6,6 13 – tietê/Jacaré 4,1 5,1 14 – alto Paranapanema 6,5 6,9 15 – turvo/Grande 3,7 6,6 16 – tietê/batalha 6,3 6,8 17 – Médio Paranapanema 7,2 7,4 18 – são José dos dourados 9,7 9,8 19 – baixo tietê 6,8 7,1 20 – aguapeí 7,5 8,1 21 – Peixe 4,4 4,4 22 – Pontal do Paranapanema 7,7 8,4 estado de são Paulo 4,5 4,9 Fonte: CETESB (2010d), elaborado por SMA/CPLA (2010) 113
- 133. FiGura 3. 26 distribuição do icteM Por uGrHi eM 2009 Fonte: CETESB (2010d), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 27 distribuição do icteM Por MunicíPio eM 2009 Fonte: CETESB (2010d), elaborado por SMA/CPLA (2010) 114
- 134. Vale destacar as UGRHI 18 (São José dos Dourados), 22 (Pontal do Paranapanema) e 20 (Aguapeí), as únicas que tiveram seus sistemas de esgotamento sanitário classificados como bons em 2009. Em contrapartida pode- mos observar que as UGRHI 01 (Mantiqueira) e 07 (Baixada Santista) apresentaram os piores resultados, e nos dois anos considerados foram enquadradas na categoria Péssima. Ainda merecem atenção as UGRHI 06 (Alto Tietê), 05 (PCJ), 09 (Mogi-Guaçu), 03 (Litoral Norte) e 21 (Peixe), que tiveram seus sistemas de esgotos sanitá- rios classificados como ruins. No caso das UGRHI 06 e 05 a situação é agravada pelo fato de ambas abrangerem grande parte da população do Estado e contarem com forte presença industrial. Para o Estado de São Paulo como um todo, podemos verificar uma melhora do ICTEM de 2008 para 2009, quando o indicador foi de 4,5 para 4,9, se aproximando da categoria Regular, porém ainda muito aquém do de- sejável no âmbito do Estado, deixando clara, desta forma, a necessidade de se avançar na melhoria das condições de esgotamento sanitário nos municípios paulistas. Nesse sentido, a Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (hoje Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos) tem empreendido diversos esforços, dentre os quais se destaca o Programa Estadual de Apoio Técnico à Elaboração dos Planos Municipais e Regionais de Saneamento (PMS), que tem atuado junto às prefeituras municipais com o objetivo de estabelecer o processo de planejamento em saneamento, como pre- coniza a Lei Federal n0 11.445/07. 3.3.3 Manejo de resíduos sólidos Com o objetivo de avaliar a operação dos locais de disposição final de resíduos sólidos domiciliares no território paulista, a CETESB, publica anualmente em seu “Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares” o Ín- dice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR). Por meio do acompanhamento dos técnicos da Companhia, os aterros sanitários são inspecionados periodicamente, sendo avaliados quanto as suas características locacionais, estruturais e operacionais. A partir desta avaliação é atribuída uma nota para cada município do Estado, que varia de zero a 10 e, em função do valor obtido, as instalações são classificadas em três categorias, como pode ser visto na Tabela 3.27. tabela 3. 27 classes do iQr intervalo aterro sanitário iQr ≤ 6,0 adequado 6,0 < iQr ≤ 8,0 controlado 8,0 < iQr ≤ 10,0 inadequado Fonte: CETESB (2010e) A Tabela 3.28 apresenta a série histórica do IQR médio ponderado pela geração de resíduos, para as UGRHI e para o Estado de São Paulo de 2000 a 2009. Vale citar que as quantidades de Resíduos Sólidos Domicilia- res (RSD) geradas nos municípios foram calculadas com base na população urbana de cada município (censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE) e em índices de produção de resíduos por habitante9. Excetua-se a esta regra o município de São Paulo, para o qual são adotados os volumes diários divulgados oficialmente pelas concessionárias do serviço municipal. 9 Para municípios com população de até 100 mil habitantes considera-se a geração de 0,4 kg/hab.dia, aumentando para 0,5 kg/hab.dia para municípios com população entre 100 mil e 200 mil habitantes, 0,6 kg/hab.dia para municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes e 0,7 kg/hab.dia para municípios com população maior que 500 mil habitantes (CETESB, 2010b). 115
- 135. tabela 3. 28 iQr Por uGrHi de 2000 a 2009 iQr uGrHi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 01 – Mantiqueira 10,0 9,7 10,0 9,8 9,8 9,8 9,9 9,7 8,3 8,3 02 – Paraíba do sul 7,8 7,8 8,4 8,7 8,5 8,2 8,4 8,9 8,2 9,1 03 – litoral norte 4,6 4,4 4,8 4,7 5,4 5,9 5,7 8,2 9,3 9,3 04 – Pardo 6,5 7,0 7,8 8,1 8,2 7,9 6,6 6,3 8,8 9,4 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 6,9 7,4 7,9 8,5 8,5 8,5 8,4 9,0 8,9 9,1 06 – alto tietê 7,7 8,2 8,3 8,3 8,5 8,9 8,9 9,2 9,3 9,2 07– baixada santista 4,1 4,1 5,7 7,6 8,9 9,0 8,7 9,0 9,3 9,4 08 – sapucaí/Grande 6,4 7,4 7,3 7,4 7,2 6,8 8,9 8,7 8,8 9,4 09 – Mogi-Guaçu 6,4 6,6 6,8 6,7 6,5 7,0 6,4 6,5 8,4 8,5 10 – sorocaba/Médio tietê 6,6 6,7 6,8 7,5 7,5 8,1 8,0 8,2 8,3 8,4 11 – ribeira de iguape/litoral sul 3,0 3,1 3,6 4,7 4,7 5,8 5 4,7 6,7 7,8 12 – baixo Pardo/Grande 6,5 6,6 6,7 6,6 6,8 6,1 7,4 9,0 8,8 9,6 13 – tietê/Jacaré 7,3 7,8 8,0 7,9 7,7 7,8 8,1 7,9 6,6 7,7 14 – alto Paranapanema 4,3 3,7 4,3 4,6 4,4 5,0 4,6 4,1 6,8 8,0 15 – turvo/Grande 6,4 6,2 6,8 6,8 6,8 7,4 7,6 7,9 8,4 9,2 16 – tietê/batalha 6,1 6,4 7,6 6,8 7,2 7,0 6,7 6,6 7,1 8,3 17 – Médio Paranapanema 6,9 7,0 6,8 6,2 5,4 7,8 7,9 7,1 7,8 8,4 18 – são José dos dourados 6,2 7,3 6,8 6,3 6,1 6,4 7,1 6,9 8,7 8,3 19 – baixo tietê 3,7 4,6 6,9 7,8 7,8 8,1 7,8 8,3 9,3 9,4 20 – aguapeí 6,5 7,2 7,6 7,3 7,2 7,6 7,5 7,9 8,1 7,9 21 – Peixe 5,2 4,7 5,5 5,3 3,9 5,1 7,1 6,1 6,9 7,8 22 – Pontal do Paranapanema 4,7 4,4 4,7 4,5 4,2 4,7 4,1 4,5 3,8 4,2 estado de são Paulo 7,1 7,5 7,8 8,0 8,2 8,5 8,5 8,8 8,9 9,0 Fonte: CETESB (2010e), elaborado por SMA/CPLA (2010) Como pode se observar, a operação dos aterros sanitários apresentou significativa melhora na última década, sendo que somente a UGRHI 22 (Pontal do Paranapanema) está enquadrada na categoria Inadequada (Figura 3.28) e, ainda, apenas sete municípios do Estado têm a as instalações que dispõe seus resíduos sólidos domiciliares consideradas inadequadas (Figura 3.29). 116
- 136. FiGura 3. 28 distribuição do iQr Por uGrHi eM 2009 Fonte: CETESB (2010e), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 29 distribuição do iQr Por MunicíPio eM 2009 Fonte: CETESB (2010e), elaborado por SMA/CPLA (2010) 117
- 137. Como forma de complementar o IQR e com o objetivo de avaliar não somente a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, mas também a gestão dos resíduos sólidos urbanos como um todo, a equipe da Coorde- nadoria de Planejamento Ambiental (CPLA) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) desenvolveu, em 2007, o Índice de Gestão dos Resíduos Sólidos (IGR). Este índice é calculado por uma fórmula matemática, podendo variar entre zero e 10, e é composto pelo IQR, que representa 35% da nota final, pelo Índice de Quali- dade de Usinas de Compostagem (IQC), que representa 5%, e pelo Índice de Qualidade de Gestão de Resíduos Sólidos (IQG), que representa os outros 60% e agrega indicadores de quatro áreas: instrumentos para a política de resíduos sólidos, programas ou ações municipais, coleta e triagem, tratamento e disposição. Da mesma forma que o IQR, foram estabelecidas três categorias para o classificação da qualidade da gestão de resíduos sólidos urbanos dos municípios, conforme Tabela 3.29. tabela 3. 29 classes do iGr intervalo Gestão Municipal iGr ≤ 6,0 ineficiente 6,0 < iGr ≤ 8,0 Mediana 8,0 < iGr ≤ 10,0 eficiente Fonte: SMA/CPLA (2010) A Tabela 3.30 e a Figura 3.30 apresentam os resultados do IGR médio ponderado pela geração de resíduos das UGRHI do Estado de São Paulo. A tabela mostra o valor para os anos de 2007 e 2009, os únicos em que o índice foi calculado, enquanto a figura apresenta o resultado para o ano de 2009. A Figura 3.31 apresenta o IGR, referente ao ano de 2009, para todos os municípios paulistas. Para 2007, a coleta de dados foi realizada por meio da Pesquisa Municipal Unificada, na qual a Fundação Siste- ma Estadual de Análise de Dados (SEADE) enviou questionários para os 645 municípios paulistas, dos quais 543 responderam. Os dados referentes ao ano de 2009 foram obtidos por meio de formulário eletrônico dispo- nibilizado no site da CPLA, sendo que dos 645 municípios do Estado, 555 responderam. 118
- 138. tabela 3. 30 iGr Por uGrHi eM 2007 e 2009 iGr uGrHi 2007 2009 01 – Mantiqueira 7,8 5,2 02 – Paraíba do sul 7,1 7,5 03 – litoral norte 6,3 7,2 04 – Pardo 5,9 6,8 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 6,7 7,6 06 – alto tietê 7,2 6,8 07– baixada santista 7,3 7,0 08 – sapucaí/Grande 7,2 7,2 09 – Mogi-Guaçu 5,7 6,1 10 – sorocaba/Médio tietê 7,4 7,4 11 – ribeira de iguape/litoral sul 2,8 5,8 12 – baixo Pardo/Grande 7,6 7,5 13 – tietê/Jacaré 4,1 7,0 14 – alto Paranapanema 3,7 6,4 15 – turvo/Grande 5,9 7,5 16 – tietê/batalha 4,9 6,6 17 – Médio Paranapanema 5,9 7,0 18 – são José dos dourados 5,6 6,5 19 – baixo tietê 3 6,8 20 – aguapeí 5,4 6,6 21 – Peixe 2,5 7,0 22 – Pontal do Paranapanema 4,9 4,6 estado de são Paulo 5,7 7,0 Fonte: SMA/CPLA (2010) 119
- 139. FiGura 3. 30 distribuição do iGr Por uGrHi eM 2009 Fonte: SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 31 distribuição do iGr Por MunicíPio eM 2009 Fonte: SMA/CPLA (2010) 120
- 140. Como se pode observar, diferentemente da boa condição da maioria das instalações para destinação final dos resíduos sólidos domiciliares municipais, a gestão dos resíduos sólidos urbanos, em grande parte das UGRHI, se encontra em situação mediana, sendo considerada ineficiente em somente três bacias (01 – Mantiqueira, 11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul e 22 – Pontal do Paranapanema). O resultado obtido para o Estado de São Paulo apresentou melhora, passando de condição ineficiente (5,7) em 2007 para mediana (7,0) em 2009. Todavia, a análise dos resultados do IGR deve considerar a forma de obtenção das informações, a qual depende do comprometimento por parte das administrações municipais em fornecer os dados corretos para que possa ser realizada uma avaliação que condiz com a realidade. Vale ainda ressaltar que os valores do IGR apresentados aqui, podem diferir dos resultados divulgados no “Painel da Qualidade Ambiental 2010”, publicação lançada anualmente todo mês de junho pela CPLA, em função de apenas 310 municípios terem respondido o questio- nário até o mês de lançamento da publicação. 3.3.4 drenagem de águas pluviais urbanas A drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas constituem a vertente do saneamento que apresenta menor acúmulo de dados e informações, sendo muitas vezes desconhecida pelas próprias municipalidades a distribuição espacial das respectivas redes de drenagem pluvial. Esta deficiência se explica, em parte, pelo fato do setor ter sido incorporado à concepção do saneamento básico muito recentemente, se comparado às outras vertentes. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE (2010b), no Estado de São Paulo o número de municípios com serviço de manejo de águas pluviais passou de 630 em 2000 para 645 em 2008, ou seja, em todos os municípios paulistas foi constatada a existência deste serviço. A Tabela 3.31 apresenta o percentual de municípios que possuem rede de escoamento de águas pluviais subter- râneas ou sistema exclusivamente superficial em cada UGRHI do Estado. Como pode ser observado, metade das bacias apresentam a totalidade dos municípios com rede subterrânea de drenagem de águas pluviais, valendo destacar a UGRHI 18 (São José dos Dourados), que apresenta o maior percentual de municípios que possuem somente estruturas de drenagem superficial, 20%. 121
- 141. tabela 3. 31 Percentual de MunicíPios coM rede de drenaGeM urbana Por uGrHi eM 2008 % de municípios com rede de drenagem urbana uGrHi rede subterrânea somente rede superficial 01 – Mantiqueira 100% - 02 – Paraíba do sul 97% 3% 03 – litoral norte 100% - 04 – Pardo 100% - 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 100% - 06 – alto tietê 97% 3% 07– baixada santista 100% - 08 – sapucaí/Grande 100% - 09 – Mogi-Guaçu 97% 3% 10 – sorocaba/Médio tietê 97% 3% 11 – ribeira de iguape/litoral sul 100% - 12 – baixo Pardo/Grande 92% 8% 13 – tietê/Jacaré 100% - 14 – alto Paranapanema 100% - 15 – turvo/Grande 94% 6% 16 – tietê/batalha 94% 6% 17 – Médio Paranapanema 98% 2% 18 – são José dos dourados 80% 20% 19 – baixo tietê 95% 5% 20 – aguapeí 100% - 21 – Peixe 100% - 22 – Pontal do Paranapanema 95% 5% estado de são Paulo 97% 3% Fonte: IBGE (2010b), elaborado por SMA/CPLA (2010) referências COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Dados fornecidos. 2010d. São Paulo: CETESB, 2010. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domicili- ares 2009. 2010e. São Paulo: CETESB, 2010. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Relatório de Qualidade das Águas Superficiais no Estado de São Paulo 2009. 2010b. São Paulo: CETESB, 2010. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008. 2010b. Disponível em <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: dez. 2010. MINISTÉRIO DAS CIDADES – MCIDADES. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 2008. 2010b. Disponível em <http://www.snis.gov.br>. Acesso em: dez. 2010. NOVAES, A.V.; SOARES, M. S.; LOPES NETO, J. C. Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município (ICTEM). Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. São Paulo, 2007. 122
- 142. 3.4 solo Este sub-capítulo aborda os problemas ambientais decorrentes da interação entre o meio físico e os processos de apropriação do território e de seus recursos. Esse campo de interação, sob influência do homem como ser social, ocorre em uma estreita faixa que compreende a parte superior da litosfera e a baixa atmosfera, denominada de estrato geográfico (ROSS, 1992). Os indicadores de qualidade ambiental selecionados, referentes ao tema Solos, relacionam-se a três sub-temas: áreas contaminadas, desastres naturais e atividade de mineração, cujas fontes de dados utilizadas neste trabalho são, respectivamente, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). A ocorrência de contaminação do solo e da água subterrânea relaciona-se ao desconhecimento ou desrespeito aos “procedimentos seguros para o manejo de substâncias perigosas e à ocorrência de acidentes ou vazamentos durante o desenvolvimento dos processos produtivos, de transporte ou de armazenamento de matérias primas e produtos” (CETESB, 2010f ). Os principais processos causadores de acidentes e desastres naturais no Estado de São Paulo são escorrega- mentos de encostas, inundações, erosão acelerada e tempestades (ventos fortes, raios e granizo). O crescente impacto desses tipos de fenômenos naturais relaciona-se, em muitos casos, a um conjunto de fatores rela- cionados ao modelo de desenvolvimento sócio-econômico, tais como gestão inadequada dos recursos natu- rais, crescimento urbano desordenado, normas construtivas obsoletas, estrutura institucional para a gestão de risco deficiente e população pouco preparada para avaliar suas vulnerabilidades e lidar com emergências (BROLLO e FERREIRA 2009). A mineração é uma atividade industrial importante e necessária, embora inerentemente modificadora do meio ambiente ao explorar seus recursos naturais. No contexto do desenvolvimento urbano e industrial, o processo de concentração demográfica expandiu a intensidade de consumo de substâncias minerais, amplamente em- pregadas na produção de equipamentos e obras de infra-estrutura, que servem de base para o estilo de vida da sociedade moderna. Segundo Drew et al. (2002), os agregados naturais (areia, cascalho, rocha para brita), constituem 85% em volume da composição do material utilizado para a construção e manutenção da infra- estrutura urbana e peri-urbana. 3.4.1 áreas contaminadas Uma área contaminada pode ser definida como uma área local ou terreno, onde há comprovadamente poluição ou contaminação, causada por quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumula- dos, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Nessa área, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em subsuperfície nos diferentes compartimentos do ambiente, por exemplo no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e saturada, além de poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos e nas estruturas de construções. Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios, propagando-se por diferentes vias, como, por exemplo, o ar, o solo ou as águas subterrâneas e superficiais, alterando suas características naturais ou qualidades e determinando impactos negativos e/ou riscos sobre os bens a proteger, localizados na própria área ou em seus arredores (CETESB, 2001). A origem das áreas contaminadas está relacionada ao desconhecimento, em épocas passadas, de procedimentos seguros para o manejo de substâncias perigosas, ao desrespeito a esses procedimentos seguros e à ocorrência de acidentes ou vazamentos durante o desenvolvimento dos processos produtivos, de transporte ou de arma- zenamento de matérias primas e produtos. A existência de uma área contaminada pode gerar problemas, como 123
- 143. danos à saúde, comprometimento da qualidade dos recursos hídricos, restrições ao uso do solo e danos ao patrimônio público e privado, com a desvalorização das propriedades, além de outros danos ao meio ambiente. (CETESB, 2010f ). Desde 2002, a CETESB passou a divulgar a relação de áreas contaminadas no Estado de São Paulo. A partir de então, o número de áreas cresceu continuamente, de 255 áreas identificadas em maio de 2002, passaram a 2.904 em novembro de 2009 (Figura 3.32). Essa tendência manter-se-á ou aumentará ainda mais nos próximos anos, em decorrência da identificação de antigos passivos ambientais. FiGura 3. 32 núMero de áreas contaMinadas cadastradas no estado de são Paulo de 2002 a 2009 3.500 3.000 2.904 2.500 2.514 2.272 2.000 1.822 1.500 1.596 1.336 1.000 727 500 255 0 mai/02 out/03 nov/04 nov/05 nov/06 nov/07 nov/08 nov/09 Fonte: CETESB (2010f), elaborado por SMA/CPLA (2010) Observa-se que até novembro de 2009 existiam cadastradas 2.904 áreas, enquanto em 2008 esse valor foi de 2.514 áreas, um incremento de 390 novas áreas. A maior parte das áreas cadastradas foram registradas nas re- giões dos pólos de desenvolvimento econômico do Estado, como na UGRHI 06 (Alto Tietê), com 1.335 áreas até novembro de 2009, seguida da UGRHI 05 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí), com 435 áreas, da UGRHI 07 (Baixada Santista), com 186 áreas e pela UGRHI 02 (Paraíba do Sul), com 159 áreas. Nos anos anteriores, essa distribuição seguiu a mesma tendência (Tabela 3.32), com exceção da UGRHI 07, que em 2009 apresentou o terceiro maior número de áreas contaminadas, com a descoberta de 85 novas áreas em relação a 2008. 124
- 144. tabela 3. 32 núMero de áreas contaMinadas cadastradas no estado de são Paulo Por uGrHi de 2005 a 2009 número de áreas contaminadas uGrHi nov/05 nov/06 nov/07 nov/08 nov/09 01 – Mantiqueira 5 5 8 8 8 02 – Paraíba do sul 103 107 145 147 159 03 – litoral norte 27 28 42 51 52 04 – Pardo 17 17 19 19 45 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 225 239 352 380 435 06 – alto tietê 820 961 1.175 1.260 1.335 07– baixada santista 84 96 99 101 186 08 – sapucaí/Grande 18 18 20 25 27 09 – Mogi-Guaçu 20 21 32 37 58 10 – sorocaba/Médio tietê 63 75 92 92 114 11 – ribeira de iguape/litoral sul 15 15 16 27 33 12 – baixo Pardo/Grande 13 17 25 35 45 13 – tietê/Jacaré 48 59 59 70 71 14 – alto Paranapanema 10 10 14 33 70 15 – turvo/Grande 46 57 69 95 123 16 – tietê/batalha 12 20 21 32 37 17 – Médio Paranapanema 17 18 19 24 22 18 – são José dos dourados 5 7 9 15 18 19 – baixo tietê 22 22 22 23 21 20 – aguapeí 7 7 7 9 12 21 – Peixe 9 10 11 15 18 22 – Pontal do Paranapanema 10 13 16 16 15 estado de são Paulo 1.596 1.822 2.272 2.514 2.904 Fonte: CETESB (2010f), elaborado por SMA/CPLA (2010) Podemos verificar um aumento significativo de áreas cadastradas de 2008 para 2009 nas UGRHI 06 – Alto Tietê (75 áreas), 05 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí (55 áreas), 14 – Alto Paranapanema (37 áreas), 15 – Turvo/ Grande (28 áreas); 04 – Pardo (26 áreas), 10 – Sorocaba/Médio Tietê (22 áreas) e 09 – Mogi-Guaçu (21 áre- as). Destaca-se que as UGRHI que tiveram o maior incremento no número de áreas contaminadas em relação a 2008 foram as UGRHI 04 e 14: ambas com um aumento superior a 50%, o que contribui para que o Estado apresentasse um crescimento de aproximadamente 16% no número de áreas contaminadas em 2009. Em 2008 podemos observar um crescimento de 11% em relação a 2007. Observa-se ainda que a UGRHI 14 (Alto Paranapanema) foi a que mais registrou aumento no número de áreas contaminadas desde 2005. Enquanto em 2005 esse valor era de 10 áreas em 2009 passou para 70 áreas. Em dire- ção contrária, a UGRHI 18 (São José dos Dourados), no mesmo período, conseguiu reduzir em 4,5% o número de suas áreas contaminadas. Apesar desta informação, não se pode esquecer que a UGRHI 01 (Mantiqueira) se mantém, nesse mesmo intervalo, como o menor número de áreas contaminadas cadastradas, muito em função de sua vocação para conservação. 125
- 145. Do total de áreas contaminadas registradas até novembro de 2009, 2.279 (78%) estão relacionadas a postos de combustíveis, seguido da atividade industrial com 382 áreas (13%), das atividades comerciais com 123 áreas (4%), das instalações para destinação de resíduos com 96 áreas (3%) e dos casos de acidentes e fonte de contami- nação de origem desconhecida com 24 áreas (1%). Em todas as UGRHI predominam áreas contaminadas por atividades relacionadas a postos de combustíveis, como mostra a Tabela 3.33. È importante destacar que a predominância de áreas contaminadas relacionadas a postos de combustíveis deve- se, em grande parte, à Resolução CONAMA nº 273/00, que estabeleceu a obrigatoriedade de licenciamento para esta atividade, o que permitiu, a partir da avaliação do passivo ambiental, identificar as áreas com problemas de vazamento de combustíveis e desencadeou uma série de procedimentos para sua adequação. tabela 3. 33 núMero de áreas contaMinadas cadastradas no estado de são Paulo Por uGrHi e Por tiPo de atividade eM 2009 atividade uGrHi Postos de acidentes / comercial industrial resíduos total combustíveis desconhecida 01 – Mantiqueira 0 0 0 7 1 8 02 – Paraíba do sul 2 29 2 125 1 159 03 – litoral norte 0 0 4 46 2 52 04 – Pardo 1 1 0 43 0 45 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 25 78 20 309 3 435 06 – alto tietê 55 189 41 1.043 7 1.335 07– baixada santista 13 30 16 127 0 186 08 – sapucaí/Grande 0 2 1 24 0 27 09 – Mogi-Guaçu 4 3 1 49 1 58 10 – sorocaba/Médio tietê 2 23 4 80 5 114 11 – ribeira de iguape/litoral sul 0 5 0 28 0 33 12 – baixo Pardo/Grande 0 0 1 44 0 45 13 – tietê/Jacaré 4 7 5 53 2 71 14 – alto Paranapanema 0 1 0 69 0 70 15 – turvo/Grande 8 4 0 110 1 123 16 – tietê/batalha 1 3 0 33 0 37 17 – Médio Paranapanema 5 1 0 15 1 22 18 – são José dos dourados 0 0 0 18 0 18 19 – baixo tietê 1 1 0 19 0 21 20 – aguapeí 0 0 0 12 0 12 21 – Peixe 2 2 0 14 0 18 22 – Pontal do Paranapanema 0 3 1 11 0 15 estado de são Paulo 123 382 96 2.279 24 2.904 Fonte: CETESB (2010f), elaborado por SMA/CPLA (2010) A Figura 3.33 mostra a distribuição das áreas contaminadas por atividade econômica em novembro de 2009. 126
- 146. FiGura 3. 33 distribuição das áreas contaMinadas Por atividade eM 2009 3,3% 0,8% 4,2% Postos de Combus veis 13,2% Industrial Comercial Resíduos Acidentes/Fonte Desconhecida 78,5% Fonte: CETESB (2010f), elaborado por SMA/CPLA (2010) Segundo CETESB (2010f ), os principais grupos de contaminantes encontrados nas áreas contaminadas foram: solventes aromáticos, combustíveis líquidos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH), metais e solventes halogenados. Com objetivo de facilitar o gerenciamento das áreas contaminadas, em função do nível das informações ou dos riscos existentes em cada uma, a CETESB classifica as mesmas em quatro classes, que são: 1) área contaminada sob investigação (AI): área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria onde há comprovadamente contaminação, constatada em investigação confirmatória, na qual estão sendo reali- zados procedimentos para determinar a extensão da contaminação e identificar a existência de possíveis receptores, bem como para verificar se há risco à saúde humana. Caso seja constatada a presença de pro- dutos contaminantes (por exemplo, combustível em fase livre), ou quando houver constatação da presen- ça de substâncias, condições ou situações que, de acordo com parâmetros específicos, possam representar perigo, a área também será classificada como AI. 2) área contaminada (AC): área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, anteriormente classifi- cada como área contaminada sob investigação (AI), na qual, após a realização de avaliação de risco, foram observadas quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana. A critério da CETESB, uma área poderá ser considerada contaminada (AC), sem a obrigatoriedade de realização de avaliação de risco à saúde humana, quando existir um bem de relevante interesse ambiental a ser protegido. 3) área em processo de monitoramento para reabilitação (AMR): área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, anteriormente classificada como área contaminada (AC) ou contaminada sob investiga- ção (AI), na qual foram implantadas medidas de intervenção e atingidas as metas de remediação defini- das para a área, ou na qual os resultados da avaliação de risco indicaram que não existe a necessidade da implantação de nenhum tipo de intervenção para que a área seja considerada apta para o uso declarado, estando em curso o monitoramento para encerramento. 4) área reabilitada para o uso declarado (AR): área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, an- teriormente classificada como área em processo de monitoramento para reabilitação (AMR) que, após a realização do monitoramento para encerramento, for considerada apta para o uso declarado. 127
- 147. A Figura 3.34 apresenta a evolução da qualidade do solo relacionada a reabilitação das áreas contaminadas em 2008 e 2009. Observa-se um grande aumento na quantidade de áreas comprovadamente contaminadas. FiGura 3. 34 núMero de áreas contaMinadas cadastradas no estado de são Paulo Por status de reabilitação eM 2008 e 2009 2008 2009 3.500 3.000 2.904 2.514 2.500 2.000 1.398 1.396 1.500 1.000 934 819 579 500 95 87 110 0 AI AC AMR AR Total Fonte: CETESB (2010f), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: AI: área contaminada sob investigação; AC: área contaminada; AMR: área em processo de monitoramento para reabilitação; AR: área reabilitada para uso declarado. De acordo com a CETESB (2010f ), em novembro de 2009, existiam 110 áreas reabilitadas e 819 em processo de monitoramento para reabilitação, perfazendo 4% e 28%, respectivamente, do total de 2.904 áreas registradas, conforme pode ser observado na Figura 3.35. FiGura 3. 35 distribuição das áreas contaMinadas Por status de reabilitação eM 2009 3,8% 19,9% Contaminada sob inves gação 28,2% Contaminada Em processo de monitoramento para reabilitação Reabilitada 48,1% Fonte: CETESB (2010f), elaborado por SMA/CPLA (2010) 128
- 148. A Tabela 3.34 apresenta o índice de reabilitação e a distribuição das áreas contaminadas por UGRHI. O índice de reabilitação de áreas contaminadas é a soma das áreas em processo de monitoramento para reabilitação (AMR) e das reabilitadas (AR), sobre o total de áreas contaminadas cadastradas. Podemos observar um índice de reabilitação de áreas contaminadas de 32% para o Estado de São Paulo em 2009. Se compararmos com o valor obtido em 2008 (7,2%), verifica-se uma significativa melhora do indicador. tabela 3. 34 índice de reabilitação e classiFicação das áreas contaMinadas Por uGrHi eM 2009 classificação índice de uGrHi ai ac aMr ar total reabilitação (%) 01 – Mantiqueira 1 3 4 0 8 50,0 02 – Paraíba do sul 37 73 44 5 159 30,8 03 – litoral norte 6 35 10 1 52 21,2 04 – Pardo 16 13 10 6 45 35,6 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 144 162 120 9 435 29,7 06 – alto tietê 194 676 403 62 1.335 34,8 07– baixada santista 21 121 39 5 186 23,7 08 – sapucaí/Grande 10 4 13 0 27 48,1 09 – Mogi-Guaçu 8 32 18 0 58 31,0 10 – sorocaba/Médio tietê 34 42 28 10 114 33,3 11 – ribeira de iguape/litoral sul 12 10 10 1 33 33,3 12 – baixo Pardo/Grande 8 19 18 0 45 40,0 13 – tietê/Jacaré 8 42 19 2 71 29,6 14 – alto Paranapanema 31 28 10 1 70 15,7 15 – turvo/Grande 11 72 36 4 123 32,5 16 – tietê/batalha 5 23 9 0 37 24,3 17 – Médio Paranapanema 3 8 9 2 22 50,0 18 – são José dos dourados 4 6 8 0 18 44,4 19 – baixo tietê 8 7 6 0 21 28,6 20 – aguapeí 5 5 2 0 12 16,7 21 – Peixe 9 6 2 1 18 16,7 22 – Pontal do Paranapanema 4 9 1 1 15 13,3 estado de são Paulo 579 1.396 819 110 2.904 32,0 Fonte: CETESB (2010f), elaborado por SMA/CPLA (2010) Notas: AI: área contaminada sob investigação; AC: área contaminada; AMR: área em processo de monitoramento para reabilitação; AR: área reabilitada para o uso declarado; Índice de Reabilitação = (AMR + AR) /total de áreas) *100 Destaca-se ainda que a CETESB vêm disponibilizando importantes publicações sobre esse tema, como o “Ma- nual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas”, o “ Procedimento para Identificação de Passivos Ambientais em Postos de Combustíveis”, entre outros. Em 2009, o Governo do Estado de São Paulo sancionou a Lei 13.577, que dispõe sobre as diretrizes e procedi- mentos para o gerenciamento de áreas contaminadas no Estado. Essa lei estabelece a obrigatoriedade de atualização continua do cadastro de áreas contaminadas e reabilitadas, determina as condições para a aplicação dos procedi- mentos para o gerenciamento de áreas contaminadas, enfatizando as ações relativas ao processo de identificação e remediação, a seleção das áreas mais importantes, a criação de instrumentos econômicos para financiar a investiga- ção e remediação, além de apoiar as futuras iniciativas para a revitalização de regiões industriais abandonadas. 129
- 149. Destaca-se também a Resolução CONAMA nº 420/09 que estabelece valores orientadores de qualidade de so- los quanto à presença de substâncias químicas e critérios para o gerenciamento de áreas contaminadas (primeira regulamentação federal específica sobre gerenciamento de áreas contaminadas). 3.4.2 desastres naturais Não há um registro sistemático das ocorrências de desastres no Estado de São Paulo que retratem a extensão dos problemas e suas consequências, o que auxiliaria na eficaz gestão deste tipo de situação. No entanto, o indi- cador do número de acidentes ocorridos, estabelecido por Brollo & Ferreira (2009) permite uma visão ampla dos desastres no Estado de São Paulo. Este indicador foi definido por meio do tratamento de dados do cadastro de vistorias e atendimentos produzido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC). Assim, para o perí- odo de 2000 a 2010, tem-se registros de vistorias e atendimentos emergenciais relacionados a acidentes diversos, incluindo escorregamentos, erosão, inundação e processos similares (como enchentes, transbordamentos de rios, alagamentos), dentre outros diversos (raios, chuvas fortes, vendavais, desabamentos de casas, etc.). A Tabela 3.35 sintetiza os dados referentes ao ano de 2010, com destaque para o número de atendimentos realiza- dos, tipo de acidentes e tipo de dano causado, em termos de óbitos e pessoas afetadas (desabrigados e desalojados). tabela 3. 35 distribuição dos acidentes relacionados a desastres naturais Por tiPo e conseQuência e Por uGrHi eM 2010 tiPo de acidente tiPo de dano uGrHi a F b c d e G H i J 01 – Mantiqueira 2 2 0 0 0 2 0 0 50 50 02 – Paraíba do sul 25 11 16 0 7 34 12 667 2.221 2.888 03 – litoral norte 7 4 3 1 4 12 1 38 513 551 04 – Pardo 2 0 1 0 1 2 0 4 263 267 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 22 9 14 0 7 30 2 891 1.205 2.096 06 – alto tietê 88 32 60 0 43 135 23 1.188 1.988 3.176 07– baixada santista 14 6 10 0 6 22 0 588 1.442 2.030 08 – sapucaí/Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 – Mogi-Guaçu 4 1 3 0 2 6 0 0 0 0 10 – sorocaba/Médio tietê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 – ribeira de iguape/litoral sul 24 9 16 0 6 31 0 1.197 424 1.621 12 – baixo Pardo/Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 – tietê/Jacaré 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14 – alto Paranapanema 3 0 3 0 1 4 0 256 321 577 15 – turvo/Grande 2 0 1 1 0 2 4 0 0 0 16 – tietê/batalha 2 0 2 0 1 3 0 0 120 120 17 – Médio Paranapanema 1 0 0 0 1 1 0 72 0 72 18 – são José dos dourados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 – baixo tietê 1 0 1 0 0 1 0 0 4 4 20 – aguapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 – Peixe 4 0 0 0 0 0 0 95 7 102 22 – Pontal do Paranapanema 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 estado de são Paulo 204 74 133 2 79 288 42 4.996 8.558 13.554 Fonte: CEDEC (2010) Notas: A: número de atendimentos; B: escorregamento, erosão; C: enchente, inundação, transbordamento, alagamento; D: raios; E: outros (chuvas fortes, vendavais, desabamentos de casas e muros, quedas de árvores e muros, situação de emergência, mortes, remoções, etc); F: nº total de acidentes; G: óbitos; H: desabrigados; I: desalojados; J: pessoas afetadas (desabrigados + desalojados). 130
- 150. A leitura dos dados deve levar em conta as seguintes definições e ressalvas: • O número de atendimentos realizados em geral é diferente do número total de acidentes, uma vez que numa mesma situação podem ocorrer diversos tipos de acidentes; • Desabrigados são as pessoas que perderam permanentemente suas moradias; • Desalojados são as pessoas que tiveram que deixar suas moradias provisoriamente, até a situação proble- mática se normalizar; • O cadastramento do tipo de acidente, por parte da CEDEC nem sempre segue terminologia padroniza- da. Por exemplo: o termo “escorregamento” aqui empregado é resultante de vários termos utilizados no cadastro, tais como queda de barreira, desabamento de barranco, deslizamento, solapamento, erosão; já “enchente, inundação, transbordamento, alagamento”, embora sejam termos diferentes e tenham gravi- dade diferente, são utilizados de forma geral, por vezes não retratando a realidade do problema; “outros” inclui diversos tipos de acidentes, cadastrados como chuvas fortes, vendavais, desabamentos de casas e muros, ou mesmo casos em que é cadastrada apenas a consequência do acidente, como quedas de árvores e muros, situação de emergência, mortes, remoções, etc; • O registro dos acidentes perfaz apenas quatro meses do ano, os meses de verão (dezembro a março), reconhecidamente com maiores índices pluviométricos no ano e quando é implantada a “Operação Ve- rão” pela CEDEC (SANTORO, 2009). Embora o cadastro de acidentes não registre as ocorrências nos outros oito meses, não significa que eles não aconteçam. Apesar das ressalvas colocadas tem-se um cenário para o Estado e suas UGRHI. Em 2010, ocorreram 204 atendimentos, com o registro de 288 acidentes, dos quais 133 se relacionam a “inundações e similares”, seguidos por 79 registros de “outros”, 74 casos de “escorregamentos” e 2 acidentes por raios. Destacam-se quatro grupos de regiões quanto ao número de acidentes: a) UGRHI 06 (Alto Tietê), com 135 registros; b) UGRHI 02 (Paraíba do Sul), UGRHI 11 (Ribeira de Iguape/Litoral Sul) e UGRHI 05 (PCJ), respectivamente com 34, 31 e 30 re- gistros; c) UGRHI 07 (Baixada Santista) e UGRHI 03 (Litoral Norte), respectivamente com 22 e 12 registros; e d) demais UGHRI, com registros entre 0 e 6. Também é importante conhecer o tipo de dano às pessoas causado pelos acidentes. Em 2010, houve 42 mortes, a maior concentração delas na UGRHI 06 – Alto Tietê e na UGRHI 02 – Paraíba do Sul, respectivamente, com 23 e 12 óbitos; 13.554 pessoas foram afetadas (desabrigadas ou desalojadas), grande parte das quais estão dis- tribuídas por cinco UGRHI: Alto Tietê (3.176 pessoas), Paraíba do Sul (2.888 pessoas), PCJ (2.096 pessoas), Baixada Santista (2.030 pessoas) e Ribeira de Iguape/Litoral Sul (1.921 pessoas). A Tabela 3.36 e as Figuras 3.36 a 3.39 mostram a evolução destes números para o período 2000 a 2010 no Estado. 131
- 151. 132 tabela 3. 36 distribuição dos acidentes e conseQuências relacionados a desastres naturais Por uGrHi de 2000 a 2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 uGrHi óbitos óbitos óbitos óbitos óbitos óbitos óbitos óbitos óbitos óbitos óbitos total acidentes total acidentes total acidentes total acidentes total acidentes total acidentes total acidentes total acidentes total acidentes total acidentes total acidentes pessoas afetadas pessoas afetadas pessoas afetadas pessoas afetadas pessoas afetadas pessoas afetadas pessoas afetadas pessoas afetadas pessoas afetadas pessoas afetadas pessoas afetadas 01 – Mantiqueira 3 0 0 0 0 0 3 0 30 5 0 0 8 0 30 4 0 1 5 3 16 1 0 37 1 0 5 12 1 454 2 0 50 02 – Paraíba do Sul 8 0 0 15 5 21 26 2 89 14 0 10 24 0 40 36 4 181 51 0 1.259 9 1 59 27 3 2.293 100 3 10.003 34 12 2.888 03 – Litoral Norte 2 0 0 1 1 0 2 0 61 5 1 40 7 0 0 11 0 553 7 0 72 2 0 0 1 1 0 9 2 213 12 1 551 04 – Pardo 1 0 0 0 0 0 9 1 19 7 2 0 13 0 91 12 0 15 4 0 60 12 1 1.042 15 0 951 12 1 10 2 0 267 05 – PCJ 1 0 0 10 9 40 12 0 119 42 10 782 11 0 140 32 4 5.227 47 5 1.636 11 3 472 24 3 175 53 7 9.982 30 2 2.096 06 – Alto Tietê 15 1 0 52 12 73 95 9 408 82 11 671 80 2 508 72 21 2.222 92 8 2.006 31 4 555 48 9 730 89 22 8.300 135 23 3.176 07 – Baixada Santista 11 0 0 1 1 0 4 0 82 9 1 10 19 0 432 18 1 128 16 4 38 5 4 287 6 3 1.391 15 2 6.527 22 0 2.030 08 – Sapucaí/Grande 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 20 3 0 0 2 0 0 7 1 186 3 2 0 7 1 17 0 0 0 09 – Mogi-Guaçu 1 0 0 1 0 0 5 0 39 6 0 520 12 12 35 4 0 15 5 1 16 9 2 27 2 1 6 6 0 69 6 0 0 10 – Sorocaba/Médio 0 0 0 1 0 62 7 0 10 11 1 20 12 0 234 7 0 4 13 2 152 6 0 312 5 1 0 14 1 42 0 0 0 Tietê 11 – Ribeira de Iguape/ 0 0 0 11 1 77 15 0 420 48 3 1.463 30 2 1.984 28 0 3.612 6 0 209 4 1 159 11 2 10.403 19 2 4.773 31 0 1.621 Litoral Sul 12 – Baixo Pardo/Grande 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 4 2 521 3 0 175 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 – Tietê/Jacaré 0 0 0 2 3 0 6 1 52 9 0 65 13 1 0 12 0 96 9 1 26 11 2 20 3 1 0 6 0 213 1 0 0 14 – Alto Paranapanema 0 0 0 2 0 17 2 0 0 5 0 8 28 5 1.210 3 0 96 2 0 112 3 0 3 0 0 0 4 3 15 4 0 577 15 – Turvo/Grande 0 0 0 0 0 0 6 0 49 12 0 0 12 0 13 5 1 4 5 0 71 6 1 150 26 0 0 7 3 2 2 4 0 16 – Tietê/Batalha 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 7 0 15 3 0 0 9 0 181 4 0 40 7 1 52 3 0 120 17 – Médio 0 0 0 2 0 0 1 0 66 7 0 0 2 0 0 4 0 631 7 0 68 3 0 652 1 0 20 4 0 90 1 0 72 Paranapanema 18 – São José dos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 112 6 2 67 1 0 15 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Dourados 19 – Baixo Tietê 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 0 51 5 1 0 9 10 29 2 0 30 6 0 113 2 4 0 1 0 200 1 0 4 20 – Aguapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 47 0 0 0 3 0 501 0 0 0 21 – Peixe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 10 3 0 0 5 0 15 5 0 14 2 0 9 4 0 5 13 0 135 0 0 102 22 – Pontal do 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 75 2 0 0 6 0 208 2 0 11 5 1 80 0 0 0 7 0 60 2 0 0 Paranapanema estado de 42 1 0 99 32 290 204 17 1.444 311 30 3.725 294 24 4.737 283 41 13.164 294 28 6.387 147 21 4.581 187 31 16.019 389 49 41.658 288 42 13.554 são Paulo Fonte: CEDEC (2010)
- 152. FiGura 3. 36 atendiMentos de Planos Preventivos de deFesa civil relacionados a escorreGaMentos de 2000 a 2010 Fonte: Instituto Geológico (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 37 atendiMentos de Planos Preventivos de deFesa civil relacionados a inundações de 2000 a 2010 Fonte: Instituto Geológico (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) 133
- 153. FiGura 3. 38 atendiMentos de Planos Preventivos de deFesa civil e núMeros de Pessoas aFetadas de 2000 a 2010 Fonte: Instituto Geológico (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 39 atendiMentos de Planos Preventivos de deFesa civil e núMeros de óbitos de 2000 a 2010 Fonte: Instituto Geológico (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) 134
- 155. tabela 3. 37 núMero de MunicíPios coM alGuM instruMentos de Gestão de riscos Por uGrHi eM 2010 uGrHi PPdc MaP PMrr tiG % tiG 01 – Mantiqueira 2 2 1 2 67 02 – Paraíba do sul 14 16 1 16 47 03 – litoral norte 4 4 1 4 100 04 – Pardo 0 1 0 1 4 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 19 11 1 19 33 06 – alto tietê 8 18 5 22 65 07– baixada santista 4 7 2 7 78 08 – sapucaí/Grande 0 0 0 0 0 09 – Mogi-Guaçu 5 7 0 9 24 10 – sorocaba/Médio tietê 9 9 0 9 27 11 – ribeira de iguape/litoral sul 1 4 0 4 17 12 – baixo Pardo/Grande 0 1 0 1 8 13 – tietê/Jacaré 0 1 0 1 3 14 – alto Paranapanema 2 1 0 2 6 15 – turvo/Grande 0 3 0 3 5 16 – tietê/batalha 0 1 0 1 3 17 – Médio Paranapanema 0 0 0 0 0 18 – são José dos dourados 0 0 0 0 0 19 – baixo tietê 0 0 0 0 0 20 – aguapeí 0 0 0 0 0 21 – Peixe 0 0 0 0 0 22 – Pontal do Paranapanema 0 0 0 0 0 estado de são Paulo 68 86 11 101 23 Fonte: CEDEC (2010) Nota: PPDC: número de municípios com Planos Preventivos de Defesa Civil a Escorregamentos; MAP: número de municípios com Mapeamento de Áreas de Risco; PMRR: número de municípios com Planos Municipais de Redução de Risco; TIG: total de municípios com algum instrumento de gestão (Planos Preventivos de Defesa Civil a Escorregamentos e/ou Mapeamento de Áreas de Risco e/ou Planos Municipais de Redução de Risco); % TIG: porcentagem de municípios na UGRHI com algum instrumento de gestão. 136
- 156. FiGura 3. 40 área de abranGência dos Planos Preventivos de deFesa civil ou Planos de continGência Fonte: Instituto Geológico (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 41 MunicíPios coM MaPeaMento de áreas de risco no estado de são Paulo até 2010 Fonte: Instituto Geológico (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) 137
- 157. 3.4.3 Mineração O Estado de São Paulo se destaca como um dos maiores produtores de recursos minerais não-metálicos, com uma produção voltada predominantemente para o consumo interno. Em sua produção se destacam a extração de areias, argilas, pedras britadas, rochas carbonáticas, caulim, rochas fosfáticas e água mineral. A mineração paulis- ta é constituída eminentemente por empresas pequenas e médias, que estão presentes em muitos dos municípios paulistas, dirigidas principalmente à produção de agregados (areia e brita) e de argilas. Os recursos minerais são bens pertencentes à União e representam propriedade distinta do domínio do solo onde estão contidos, sendo classificados como recursos naturais não renováveis. O arcabouço legal que rege as atividades de mineração, concede à União, os poderes de outorga de direitos e sua fiscalização; aos Estados, os poderes de licenciamento ambiental das atividades e sua fiscalização; e aos municípios, dispor sobre os instru- mentos de planejamento e gestão com relação ao uso e ocupação do solo, onde se inserem o aproveitamento racional de seus recursos minerais. Os regimes de exploração e aproveitamento dos recursos minerais no País estão definidos e normatizados no Código de Mineração de 1967 (Decreto-Lei nº 227/67), seu regulamento e legislação correlativa, continuam em vigor com as alterações e as inovações introduzidas por leis supervenientes à promulgação da atual Constituição e suas emendas. O processo de outorga do licenciamento ambiental da atividade de mineração é de competência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que prevê em casos especiais, assentimento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A Tabela 3.38 e Figura 3.42 apresentam os dados, obtidos junto ao Departamento Nacional de Produção Mine- ral (DNPM), sobre a evolução dos títulos minerários no Estado de São Paulo e no Brasil entre 2002 e 2010, e indicam a posição destacada do Estado no ranking brasileiro quanto ao número de portarias de lavras publicadas no período, com exceção do ano de 2010, em que apresentou apenas 5 portarias publicadas, contribuindo para que o Estado ficasse na 10° colocação. No entanto, observa-se que para o país como um todo ocorreu diminuição das portarias publicadas. tabela 3. 38 núMero de Portarias de lavras Publicadas no estado de são Paulo e no brasil de 2002 a 2010 unidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 são Paulo 109 70 80 91 130 73 46 50 5 brasil 220 303 335 389 437 324 268 404 170 sP/br (%) 49,55 23,10 23,88 23,40 29,70 22,50 17,20 12,40 2,90 ranking 1°º 2° 2° 1° 1° 1° 1° 3° 10° Fonte: DNPM (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) 138
- 158. FiGura 3. 42 evolução do núMero de Portarias de lavras Publicadas no estado de são Paulo e no brasil de 2002 a 2010 São Paulo Brasil 500 450 437 400 404 389 350 335 324 300 303 268 250 220 200 170 150 130 109 100 91 73 46 50 50 70 80 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: DNPM (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) A mineração é uma atividade industrial importante e necessária, embora inerentemente modificadora do meio ambiente ao explorar seus recursos naturais e frequentemente associada às questões sociais, tais como conflitos pelo uso do solo e geração de áreas degradadas. Não existe, ainda, um registro histórico e sistemático dos impactos resultantes da atividade de mineração no Estado de São Paulo que permita sua perfeita caracterização e identificação, seja por meio de sua localização e abrangência, tipo e grau de intensidade, ou mesmo pelo monitoramento das medidas mitigadoras e de recupera- ção ambiental implantadas. De forma indireta, é possível estabelecer um indicador de conflito potencial associa- do à produção mineral, por meio de um instrumento econômico, a Compensação Financeira por Exploração dos Recursos Minerais (CFEM). Através da CFEM pode ser feita uma leitura indireta da vulnerabilidade natural do meio ambiente decorrente da atividade de mineração. A CFEM, instituída pela Lei Federal nº 7.990/89, constitui a participação dos Estados, Distrito Federal, Muni- cípios e órgãos da administração direta da União no resultado da exploração de recursos minerais pelos agentes de produção (empresas). Sua base de cálculo é o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação indus- trial. O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem a responsabilidade de estabelecer normas e exercer a fiscalização sobre a arrecadação da CFEM. A Tabela 3.39 e as Figuras 3.43 e 3.44 apresentam os dados sobre a evolução do recolhimento da CFEM no Brasil e em São Paulo entre 2004 e 2010. Observa-se que o Estado de São Paulo vem apresentando uma tendência de aumento na arrecadação da CFEM. 139
- 159. tabela 3. 39 cFeM (eM r$ 1000) do estado de são Paulo e do brasil de 2004 a 2010 unidade 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 são Paulo 8.588 9.293 12.471 15.422 22.474 27.701 37.684 brasil 295.270 405.538 465.128 547.208 857.819 742.067 1.083.142 sP/br (%) 2,91 2,29 2,68 2,82 2,62 3,73 3,48 Fonte: DNPM (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 43 evolução da cFeM no brasil de 2004 a 2010 1.200.000 1.083.142 1.100.000 1.000.000 857.819 900.000 800.000 CFEM (R$ 1000) 700.000 742.067 600.000 500.000 547.208 400.000 465.128 295.270 405.538 300.000 200.000 100.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: DNPM (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 44 evolução da cFeM no estado de são Paulo de 2004 a 2010 40.000 37.684 35.000 30.000 27.638 CFEM (R$ 1000) 25.000 22.474 20.000 15.000 15.422 12.471 10.000 9.293 8.588 5.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: DNPM (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) 140
- 160. A Tabela 3.40 apresenta a evolução da arrecadação da CFEM distribuída por UGRHI no período de 2004 a 2010. Observa-se que, em 2009, a UGRHI com maior arrecadação foi a UGRHI 06 (Alto Tietê), seguida pelas UGRHI 10 (Sorocaba/Médio Tietê), 05 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí), 02 (Paraíba do Sul) e 09 (Mogi- Guaçu). Estas são responsáveis pelas maiores produções de agregados (brita e areia) e de argila, insumos fun- damentais para a indústria da construção civil, além de responderem por produções significativas de rochas carbonáticas, caulim, e areia para vidro e fundição. Em 2010 observa-se que o quadro permanece praticamente inalterado, com destaque para o crescimento na arrecadação da UGRHI 11 (Ribeira de Iguape/Litoral Sul), que saltou de um valor de R$ 677.731,13 em 2009, para R$ 3.022.535,01 em 2010, pois passou a considerar em seus cálculos a produção de apatita e carbonatito (fosfatos), calcita e ferro, que é praticada no município de Cajati desde a metade do século passado. 141
- 161. 142 tabela 3. 40 cFeM (eM r$) do estado de são Paulo Por uGrHi de 2004 a 2010 uGrHi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 01 – Mantiqueira 1.058,47 600,00 56,18 0,00 0,00 13.316,10 2.442,11 02 – Paraíba do sul 882.836,95 877.327,61 1.343.410,90 1.787.862,26 2.993.839,06 3.151.951,24 4.043.503,92 03 – litoral norte 98.398,21 73.980,44 105.785,47 64.939,45 120.871,80 83.655,12 80.197,88 04 – Pardo 248.569,31 275.911,08 446.842,85 409.729,52 553.670,98 531.280,11 742.276,57 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 1.319.496,05 1.504.940,35 2.102.124,11 2.905.211,78 4.104.552,63 4.404.703,95 5.650.824,17 06 – alto tietê 1.534.296,50 1.528.295,25 2.367.523,38 3.016.937,35 4.915.832,66 7.539.814,88 9.775.814,60 07– baixada santista 266.730,79 296.994,01 453.094,48 402.343,16 719.493,94 956.352,37 1.432.519,86 08 – sapucaí/Grande 36.877,92 43.587,28 83.646,33 117.130,10 175.988,36 176.318,10 244.924,83 09 – Mogi-Guaçu 974.497,07 1.122.086,95 1.125.160,74 1.201.934,39 1.678.985,84 1.559.713,58 2.252.790,85 10 – sorocaba/Médio tietê 1.791.893,81 1.846.376,51 2.307.354,05 2.859.222,82 3.605.252,83 4.469.741,06 5.306.546,76 11 – ribeira de iguape/litoral sul 210.001,12 264.772,36 323.914,57 355.126,33 595.166,48 677.731,13 3.022.535,01 12 – baixo Pardo/Grande 36.857,85 55.958,31 77.424,31 138.096,62 207.556,77 149.195,88 131.209,29 13 – tietê/Jacaré 298.647,07 431.119,57 669.191,84 247.083,16 937.507,19 1.390.023,72 1.372.763,79 14 – alto Paranapanema 436.848,31 526.471,52 555.970,45 584.259,38 769.632,41 868.891,98 1.366.226,14 15 – turvo/Grande 20.430,81 22.190,63 33.044,66 8.420,59 58.989,42 64.332,37 114.495,72 16 – tietê/batalha 63.243,57 60.747,04 64.979,31 32.803,38 158.871,82 135.681,92 388.893,15 17 – Médio Paranapanema 142.884,32 130.744,28 140.873,20 121.799,17 340.052,33 877.885,80 998.943,20 18 – são José dos dourados 16.120,20 15.138,17 14.592,37 18.726,33 37.881,84 64.206,50 65.908,71 19 – baixo tietê 98.818,24 114.431,90 148.480,96 146.889,03 287.957,52 254.032,52 358.566,38 20 – aguapeí 32.551,82 22.572,23 33.284,88 28.008,45 43.395,11 39.404,37 74.605,24 21 – Peixe 17.832,21 12.581,53 16.353,78 17.651,23 26.285,46 31.358,03 41.731,70 22 – Pontal do Paranapanema 58.248,13 66.405,53 57.666,68 51.087,39 116.943,90 189.604,68 216.164,20 Fonte: DNPM (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010)
- 162. Desta forma, a CFEM pode ser utilizada de forma indireta como um indicador de conflito potencial para essas regiões com maiores valores de contribuição de arrecadação devido à produção mineral. Ao apresentarem uma atividade de mineração mais intensa, que por sua vez tem uma característica inerentemente modificadora do meio físico, podem estar intervindo de forma negativa na qualidade ambiental. Neste relatório de 2010 permanece a recomendação já apresentada em 2009, de que com base nestes dados o Estado poderia iniciar a elaboração de indicadores adequados para a avaliação e monitoramento da atividade de mineração, em especial daqueles relativos à recuperação de áreas degradadas, tanto de natureza qualitativa quanto quantitativa, fundamentais para os órgãos de licenciamento e fiscalização. Por fim, ressalta-se que os recursos da CFEM são distribuídos entre os municípios produtores (65%), os Es- tados (23%) e a União (12%). Essas receitas devem, obrigatoriamente, serem aplicadas em projetos que, direta ou indiretamente, tragam benefícios a comunidade local, na forma de melhoria da infra-estrutura, da qualidade ambiental, da saúde e educação. Assim, a CFEM, além de constituir um indicador do valor da produção mineral em cada um dos municípios mineradores, também pode ser utilizada como um indicador de impacto social da mineração, quando da avaliação de sua aplicação. referências BROLLO, M.J.; FERREIRA, C.J. Indicadores de desastres naturais no Estado de São Paulo. In: Simpósio de Geologia do Sudeste, XI, Águas de São Pedro, SP, 14 a 17/10/2009, Sociedade Brasileira de Geologia. Anais. 2009. BROLLO,M.J.; PRESSINOTTI, M.M.N.; MARCHIORI-FARIA, D.G. Políticas Públicas em Desastres Naturais no Brasil. In: BROLLO, M.J. (Org). O Instituto Geológico na Prevenção de Desastres Naturais. São Paulo: Instituto Geológico, 2009. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Manual de gerenciamento de áreas contaminadas. 2001. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br>. Acesso em: dez. 2010. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Relação de áreas contaminadas – Novembro de 2009. 2010f. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br>. Acesso em: dez. 2010. COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – CEDEC. Dados fornecidos. São Paulo, 2010. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM. Relatório de Arrecadação da CFEM. 2010. Disponível em <http://www.dnpm.gov.br>. Acesso em: jan. 2011. DREW, L.J.; LANGER, W.H.; SACHS, J.S. Environmentalism and Natural Aggregate Mining. Natural Resources Research, 2002. INSTITUTO GEOLÓGICO – IG. Proposta de Programa Estadual de Gestão de Desastres Naturais e de Redução de Riscos Ge- ológicos. Não publicado. São Paulo, 2010. ROSS, J.L.S. Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. Revista do Departamento de Geografia, FFLCH/USP, 1992. SANTORO, J. A Atuação do Instituto Geológico em Gerenciamento de Desastres Naturais. In: BROLLO, M.J. (Org). O Instituto Geológico na Prevenção de Desastres Naturais. São Paulo: Instituto Geológico, 2009. 143
- 163. 3.5 biodiversidade O Brasil é reconhecidamente o país com a maior diversidade biológica, abrigando entre 15 e 20% do número total de espécies do planeta. Parte dessa riqueza tem sido perdida de forma irreversível (IBGE, 2008). No Estado de São Paulo, a cobertura florestal original, que no passado cobria cerca de 80% do território, esten- de-se hoje por apenas 17,5% deste. Fatores como especulação imobiliária, expansão da fronteira agropecuária, extrativismo ilegal e contaminação do solo, das águas e da atmosfera, vieram a reduzir a cobertura vegetal do Es- tado a fragmentos, muitas vezes de dimensões não significativas e a distâncias não suficientes para manutenção de fluxo gênico, das funções ecológicas e da conservação da biodiversidade. A extensão ocupada pelo bioma Cerrado, a qual correspondia a 14% da superfície do Estado, responde hoje por apenas cerca de 1%. Tal redução compromete severamente a sustentabilidade futura do bioma mencionado. Da Mata Atlântica resta uma área de aproximadamente 12% da cobertura original. Somente na fachada da Serra do Mar e no Vale do Ribeira, áreas onde o relevo garantiu relativa proteção, há remanescentes significativos do bioma (RODRIGUES e BONONI, 2008). Esses fatores favorecem a extinção de espécies (perda de biodiversidade), especialmente daquelas associadas a florestas maduras, as quais necessitam de grandes áreas conservadas e condições específicas para sobreviver. A área de cobertura vegetal total, a área de mata ciliar cadastrada, a área de vegetação autorizada para supressão e de reserva legal averbada, e o número de espécies ameaçadas de extinção, são importantes in- dicadores para o monitoramento e avaliação do estado de conservação da biodiversidade no Estado de São Paulo. No mesmo sentido, informações referentes à gestão de Unidades de Conservação também são de grande importância. 3.5.1 cobertura vegetal total A cobertura vegetal nativa é a principal responsável pelo equilíbrio e manutenção de processos ecológicos essen- ciais dos ecossistemas, sendo um importante componente da biodiversidade e também responsável pela conser- vação desta. No caso do Estado de São Paulo, a vegetação natural sofreu intensa exploração no decorrer de diversos ciclos econômicos e inúmeras pressões das atividades antrópicas, tendo suas áreas diminuídas a fragmentos remanes- centes, dispostos de maneira heterogênea, e a distâncias não suficientes para manutenção de fluxo gênico, das funções ecológicas e da conservação da biodiversidade. As pressões mais relevantes sobre as florestas se desdobram, de maneira geral, em extração de recursos naturais e ocupação econômica das terras cobertas por vegetação. De modo específico, os principais fatores geradores de pressão so re as florestas remanescentes, são, na atualidade do Estado de São Paulo, a atividade agrossilvopasto- b ril e, mais recentemente, as áreas urbanas (IPARDES, 2007). Sendo sensível às pressões antrópicas, a cobertura vegetal representa um importante indicador ambiental, à me- dida que reflete a dinâmica das atividades humanas e seus efeitos sobre seu status de conservação. Desta maneira, apresenta-se a seguir dados atuais da cobertura vegetal nativa do Estado de São Pau- lo, levantados pelo Instituto Florestal, para elaboração do Inventário Florestal do Estado de São Paulo 2008/2009 (IF, 2010). Foram consideradas as seguintes fitofisionomias florestais: 144
- 164. Floresta Ombrófila Densa É uma formação com vegetação característica de regiões tropicais com temperaturas elevadas (média 25ºC) e com alta precipitação pluviométrica bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), sem período biologi- camente seco. Esta legenda abrangeu, na sua região de ocorrência, duas categorias de fitofisionomias anteriores, de caráter regional: mata e capoeira. Desta forma a “mata” passou a ser Floresta Ombrófila Densa, dividida nas seguintes categorias, em função de gradientes altitudinais: Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas: 0 a 50 metros; Floresta Ombrófila Densa Submontana: 50 a 500 metros; Floresta Ombrófila Densa Montana: 500 a 1500 metros, e; Floresta Ombrófila Densa AltoMontana: maior que 1500 metros. Floresta Ombrófila Mista Conhecida como “mata de araucária ou pinheiral”, é encontrada em regiões da Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar, sendo dividida nas seguintes categorias em função de gradientes altitudinais, com suas respectivas vegetações secundárias: Floresta Ombrófila Mista Montana: até 1200 metros, e; Floresta Ombrófila Mista AltoMontana: maior que 1200 metros. Floresta Estacional Semidecidual Este tipo de vegetação se caracteriza pela dupla estacionalidade climática: uma tropical com período de intensas chuvas de verão, seguidas por estiagens acentuadas; outra subtropical sem período seco, e com seca fisiológica provocada pelo inverno, com temperaturas médias inferiores a 15ºC. Savana (Cerrado) Esta legenda corresponde ao chamado cerrado. Segundo o Inventário Florestal 2005 (Kronka et al, 2005), pode ser definido como uma formação cuja fisionomia caracterizase por apresentar indivíduos de porte atrofiado, de troncos retorcidos, cobertos por casca espessa e fendilhada, de esgalhamento baixo e copas assimétricas, folhas na maioria grandes e grossas, algumas coriáceas, de caules e ramos encortiçados, com ausência de acúleos e espinhos, bem como de epífitas e lianas. Apresenta três estratos: estrato superior, constituído por árvores esparsas de pequeno porte (4 a 6 metros de altura); estrato intermediário (arbustos de 1 a 3 metros de altura) e estrato inferior, constituído por gramíneas e subarbustos (até 50 cm de altura), pouco denso, deixando espaços onde o solo pode apresentar pouco ou nenhum revestimento. Formações Arbórea/Arbustiva-Herbácea de Terrenos Marinhos Lodosos Esta legenda abrange na sua região de ocorrência a categoria chamada “mangue”, definida como uma fitofisionomia de ambiente salobro, situada na desembocadura de rios e regatos no mar, onde nos solos limosos cresce uma vegetação especializada e adaptada à salinidade das águas. 145
- 165. Formações Arbórea/Arbustiva-Herbácea sobre Sedimentos Marinhos Recentes Abrange na sua região de ocorrência a categoria chamada “restinga”. Trata-se de vegetação de primeira ocupação (formação pioneira) que ocupa terrenos rejuvenescidos pelas seguidas disposições de areias marinhas nas praias e restingas, com plantas adaptadas aos parâmetros ecológicos do ambiente pioneiro. Formações Arbórea/Arbustiva em Regiões de Várzea Abrange a categoria de vegetação chamada “vegetação de várzea”, uma formação ribeirinha ou ciliar, que ocorre ao longo dos cursos d’água, apresentando um dossel emergente uniforme, estrato dominado e submata. A seguir são apresentados os valores da área remanescente de cada fitofisionomia encontrada no Estado de São Paulo (Tabela 3.41). tabela 3. 41 área de cada cateGoria de veGetação nativa no estado de são Paulo eM 2008/2009 categorias de vegetação/fitofisionomias área (ha) Floresta estacional semidecidual 1.133.015,29 Floresta ombrófila densa 2.506.383,20 Floresta ombrófila Mista 177.953,28 Formação arbórea / arbustiva em região de várzea 293.101,28 Formação arbórea / arbustiva-Herbácea de terrenos Marinhos lodosos (Mangue) 20.622,05 Formação Pioneira arbustiva-Herbácea sobre sedimentos Marinhos recentes (restinga) 2.522,73 savana (cerrado) 218.034,48 Fonte: IF (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: Valores aproximados calculados por Sistema de Informação Geográfica Levando-se em conta os dados mais atuais, nota-se que o percentual de vegetação nativa do Estado de São Paulo, que ao longo do tempo sempre apresentou tendência de queda, apresenta uma leve recuperação. A Tabela 3.42 a seguir demonstra esta variação nos últimos anos, de acordo com dados do Instituto Florestal, apresentando os percentuais de cobertura vegetal total de cada UGRHI e do Estado de São Paulo, referentes ao ano de 2001 (Kronka et al, 2005) e referentes aos anos de 2008/2009 (IF, 2010). 146
- 166. tabela 3. 42 área de veGetação nativa Por uGrHi eM 2005 e 2008/2009 ano uGrHi 2005 2008/2009 variação (ha) área (ha) % área (ha) % 01 – Mantiqueira 22.545 33,3% 32.828 51,1% 10.283 02 – Paraíba do sul 292.879 21,0% 370.237 25,8% 77.358 03 – litoral norte 161.784 81,8% 168.915 88,6% 7.131 04 – Pardo 78.430 8,2% 132.581 15,0% 54.151 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 98.661 7,2% 188.788 12,5% 90.127 06 – alto tietê 181.149 27,25 220.658 39,1% 39.509 07– baixada santista 176.504 74,4% 183.992 63,7% 7.488 08 – sapucaí/Grande 65.945 6,6% 98.648 10,9% 32.703 09 – Mogi-Guaçu 77.062 5,9% 134.810 9,2% 57.748 10 – sorocaba/Médio tietê 181.396 15,0% 158.553 13,2% -22.843 11 – ribeira de iguape/litoral sul 1.143.226 66,2% 1.217.167 72,9% 73.941 12 – baixo Pardo/Grande 42.320 6,0% 43.364 6,2% 1.044 13 – tietê/Jacaré 113.603 7,1% 91.356 8,0% -22.247 14 – alto Paranapanema 297.910 14,4% 416.294 18,4% 118.384 15 – turvo/Grande 66.910 3,9% 117.221 7,4% 50.311 16 – tietê/batalha 75.670 6,1% 256.719 19,3% 181.049 17 – Médio Paranapanema 109.251 6,2% 148.112 8,9% 38.861 18 – são José dos dourados 17.116 2,8% 36.001 5,3% 18.885 19 – baixo tietê 74.548 4,0% 109.535 7,2% 34.987 20 – aguapeí 48.337 5,0% 60.735 4,6% 12.398 21 – Peixe 37.851 4,5% 57.117 4,6% 19.266 22 – Pontal do Paranapanema 94.141 7,0% 100.088 8,5% 5.947 estado de são Paulo 3.457.238 13,94% 4.343.718 17,50% 886.417 Fonte: Kronka et al (2005) e IF (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) É importante ressaltar que estas variações devem-se em grande parte ao fato de o novo levantamento ter uma metodologia diferenciada do levantamento anterior. O Inventário Florestal 2008/2009 foi produzido com ima- gens de satélite de alta resolução, que culminou na descoberta de 184 mil novos fragmentos florestais, represen- tando 445,7 mil hectares de novas pequenas matas que não estavam contabilizadas no mapeamento anterior. Apesar disso, estima-se em 94,9 mil hectares o total de áreas em regeneração, compreendendo em um aumento real da vegetação. A Figura 3.45 mostra o percentual de cobertura vegetal por UGRHI e a Figura 3.46 a distribuição desse percen- tual por município, ambos para o período de 2008/2009. 147
- 167. FiGura 3. 45 Percentual de cobertura veGetal nativa Por uGrHi eM 2008/2009 100,0 % ,6 90,0 88 80,0 % ,9 72 % 70,0 ,7 63 60,0 % ,1 51 50,0 % ,1 40,0 39 % ,8 30,0 25 % % ,3 19 18,4 ,0% % % % 20,0 15 13,2 2,5 0,9 % % % 1 1 2 9 5 % 10,0 9, 8, 8, 8,0 7,4% ,2% ,2% ,3% % % 7 6 5 4,6 4,6 0,0 3 7 11 1 6 2 10 14 4 5 13 22 8 17 16 12 9 20 21 19 15 18 UGRHI Fonte: IF (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Podemos observar que os maiores percentuais de vegetação são encontrados nas UGRHI litorâneas, valendo destacar a UGRHI 11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul, que conta com a maior área de vegetação natural, somando mais de 1,2 milhão de hectares ou 28% da área total de vegetação natural encontrada no Estado. FiGura 3. 46 distribuição do Percentual de cobertura veGetal nativa Por MunicíPio eM 2008/2009 Fonte: IF (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) 148
- 168. 3.5.2 Mata Ciliar cadastrada Uma parcela da vegetação natural remanescente está localizada nas margens de rios, córregos, lagos, represas e nascentes. São as chamadas matas ciliares, que atuam como uma proteção aos corpos hídricos. Também são conhecidas como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária. De acordo com o Código Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 4.771/65), as matas ciliares são áreas com status de proteção especial, devido às funções ecológicas e sociais que desempenham, sendo incluídas na categoria de Áreas de Preservação Permanente (APP). Em escala local e regional, as matas ciliares protegem a água e o solo, promovem a estabilidade geológica, preser- vam a paisagem, oferecem abrigo e sustento à fauna, além de funcionarem como barreira à propagação de pragas e doenças das culturas agrícolas. Em escala global, as florestas em crescimento fixam carbono e contribuem para a redução dos gases de efeito estufa. Assim, recuperar as matas ciliares pode significar benefícios em aspectos ambientais, sociais e econômicos. Como forma de assegurar a conservação das Áreas de Preservação Permanente representadas pelas matas cilia- res, foi instituída no âmbito do Projeto Ambiental Estratégico (PAE) Mata Ciliar, por meio da Resolução SMA nº 42/07, a Comunicação de Áreas Ciliares, obrigatória a todas as propriedades maiores que 200 ha, e também o Banco de Áreas para Recuperação (Resolução SMA nº 30/07), onde os proprietários, de forma voluntária, podem realizar o cadastro de áreas ciliares disponíveis para recuperação. A partir do Banco de Áreas (disponível em www.ambiente.sp.gov.br), empresas e pessoas físicas interessadas, podem investir no reflorestamento das áre- as, seja como compensação ambiental, compensação voluntária para emissões de gases de efeito estufa ou mesmo como ação voluntária de responsabilidade social. Os dados sobre a área de mata ciliar cadastrada no Estado de São Paulo fornecem subsídios para a elabo- ração e implantação de projetos de recuperação florestal, bem como a identificação de áreas prioritárias para esse fim. O indicador é constituído pela porcentagem da área de mata ciliar declarada pelos proprietários rurais em relação às áreas totais de suas propriedades junto ao órgão ambiental competente (a Coordenadoria de Bio- diversidade e Recursos Naturais – CBRN). A Tabela 3.43 e a Figura 3.47 apresentam as áreas de mata ciliar declaradas em cada UGRHI até novembro de 2010. A Tabela 3.44 mostra os totais acumulados de área ciliar cadastrada, incluindo também o Banco de Áreas para Recuperação e as áreas cadastradas a partir do Protocolo Agroambiental, referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010. O Protocolo Agroambiental, assinado pelos Secretários de Estado do Meio Ambiente e da Agricultura, e pelo presidente da União da Indústria Sucroalcooleira (UNICA), visa premiar as boas práticas do setor sucroalcooleiro através de um certificado de conformidade. Vale ressaltar ainda que o total de área de mata ciliar disponível para recuperação no Estado de São Paulo é estimada em 1 milhão de hectares. 149
- 169. tabela 3. 43 área de Mata ciliar declarada no estado de são Paulo Por uGrHi até 2010 área das área ciliar declarada uGrHi número de áreas % propriedades (ha) (ha)¹ 01 – Mantiqueira 2 685,5 104,47 15,20% 02 – Paraíba do sul 241 85.871,19 17.277,95 20,10% 03 – litoral norte 0 - - - 04 – Pardo 18 30.323,75 2.212,87 7,30% 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 17 8.714,42 855,48 9,80% 06 – alto tietê 20 21.571,19 3.991,77 18,50% 07– baixada santista 7 3.549,27 405,81 11,40% 08 – sapucaí/Grande 5 4.043,19 324,33 8,00% 09 – Mogi-Guaçu 33 24.136,77 937,64 3,90% 10 – sorocaba/Médio tietê 44 72.132,44 4.891,25 6,80% 11 – ribeira de iguape/litoral sul 13 15.565,33 340,65 2,20% 12 – baixo Pardo/Grande 40 30.262,27 1.422,49 4,70% 13 – tietê/Jacaré 181 221.102,00 12.562,52 5,70% 14 – alto Paranapanema 148 238.982,27 24.779,82 10,40% 15 – turvo/Grande 15 84.464,39 7.058,03 8,40% 16 – tietê/batalha 42 52.654,90 3.700,37 7,00% 17 – Médio Paranapanema 86 122.331,43 6.226,76 5,10% 18 – são José dos dourados 3 3.979,00 460,98 11,60% 19 – baixo tietê 58 260.693,21 24.899,78 9,60% 20/21 – aguapeí/Peixe 25 40.522,05 2.882,88 7,10% 22 – Pontal do Paranapanema 21 43.403,26 1.726,52 4,00% estado de são Paulo 1.019 1.364.987,83 117.062,37 8,60% Fonte: SMA/PAE Mata Ciliar (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: 1 – Até novembro de 2010 tabela 3. 44 área de Mata ciliar cadastrada no estado de são Paulo eM 2008, 2009 e 2010 ano 2008 2009 2010¹ área ciliar cadastrada (ha) 325.838 373.677 378.012 área ciliar disponível (ha) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 % de área ciliar cadastrada 32,58% 37,37% 37,80% Fonte: SMA/PAE Mata Ciliar (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: 1 – Até novembro de 2010 150
- 170. FiGura 3. 47 área de Mata ciliar declarada no estado de são Paulo Por uGrHi até 2010¹ 30 0 8 ,9 ,7 24 24 25 Milhões de hectares 20 8 ,2 17 15 6 ,5 10 12 06 23 7, 6, 89 99 5 4, 70 3, 88 3, 21 2, 73 42 2, 94 86 1, 46 41 1, 34 32 10 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 19 14 2 13 15 17 10 6 16 20/21 4 22 12 9 5 18 7 11 8 1 UGRHI Fonte: SMA/PAE Mata Ciliar (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: 1 – Até novembro de 2010 3.5.3 supressão de vegetação nativa A supressão de vegetação nativa é inerente ao processo de desenvolvimento econômico e à expansão urbana. A legislação ambiental busca assegurar que esse processo não aconteça de forma desordenada, estabelecendo a fi- gura legal das autorizações para supressão, que são obrigatoriamente vinculadas às compensações e cujos termos são variáveis, sempre correspondendo a valores em área iguais ou maiores que os autorizados. O Projeto Ambiental Estratégico (PAE) Desmatamento Zero busca, no âmbito do Estado de São Paulo, ins- tituir uma moratória para o desmatamento, tornar mais rigoroso o licenciamento e mais efetivas suas medidas mitigadoras, e aprimorar as ações de fiscalização da Polícia Ambiental a fim de garantir a conservação efetiva da biodiversidade. Para alcançar esses objetivos, procurou-se aplicar restrições à concessão de autorizações de supressão de vege- tação nativa e aprimorar os critérios para o licenciamento e para a determinação de medidas compensatórias e mitigadoras, bem como fortalecer o sistema de informações relacionado ao licenciamento, como o georreferen- ciamento das reservas legais averbadas. Com maiores restrições para a permissão da supressão e por meio de uma nova sistemática de fiscalização, es- tabelecida em parceria com a Polícia Militar Ambiental, vem conseguindo-se a diminuição dos montantes de vegetação nativa suprimida, legal e ilegalmente, no Estado. Além disso, por meio de operações de fiscalização do cumprimento dos Termos de Compromisso de Recupera- ção Ambiental (TCRA), vinculados às autorizações expedidas, vem buscando-se assegurar seu cumprimento e, consequentemente, garantir a recuperação florestal. A Figura 3.48 a seguir, mostra a área de vegetação nativa autorizada para supressão no Estado de São Paulo ao longo dos anos, a partir de 1996. Nota-se que 2009 foi o ano com a menor área autorizada para supressão de toda a série histórica. 151
- 171. FiGura 3. 48 área de veGetação nativa autorizada Para suPressão no estado de são Paulo de 1996 a 2009 12.000 10.865 10.000 8.000 Área (hectares) 6.268 6.000 5.100 5.224 5.290 5.083 4.601 4.751 4.468 3.891 4.000 3.220 2.673 2.636 1.813 2.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: SMA/PAE Desmatamento Zero (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) É apresentada a seguir, a representatividade (em %) de cada tipo de formação vegetal autorizada para supressão em 2009. O maior percentual diz respeito à vegetação exótica, seguida pela Floresta Ombrófila e as demais ti- pologias da Figura 3.49. FiGura 3. 49 ProPorção dos diversos tiPos de veGetação autorizada Para suPressão eM 2009 0,13% 2,33% Fl. Ombrófila 0,04% 20,71% Fl. Estacional 16,64% Sem vegetação Cerrado Exó ca 10,93% Várzea 26,17% Res nga Campos de al tude 16,44% Manguezal 6,59% Fonte: SMA/PAE Desmatamento Zero (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) No âmbito do PAE Desmatamento Zero, a divisão territorial utilizada é diferente da divisão por UGRHI, adotada neste documento. A divisão utilizada é baseada na localização das Agências Ambientais da CETESB associada à vocação regional. Assim, no âmbito desse projeto, a divisão do Estado se dá em cinco Depar- 152
- 172. tamentos de Gestão Ambiental: LF – Agronegócio, englobando a região noroeste (Araçatuba); LG – Em Industrialização, englobando a região central e nordeste (Bauru); LJ – Industrial, englobando e Região Me- tropolitana de Campinas; LL – Industrial, englobando a Região Metropolitana de São Paulo mais Cubatão; e LM – Conservação, que engloba a região da Mantiqueira, o Litoral e a parte da bacia do Alto Paranapanema, na região de Avaré. A Figura 3.50 abaixo detalha a área autorizada para supressão (em ha), em cada uma das regiões acima citadas, para o ano de 2009, de acordo com as finalidades. FiGura 3. 50 área autorizada Para suPressão, Por Finalidade e Por diretorias de Gestão aMbiental 450 400 Obras Lineares 350 A v. Agropecuaria Demais finalidades 300 Área (hectares) Graprohab 250 Edificações 200 Rec/ recomposição vegetal 150 Sup. Veg. na va 100 Int. em APP 50 Silvicultura Manejo Florestal 0 Agronegócio Em Industrial - Industrial - Conservação industrialização Campinas São Paulo Fonte: SMA/PAE Desmatamento Zero (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota-se que, em todas as regiões, grande parte da área autorizada diz respeito a obras lineares. A região de Campinas apresentou uma área autorizada significativa relacionada à silvicultura e recomposição vegetal, sendo o município de Jundiaí o que teve a maior área autorizada para supressão. Na região com vocação para conservação fica evidente o predomínio da área autorizada para atividade agrope- cuária, sendo os municípios de Iguape e Registro, no Vale do Ribeira, e Itapetininga e Capão Bonito, no Alto Paranapanema, os principais responsáveis pela área suprimida. Para garantir a recuperação florestal, ao mesmo tempo em que se autoriza a supressão da vegetação, vincu- la-se esta à obrigatoriedade de compensação, cujos termos são inscritos no TCRA. A seguir (Figura 3.51 e 3.52) são apresentados os dados de recuperação florestal, notadamente, das áreas averbadas como Reserva Legal e Área Verde e o total de árvores compromissadas em virtude das autorizações emitidas ao longo do mesmo período. 153
- 173. FiGura 3. 51 área averbada coMo reserva leGal e área verde no estado de são Paulo de 1996 a 2009 70.000 62.796 60.000 50.000 Área (hectares) 40.000 30.000 22.134 21.427 21.346 16.963 18.236 19.113 20.000 15.128 13.758 11.562 12.107 9.002 10.835 10.000 7.703 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: SMA/PAE Desmatamento Zero (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 52 núMero de árvores coMProMissadas no estado de são Paulo de 1996 a 2009 12,00 10,85 10,23 10,00 9,15 8,19 7,95 8,00 Milhões de árvores 7,18 6,00 6,00 6,07 6,00 5,56 5,57 4,00 3,50 3,63 2,83 2,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: SMA/PAE Desmatamento Zero (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) A Figura 3.53 a seguir, apresenta a distribuição da área averbada (21.346 ha) em relação à área autorizada para supressão (1.813 ha), no ano de 2009, de acordo com os Departamentos de Gestão Ambiental da CETESB apresentados anteriormente. As regiões em industrialização (região central e nordeste) e com vocação para o agronegócio (região oeste) respondem pela maior parcela da área averbada. 154
- 174. FiGura 3. 53 coMParativo entre a área autorizada e averbada no estado de são Paulo eM 2009 Área autorizada Área averbada 9.000 8.203 8.000 7.420 7.000 6.000 Área (hectares) 5.000 4.000 2.827 3.000 2.486 2.000 835 1.000 434 128 171 245 412 0 Agronegócio Em Industrial - Industrial - Conservação Industrialização Campinas São Paulo Fonte: SMA/PAE Desmatamento Zero (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Pode-se notar que os valores referentes à recuperação são bem maiores que os referentes à supressão. No entanto, deve-se considerar que uma parcela dos compromissos (TCRA) não é cumprida integralmente, outra parcela é cumprida parcialmente e, além disso, das mudas plantadas, uma parte não se estabelece, o que leva a uma efe- tividade de recuperação inferior ao representado. Para o ano de 2009, as ações de fiscalização confirmam que, dos 10 milhões de mudas compromissadas cerca de quatro milhões, ou 40%, foram plantadas, correspondendo a uma área de 2.761 ha. Nesse contexto, como mostrado anteriormente, o Estado apresentou nos últimos anos um ligeiro aumento de sua cobertura vegetal. 3.5.4 espécies ameaçadas Conforme já visto, o Estado de São Paulo, ora quase todo recoberto pela Mata Atlântica, encontra-se hoje al- tamente fragmentado em virtude dos diversos ciclos de exploração econômica da agricultura e do crescimento urbano e industrial aqui ocorridos. Em decorrência disso, toda a sua rica biodiversidade, seja de plantas, invertebrados ou vertebrados, vem sofrendo uma imensa pressão, principalmente por meio da conversão de habitats, que faz com que os organismos especia- listas, ou seja, menos tolerantes a mudanças no ambiente, pereçam, até que sejam extintos. As conseqüências da extinção de espécies conhecidas ou desconhecidas (cujas propriedades podem ser úteis a sociedade, mas ainda não foram descobertas) são pouco estudadas, inclusive em termos de valoração econômica. Um dos principais instrumentos que permitem o estabelecimento de ações para se combater a perda de biodiver- sidade é a criação das listas de espécies ameaçadas. Os livros vermelhos, como são genericamente designadas tais listas, podem influenciar no desenho das políticas públicas e privadas de ocupação e uso do solo, na definição e priorização de estratégias de conservação e no estabelecimento de medidas que visem reverter o quadro de ame- aça às espécies, além de direcionar a criação de programas de pesquisa e formação de profissionais especializados em biologia da conservação (SÃO PAULO, 2009). 155
- 175. Sendo as listas de espécies ameaçadas importantes instrumentos para determinação de ações de conservação da biodiversidade, uma avaliação da evolução do grau de ameaça das espécies ao longo do tempo colabora para o monitoramento do status de conservação. Assim, segue a título de comparação, a Tabela 3.45, demonstrando o percentual de espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo, por grupo taxonômico, a partir dos dados das listas elaboradas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente em 1998 e 2008. tabela 3. 45 núMero de esPécies de Fauna silvestre aMeaçadas de extinção no estado de são Paulo eM 1998 e 2008 total de táxons total de táxons total de táxons total de táxons conhecidos em conhecidos em Grupo ameaçados de % ameaçados de % são Paulo em são Paulo em extinção em 1998 extinção em 2008 1998 2008 Mamíferos 200 39 19,50% 240 38 15,83% aves 700 142 20,29% 788 171 21,70% répteis 197 33 16,75% 216 33 15,28% anfíbios 180 5 2,78% 226 11 4,87% Peixes de água doce 260 15 5,77% 350 65 18,57% Peixes marinhos 510 19 3,73% 763 118 15,47% total 2.047 253 12,36% 2.583 436 16,88% Fonte: São Paulo (1998) e São Paulo (2008) Nota-se que proporcionalmente o número de espécies ameaçadas aumentou no período, entretanto, deve- se ressaltar a utilização de metodologias diferentes para a elaboração das duas listas, fato que faz com que comparação entre os anos deva ser realizada de forma cautelosa, pois as tendências observadas podem não corresponder à realidade. A partir da elaboração sistemática das listas de espécies ameaçadas e com a manutenção da atual metodologia da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) utilizada para elaboração destas, espera-se poder estabelecer e monitorar a evolução do grau de ameaça dos táxons com maior fidelidade. A “Lista Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo” (Decreto Estadual nº 53.494/08) decorreu de um trabalho em conjunto entre governo, academia e sociedade, onde a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), seus institutos de pesquisa, como o Instituto de Botânica (IBot), o Instituto Florestal (IF) e a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (FF), uniu esforços junto à Conservação Internacional - Brasil (CI-Brasil), ao Laboratório de Ecologia da Paisagem (LEPaC) da Universidade de São Paulo (USP), ao Centro de Referência em Informação Am- biental (CRIA) e ao Programa BIOTA, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (BIO- TA/FAPESP), para a realização do Workshop “ Diretrizes para Conservação e Restauração da Biodiversidade do Estado de São Paulo”. Desses esforços surgiram, além da referida lista, uma lista de espécies-alvo (espécies particularmente sensíveis às alterações de seu habitat e que requerem esforços maiores para sua efetiva conservação) e a produção de 27 mapas temáticos, para os diversos grupos taxonômicos, além de três mapas-síntese, com a indicação de áreas para a realização de inventários biológicos e áreas prioritárias para a conservação, por meio da criação de Unidades de Conservação ou de ações de incremento da conectividade. Tais diretrizes foram incorporadas à legislação ambiental estadual como condicionantes para o licenciamento e a compensação de empreendimentos, ou como orientadoras do processo de recuperação de áreas degradadas. 156
- 176. Já a consolidação da versão atual da “Lista Oficial das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo” (Resolução SMA nº 48/04) se deu após um longo período de trabalho entre 2002 e 2004 e culminou com a realização de um workshop com a participação de mais de 100 especialistas, de onde surgiu a versão final da lista para a publicação. As Figuras 3.54, 3.55 e 3.56 a seguir, apresentam uma síntese da situação das espécies ameaçadas no Estado de São Paulo, por grupo taxonômico e categoria de ameaça, tendo em vista os critérios estabelecidos pela IUCN. Primeiramente serão apresentados os dados para os vertebrados e para os peixes marinhos separadamente, pelos fato destes possuírem categorias de ameaça próprias e, posteriormente, para as espécies vegetais. FiGura 3. 54 esPécies de vertebrados aMeaçados de extinção no estado de são Paulo Por cateGoria de aMeaça Mamíferos Aves Répteis An�bios Peixes de água doce 180 160 140 Número de Espécies 120 100 80 60 40 20 0 Total RE CR EN VU Fonte: São Paulo (2008) Nota: Categorias de ameaça: RE: Regionalmente Extinta; CR: Criticamente em Perigo; EN: Em Perigo; VU: Vulnerável 157
- 177. FiGura 3. 55 esPécies de Peixes MarinHos aMeaçados no estado de são Paulo Por cateGoria de aMeaça 7 16 Regionalmente Ex nta (RE) 50 Colapsadas (CO) Sobrexplotadas (SE) Ameaçadas de Sobrexplotação (AS) 45 Fonte: São Paulo (2008) FiGura 3. 56 esPécies da Flora aMeaçadas de extinção no estado de são Paulo Presumivelmente Ex nta (EX) 471 393 Presumivelmente Ex nta na Natureza (EW) Em Perigo Crí co (CR) Em Perigo (EN) 14 23 Vulnerável (VU) 184 Fonte: São Paulo (2004) Podemos verificar que do total de espécies da fauna paulista conhecidas, quase 17% encontram-se sob ameaça. Esta situação pode se agravar, uma vez que, para a maior parte do Estado, fora do eixo da Macrometrópole Pau- lista (onde se concentram os grandes centros universitários do Estado), existe um vazio de informações sobre a ocorrência das espécies, conforme ilustra a Figura 3.57, que aponta as áreas prioritárias para a realização de inventários biológicos. O primeiro passo no estabelecimento de uma estratégia de conservação é o conhecimento das espécies ameaçadas e sua distribuição no território. 158
- 178. FiGura 3. 57 áreas Prioritárias Para elaboração de inventário biolóGico no estado de são Paulo Fonte: Rodrigues, R. R. e Bononi, V. L. R. (2008), elaborado por SMA/CPLA (2010) Uma estratégia que se mostra eficiente na conservação de espécies in situ é a criação de áreas protegidas. 3.5.5 áreas protegidas Tendo em vista a necessidade de proteção dos fragmentos restantes de Mata Atlântica e do Cerrado, e a im- portância da preservação da fauna e da flora, as áreas protegidas surgem como uma das respostas para proteção destes remanescentes e da biodiversidade neles existentes. Dentre as categorias de áreas protegidas, as Unidades de Conservação constituem as que melhor cumprem esta finalidade. A Lei Federal n° 9.985/00 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), definindo Unidade de Conservação como o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdi- cionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. As Unidades de Conservação (UC) são classificadas, de acordo com as características da área e o objetivo de criação pelo qual foram instituídas, como de Proteção Integral, permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou de Uso Sustentável, com a finalidade de compatibilizar conservação e uso sustentável. A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (FF) é quem gerencia as Unidades de Conservação do Estado, sendo assim responsável pela gestão de 3.677.813 hectares de áreas protegidas, ou cerca de 15% do território paulista. As noventa e quatro UC estaduais distribuem-se entre diversas categorias, conforme Tabela 3.46. A Figura 3.58 mostra a distribuição espacial dessas unidades no Estado. 159
- 179. tabela 3. 46 unidades de conservação do estado de são Paulo Por cateGoria categoria Quantidade superfície (ha) Proteção inteGral reserva estadual 1 55 Parque ecológico 2 378 estação ecológica 16 240.528,30 Parque estadual 30 767.681,88 Monumento natural estadual 1 3.297 sub-total 50 1.011.940 uso sustentável Floresta estadual 1 2.230,53 área de Proteção ambiental 30 1.513.267,08 área de Proteção ambiental Marinha 3 1.123.108 reserva extrativista 2 2.790,46 reserva de desenvolvimento sustentável 5 12.778 área de relevante interesse ecológico 3 1.699,02 sub-total 44 2.655.873 total 94 3.667.813 Fonte: Fundação Florestal (2010) FiGura 3. 58 unidades de conservação do estado de são Paulo eM 2010 Fonte SMA/CPLA (2010) Existem ainda no território outras importantes Unidades de Conservação sob gestão federal, como o Parque Nacional da Serra da Bocaina e a Floresta Nacional de Ipanema, e sob gestão dos municípios, espalhados por todo o Estado. Também existem algumas áreas protegidas reconhecidas internacionalmente pela Organização 160
- 180. das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), como as Reservas da Biosfera da Mata Atlântica e a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. Todas essas áreas complementam a estrutura de conservação estadual. A importância das Áreas Protegidas para a manutenção de áreas estratégicas e processos ecológicos vitais já foi assinalada anteriormente, porém, a eficácia no cumprimento de suas funções pré-estabelecidas depende da efetividade de manejo das Unidades. Com o objetivo de oferecer um dado que demonstre em que medida as Unidades de Conservação cumprem com seus objetivos de criação e manejo, a Fundação Florestal desenvolveu o Índice de Gestão das Unidades de Con- servação. Esse índice compõe-se da análise de quatro variáveis específicas: Qualidade dos Recursos Protegidos; Gestão; Uso Social e/ou Interação Socioambiental; e Qualidade de Vida da população beneficiária. O cálculo do índice é feito de acordo com metodologia específica denominada EMAP (Efetividade de Ma- nejo de Áreas Protegidas), e a partir da análise destas variáveis é atribuída uma nota de 0 a 100 para cada Unidade de Conservação. As notas correspondem a padrões de qualidade de gestão, conforme a Tabela 3.47 que segue. tabela 3. 47 Padrões de Qualidade do índice de Gestão de unidades de conservação Pontuação Proporção entre situação ótima e o atual do indicador (%) Padrão de Qualidade 1 0-40 Padrão Muito Inferior 2 41-55 Padrão Inferior 3 56-70 Padrão Mediano 4 71-85 Padrão Elevado 5 86-100 Padrão de Excelência Fonte: Fundação Florestal (2010) O índice agrupado para as Unidades de Conservação de Proteção Integral e para as de Uso Sustentável administradas pela Fundação Florestal, referente aos anos de 2008 e 2009, é apresentado na Tabela 3.48. tabela 3. 48 índice de Gestão de unidades de conservação do estado de são Paulo eM 2008 e 2009 2008 2009 unidades de conservação Padrão de Padrão de Pontuação Pontuação Qualidade Qualidade Proteção integral 55 Padrão Inferior 67 Padrão Mediano uso sustentável 49 Padrão Inferior 54 Padrão Inferior Fonte: Fundação Florestal (2010) Observamos que houve uma evolução do Índice de Gestão para as duas categorias de UC. As Unidades de Con- servação de Proteção Integral, em conjunto, apresentaram 67 pontos, passando para um Padrão de Qualidade de Gestão Mediano em 2009. Já as Unidades de Conservação de Uso Sustentável obtiveram 54 pontos, mantendo o mesmo Padrão de Qualidade Inferior de 2008, porém com um aumento na pontuação. Vale ressaltar que as UC de Uso Sustentável, pela sua própria estrutura organizacional, menos restritiva, tendem a ter uma evolução mais lenta da qualidade de gestão. 161
- 181. referências FUNDAÇÂO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – FF. Dados for- necidos. São Paulo, 2010. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. INSTITUTO FLORESTAL – IF. Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2008/2009. Dados forne- cidos não publicados. São Paulo, 2010. INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – IPARDES. Indicadores ambientais por bacias hidrográficas do Estado do Paraná. Curitiba: IPARDES, 2007. KRONKA, F. J. N. et al. Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2005. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente/Instituto Florestal. Imprensa Oficial, 2005. RODRIGUES, R. R.; BONONI, V. L. R., orgs. Diretrizes para conservação e restauração da biodiversidade do Estado de São Paulo. São Paulo: Instituto de Botânica, 2008. SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 48.838, de 4 de fevereiro de 1998. Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção e as Provavelmente Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo e dá providências correlatas. Disponível em: <http://www.al.sp.gov. br>. Acesso em: dez. 2010. SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 53.494, de 02 de outubro de 2008. Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas, as Quase Ameaçadas, as Colapsadas, Sobrexplotadas, Ameaçadas de Sobrexplotação e com dados insuficientes para avaliação no Estado de São Paulo. 2008a. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br>. Acesso em: dez. 2010. SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo: Vertebrados. São Paulo: SMA/FPZSP, 2009. SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Resolução nº48, de 21 de Setembro de 2004. Lista Oficial das Espécies da Flora do Estado de São Paulo Ameaçadas de Extinção. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br>. Acesso em: dez. 2010. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – SMA/SP. Projeto Ambiental Estratégico Desmata- mento Zero. Dados fornecidos. São Paulo: SMA/PAE Desmatamento Zero, 2010. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – SMA/SP. Projeto Ambiental Estratégico Mata Ciliar. Dados fornecidos. São Paulo: SMA/PAE Mata Ciliar, 2010. 162
- 182. 3.6 ar A camada atmosférica foi formada durante o longo processo evolutivo do planeta e é composta por diversos gases, muitos dos quais necessários para os processos de respiração celular e fotossíntese, essenciais para a manu- tenção da vida. Porém, também estão presentes no ar muitos gases e partículas prejudiciais que causam danos à saúde humana e aos recursos naturais, além de prejuízos à economia. Muitos destes gases poluentes são emitidos por fontes naturais como vulcões e incêndios florestais, mas as fontes de poluição do ar que estão em evidência são as de origem antrópica, ou seja, a poluição causada pela ação do homem, principalmente por meio de proces- sos de queima de combustíveis fósseis em veículos automotores e em processos industriais. 3.6.1 Padrões de Qualidade do ar Os Padrões de Qualidade do Ar (PQAr) são limites de concentração de um determinado poluente na atmosfera ambiente, definidos legalmente e adotados pelos órgãos responsáveis pelo controle da poluição do ar para uma determinada região. Embora os padrões sejam ferramentas de gestão da poluição atmosférica, os PQAr são nor- malmente es abelecidos com base em estudos do impacto da poluição na saúde humana. No Brasil, a Resolução t CONAMA nº 003/90, estabeleceu os atuais padrões em vigência no país. A verificação do atendimento dos PQAr se dá exclusivamente pelo monitoramento ambiental. Segundo a Resolução CONAMA nº 003/90, entende-se por poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou característica em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: I – impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; II - inconveniente ao bem-estar público; III - danoso aos materiais, à fauna e flora; IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. A Resolução CONAMA nº 003/90 estabelece ainda, dois tipos de Padrões de Qualidade do Ar (PQAr): pri- mários e secundários. Os padrões primários de qua idade do ar são as concentrações de poluentes que, se ultra- l passadas, poderão afetar a saúde da população, já os padrões secundários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. A criação dos padrões secundários visou, principalmente, criar mecanismo legal para políticas de prevenção e proteção de áreas prioritárias à preservação, tais como parques e demais áreas de proteção ambiental. A Tabela 3.49 apresenta os poluentes regulamentados, seus PQAr e os respectivos tempos de amostragem fixa- dos pela Resolução CO AMA. N 163
- 183. tabela 3. 49 Padrões nacionais de Qualidade do ar Poluente tempo de amostragem Padrão primário (μg/m³) Padrão secundário (μg/m³) 24 horas 1 240 150 Partículas totais em suspensão (Pts) MGA2 80 60 24 horas 1 150 100 Fumaça (FMc) MAA3 60 40 24 horas 1 150 150 Partículas inaláveis (MP10) MAA3 50 50 24 horas 1 365 100 dióxido de enxofre (so2) MAA3 80 40 1 hora 1 40000 (35 ppm) 40000 (35 ppm) Monóxido de carbono (co) 8 horas 1 10000 (9 ppm) 10000 (9 ppm) ozônio (o3) 1 hora1 160 160 1 hora 320 190 dióxido de nitrogênio (no2) MAA3 100 100 Fonte: CETESB (2010g) Nota: 1 – Não deve ser excedido mais de uma vez por ano. 2 – Média Geométrica Anual. 3 – Média Aritmética Anual. Os poluentes podem ser classificados em duas categorias: primários e secundários. Os poluentes emitidos di- retamente na atmosfera são classificados como primários, enquanto que os poluentes secundários são aqueles formados na atmosfera por reações químicas envolvendo os poluentes primários. A qualidade do ar é determinada pelos níveis de concentração de certos poluentes, adotados como indicadores universais e escolhidos em função da sua ocorrência e dos efeitos que causam. Os principais poluentes monito- rados são: Material Particulado (MP), Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Ozônio (O3) e Oxidantes Fotoquímicos, Hidrocarbonetos (HC) e Dióxido de Nitrogênio (NO2). 3.6.2 resultados do monitoramento A CETESB, desde a década de 1970, mantém redes de monitoramento da qualidade do ar no Estado de São Paulo. Estas redes são compostas por diversas estações automáticas, fixas e móveis, que possibilitam o acom- panhamento dos dados em tempo real. Como evolução no processo de monitoramento e disponibilização dos dados, cabe destacar o lançamento, em 2009, do Sistema de Informações da Qualidade do Ar (QUALAR), desenvolvido para proporcionar ao público o acesso direto à base de dados de qualidade do ar como ferramenta para análise dos mesmos. O Estado apresenta regiões com características distintas em termos de fontes de poluição e grau de contamina- ção do ar e que, por este motivo, exigem diferentes formas de monitoramento e controle da poluição. Todavia, em termos gerais, os poluentes que mais comprometeram a qualidade do ar no Estado, em 2009, foram o Material Particulado (MP) e o Ozônio (O3), sendo, portanto, considerados poluentes prioritários para monitoramento e controle. Por sua abrangên ia e importância, foram escolhidos como indicadores da poluição do ar e serão c apresentados neste relatório. Material Particulado (MP) Material Particulado (MP) é o conjunto de poluentes constituído de poeiras, neblina, aerossol, fumaças ou fuligens e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera devido ao seu pequeno 164
- 184. tamanho. Dentre as principais fontes de emissão estão os processos de combustão incompleta realizada pelos veículos automotores e processos industriais, a ressuspensão da poeira do solo e as reações químicas da atmosfe- ra. O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para causar problemas à saúde, sendo que quanto menores as dimensões, maiores os efeitos provocados. As partículas, se inaladas, podem atingir os alvéolos pulmonares ou ficarem retidas no sistema respiratório, além disso, podem causar mal estar, irritação dos olhos, garganta, pele, dor de cabeça, enjôo, bronquite, asma e câncer de pulmão. Como efeitos gerais ao meio ambiente estão os danos à vegetação, diminuição da visibilidade e contaminação do solo. As partículas com diâmetro de até 10 micra (MP10) são denominadas partículas inaláveis, sendo uma das prin- cipais responsáveis pelos danos à saúde humana. Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), em 2009, observou-se uma ligeira redução da concentração deste poluente, que vinha se mantendo estável últimos anos. Nos anos 1990 era notável a redução sistemática na concentração do MP10 em virtude dos programas de emis- são veicular, porém, em anos mais recentes, mesmo com a significativa redução das emissões pelos veículos, o aumento da frota e o comprometimento das condições de tráfego, com menores velocidades e maiores tempos de viagem, vêm forçando a manutenção dos níveis de concentração deste poluente na atmosfera. A evolução da concentração média anual de MP10 em todas as estações fixas da RMSP é apresentada na Figura 3.59 a seguir. Ainda na RMSP, o padrão de qualidade diário de MP10 (150 µg/m³) foi ultrapassado apenas uma vez, na estação de Parelheiros. FiGura 3. 59 concentração Média anual de MP10 na rMsP de 2000 a 2009 Concentrações Médias Anuais PQAr Anual 75 53 51 50 47 50 41 41 39 MP10 ( μg/m³) 37 37 34 25 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: CETESB (2010g), elaborado por SMA/CPLA (2010) Situação crítica ocorre no município de Cubatão, muito em função do grande pólo industrial existente. A es- tação localizada na Vila Parisi, área industrial, mostrou que os níveis de material particulado têm se mantido acima dos padrões anuais, apesar da melhora observada de 2008 para 2009. Na região central, as concentra- ções têm se mantido praticamente estáveis, com ligeira queda em 2009 (Figura 3.60). Quanto ao padrão diá- rio, em 2009, ocorreram duas ultrapassagens na estação da Vila Parisi e duas na estação da Vila Mogi, ambas localizadas em Cubatão. 165
- 185. FiGura 3. 60 concentração Média anual de MP10 eM cubatão de 2000 a 2009 PQAr anual Cubatão Centro Cubatão - V. Parisi 125 108 104 99 93 99 93 91 100 84 88 MP10 ( μg/m³) 68 75 50 39 34 36 37 36 33 33 32 29 25 Ano 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: CETESB (2010g), elaborado por SMA/CPLA (2010) Alguns outros municípios do Estado também apresentaram problemas relacionados ao MP10 em 2009, como Santa Gertrudes, onde os níveis de partículas inaláveis foram bem superiores ao padrão anual (50 µg/m³), che- gando a ultrapassar o padrão diário (150 µg/m³) uma vez, devido principalmente ao pólo de indústrias cerâmi- cas existente no local. Não se registrou ultrapas agem do PQAr de MP10 nas demais estações. s ozônio (o3) O Ozônio é o principal produto da mistura de poluentes primários. É formado pelas reações, na presença da luz solar, entre os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis que são liberados na queima incompleta e na evaporação de combustíveis e solventes. O ozônio, quando situado na baixa atmosfera, é tóxico e pode causar danos à vegetação. Além disso, a névoa fotoquímica formada pela concentração do Ozônio causa diminuição da visibilidade e prejuízos à saúde. Já o Ozônio da estratosfera, que fica a cerca de 25 km de altitude, tem a impor- tante função de proteger a Terra, como um filtro dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. O Ozônio é um grande motivo de preocupação, pois mesmo que seus precursores sejam emitidos em maior quantidade em áreas urbanas, o vento o transporta para a periferia das cidades e para os centros agrícolas, onde também se pode observar altas concentrações deste poluente. Muitos poluentes atmosféricos têm apresentado quedas significativas em sua concentração, principalmente nas áreas urbanas, porém, o Ozônio tem se comportado de forma diferente e não apresenta reduções significativas em suas concentrações atmosféricas. A produção de Ozônio pelas reações entre os poluentes primários depende também de aspectos meteorológicos, fator que dificulta a ação das medidas de controle. Na RMSP, que apresenta um alto potencial para formação de Ozônio uma vez que há grande emissão de pre- cursores, principalmente de origem veicular, as osci ações observadas no número de ultrapassagem do PQAr se l devem predominantemente às variações meteoro ógicas, que influenciam de forma mais significativa a ocorrência l de altas concentrações se comparadas às pequenas alterações nas quantidades de emissões de poluentes. 166
- 186. O número de dias em que o PQAr do Ozônio foi violado na RMSP ao longo dos últimos dez anos é apresenta- do na Figura 3.61 que segue. Em 2009 observou-se aumento no número total de ultrapassagens do PQAr com relação a 2008. FiGura 3. 61 núMero de dias de ultraPassaGeM do PQar de ozônio na rMsP 100 89 90 84 80 77 Nº de dias de ultrapassagens do PQAr de O3 73 72 70 62 60 57 51 52 49 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: CETESB (2010g), elaborado por SMA/CPLA (2010) Em 2009, o padrão de qualidade do ar foi violado em 57 dias, totalizando 201 ultrapassagens, das quais 43 exce- deram o nível de atenção nas estações que mediram este poluente. A Figura 3.62 a seguir apresenta a evolução do número de ultrapassagens de Ozônio nas estações localizadas nas diferentes regiões do Estado. Verifica-se, de maneira geral, um comportamento semelhante àquele observado na RMSP, com muitas ultrapassagens do PQAr do Ozônio. 167
- 187. FiGura 3. 62 núMero de dias de ultraPassaGeM do PQar de ozônio eM outras reGiões São José dos Campos Paulinia Cubatão - Centro Sorocaba 40 39 Nº de dias de ultrapassagens do PQAr de O3 35 30 30 25 21 20 20 19 18 17 14 15 14 15 13 13 12 10 9 9 9 7 8 88 7 7 6 6 6 56 5 6 5 4 4 4 2 22 2 0 0 1 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: CETESB (2010g), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: Monitoramento sem representatividade anual 3.6.3 Medidas de controle e melhoria da qualidade do ar Tendo em mente que grande parte da poluição do ar se origina do setor de transportes, por meio das emissões dos veículos que utilizam motores de combustão interna, ao longo dos anos foram adotadas diversas medidas de controle visando à melhoria da qualidade do ar. Neste sentido, destaca-se o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), instituído em âmbito nacional com a exigência de que os veículos e motores novos atendam a limites máximos de emissão, aferidos em ensaios padronizados. Além disso, o programa impõe a certificação de protótipos e proíbe a comercialização de modelos de veículos não homo- logados. A CETESB participou do desenvolvimento das bases técnicas do PROCONVE e é o órgão técnico conveniado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para a homo- logação de veículos no país. Desde a implantação do programa nos anos 90, os limites máximos de emissões para os veículos automotores novos vêm sendo reduzidos progressivamente. Todavia, a diminuição da emissão dos veículos automotores novos por si só não é suficiente, pois não há garantias de que estes limites serão respeitados ao longo do tempo. Sendo assim, a inspeção veicular se torna uma medi- da complementar e essencial para controlar a emissão da frota veicular já existente. A Resolução CONAMA 418/09 dispõe sobre a Implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em uso, considerando que a falta de manutenção ou a manutenção incorreta dos veículos podem ser responsáveis pelo aumento da emissão de poluentes e do consumo de combustíveis. Na capital do Estado de São Paulo a inspeção veicular já é obrigatória e a tendência é que ela seja estendida em breve a outros municípios paulistas. Vale destacar também o Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (PRO- MOT), igualmente instituído em âmbito nacional com o objetivo de promover a redução progressiva das emis- sões veiculares, a exemplo do PROCONVE. A preocupação com este segmento de veículos se justifica ao olhar- mos o expressivo aumento da frota e da contribuição da emissão de alguns poluentes na RMSP. De 1994 a 2009, as motocicletas aumentaram sua contribuição de menos de 2% da emissão total de monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos (HC), para cerca de 17% de CO e 10% de HC. 168
- 188. Ainda, outra ação promovida pela CETESB anualmente é a Operação Inverno, quando são intensificadas as ações de controle sobre as fontes fixas e móveis durante os meses de inverno (maio a setembro), devido à difi- culdade de dispersão de poluentes na atmosfera neste período. Quanto ao controle das fontes móveis, amplia-se a fiscalização da emissão excessiva de fumaça preta (partículas de carbono elementar) proveniente dos veículos automotores à diesel. A fiscalização da emissão de fumaça preta em veículos pesados resultou, em 2009, em mais de 3.000 veículos autuados (CETESB, 2010h). Além da qualidade dos combustíveis, da concepção tecnológica dos motores e de suas condições de manuten- ção, medidas não tecnológicas são essenciais para a melhoria da qualidade do ar nas grandes cidades. As regiões metropolitanas e outras áreas urbanizadas do Estado necessitam da efetiva implementação de uma proposta de ordenamento territorial que minimize a segregação espacial e as diferenças socioeconômicas existentes entre suas diversas regiões, para evitar , assim, movimentos pendulares entre as regiões periféricas e as áreas centrais, por meio de uma melhor distribuição dos empregos e da infraestrutura de serviços. O tráfego urbano deve ser plane- jado e organizado de maneira a aumentar a atratividade do transporte público coletivo, priorizando o uso deste modal, com o objetivo de diminuir o número de deslocamentos motorizados individuais e reduzir as emissões veiculares, melhorando, desta forma, a qualidade do ar nestes locais. referências COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo 2009. 2010g. São Paulo: CETESB, 2010. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Relatório Operação Inverno 2009. 2010h. São Paulo: CETESB, 2010. 169
- 189. 3.7 Mudanças climáticas O debate e os estudos sobre mudanças climáticas estão na ordem do dia. Embora sempre tenham ocorrido varia- ções e mudanças climáticas em escalas de tempo variáveis e decorrentes de causas naturais, no último século, a es- sas causas naturais vieram somar-se aquelas decorrentes da ação humana, em especial o lançamento na atmosfera de grandes quantidades de gases estufa e aerossóis e as mudanças na cobertura do solo – em escala global – com a transformação de áreas florestais em áreas de agricultura e pastagem, afetando os ciclos biogeoquímicos naturais. Em todo o mundo, pesquisadores estudam as muitas variáveis envolvidas com as mudanças climáticas globais, suas causas e consequências, realizando, ainda, projeções de mudanças futuras e criando modelos matemáticos do sistema climático. Desta forma, procuram estabelecer possíveis cenários e seus impactos sobre os sistemas naturais e sobre as muitas dimensões da vida na Terra (FAPESP, 2008). A atmosfera terrestre é uma camada relativamente fina, de gases e material particulado, que envolve a Terra devido à atuação da gravidade. A forma como esses gases se dispõe ao longo da atmosfera e sua interação com o planeta foi determinante para o surgimento e manutenção da vida, processo que pode ser exemplificado pelo chamado efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural que ocorre quando a energia emitida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. A radiação solar que chega a Terra é predominantemente com- posta pelo comprimento de onda curta (radiação solar de onda curta), sendo, parte desta radiação, refletida e, a maior parte, absorvida pela superfície. A partir dessa absorção, a superfície passa a emitir energia em um novo comprimento de onda, agora na forma de onda longa. Essa energia emitida passa a ser absorvida por determi- nados gases presentes na atmosfera, os chamados Gases de Efeito Estufa (GEE), como o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4). Como consequência, o calor fica retido e não é liberado para o espaço, ocorrendo o denominado efeito estufa. O efeito estufa é de vital importância, servindo para manter o planeta aquecido, e as- sim, garantir a manutenção da vida na Terra. O aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera é que tem gerado um desequilíbrio energético no planeta, o que se convencionou chamar de aquecimento global, fenômeno decorrente da intervenção humana nos processos que caracterizam o efeito estufa. Portanto, a atmosfera tem papel primordial e essencial para a vida e o funcionamento de processos físicos e biológicos da Terra, sendo, ainda, responsável por fornecer elementos como o oxigênio, dióxido de carbono e o vapor d’ água. A atmosfera pode ser considerada como constituída principalmente pelo nitrogênio e oxigênio, que ocupam algo em torno de 99% do volume de ar seco e limpo. No entanto, esses dois gases apresentam pouca influência sobre os aspectos climáticos. Gases como o dióxido de carbono (CO2) e o ozônio (O3), que ocorrem em peque- nas concentrações, apresentam influência muito mais decisiva nos processos climáticos existentes. O dióxido de carbono, embora represente apenas 0,03% da atmosfera, apresenta papel primordial no processo de fotossíntese, bem como se destaca por ser um eficiente absorvedor de energia radiante emitida pela Terra, influenciando, desta forma, o fluxo de energia através da atmosfera e fazendo com que a Troposfera (primeira camada da atmosfera) retenha o calor proveniente da superfície terrestre. Vale ressaltar que atualmente existem divergentes visões sobre a influência desse gás na atmosfera. Outro importante gás relacionado ao efeito estufa é o metano (CH4). As principais fontes antropogênicas de geração desse gás são: o cultivo de arroz, devido à condição anaeróbica das áreas alagadas; os animais herbívoros, devido ao processo de digestão; e a ocorrência de depósitos de carvão, óleo e gás natural, em função de liberarem metano para a atmosfera quando escavados ou perfurados. O metano é cerca de trinta vezes mais eficiente que o dióxido de carbono na absorção de radiação infra-vermelha, portanto, mesmo com concentrações menores na atmosfera pode ser mais eficiente na formação do efeito estufa natural. O ozônio (O3) é um gás que tem papel importante na absorção de radiação ultravioleta, sem essa absorção, os seres vivos estariam mais vulneráveis aos efeitos da radiação solar em superfície. Vale destacar que a presença de 170
- 190. ozônio é primordial na Estratosfera, denominado, portanto, de ozônio estratosférico, no entanto, também pode ser encontrado na Troposfera, onde passa a ser chamado de ozônio troposférico. Na Troposfera esse gás é con- siderado como poluente, formado através da reação entre a presença de luz solar e os óxidos de nitrogênio (NO e NO2), lançados na atmosfera pelos processos de combustão (veicular e industrial), e os compostos orgânicos voláteis, emitidos pelos processos evaporativos, queima incompleta de combustíveis e processos industriais. As atividades realizadas pelo homem, juntamente com as emissões naturais do planeta, provocam um adicio- nal de emissão de gases de efeito estufa. O tipo de desenvolvimento econômico e social iniciado pela revolução industrial contribuiu ao longo dos anos para o aumento da concentração desses gases na atmosfera. A conse- quência disso é o aumento da capacidade de absorção de energia pela atmosfera, que resulta no aquecimento global do planeta. Em 1988, foi criado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), que se trata de um grupo aberto a todos os membros das Nações Unidas e da OMM. A função do IPCC consiste em analisar, de forma exaustiva, objetiva, aberta e transparente, a informação científica, técnica e sócio-econômica relevante para entender os processos de risco, que supõe a mudança climática provocada pelas atividades humanas, suas possíveis repercussões e as possibilidades de adaptação e atenuação da mesma. O IPCC não realiza investigação nem controla dados relativos ao clima e outros parâmetros pertinentes, baseia sua analise na literatura científica e técnica existente. Em 2007, foi publicado o 4º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, 2007). De acordo com o IPCC (2007), as concentrações atmosféricas globais de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso aumentaram bastante em consequência das atividades humanas. No caso do CO2, o au- mento global se deve ao uso de combustíveis fósseis e à mudança no uso da terra, enquanto para o CH4 e o N2O o aumento se dá pela agricultura. O relatório também ressalta que o aquecimento do sistema climático é evidente e pode ser constatado nas observações dos aumentos das temperaturas médias globais do ar e do oceano, do derretimento generalizado da neve e do gelo e da elevação do nível global médio do mar. 3.7.1 Modelos climáticos e cenários do iPcc Marengo (2007) ressalta que a modelagem climática em grande escala consome enormes recursos de informática e financeiros e até mesmo os modelos mais sofisticados são representações aproximadas de um sistema muito complexo, de forma que ainda não são infalíveis na previsão do clima futuro. As ferramentas comumente adotadas para obter e avaliar projeções climáticas passadas e futuras são os modelos de clima, que podem ser: Modelos Globais Atmosféricos (GCM) ou Modelos Globais Acoplados Oceano-Atmosfera (AOGCM). Estes modelos podem simular climas futuros em nível global e regional como resposta a mudanças na concentração de gases de efeito estufa e de aerossóis, no entanto, a habilidade desses modelos em simular climas regionais depende da escala horizontal, chamada também de resolução. De acordo com Marengo (2007), os modelos podem oferecer informações de grande utilidade para escala continental, e considerando a extensão do Brasil, podem ajudar a detectar as características gerais do clima futuro. No entanto, esses modelos não representam bem as mudanças do clima na escala local, tais como as tempestades ou frentes e chuvas, devido a efeitos orográficos e eventos extremos do clima. Para isso, é necessário usar a técnica de downscaling, que consiste na regionalização dos cenários climáticos obtidos por modelos globais usando modelos regionais (downscaling dinâmico) ou funções estatísticas (downscaling empírico ou estatístico) (MARENGO, 2007). As saídas dos modelos globais de clima contêm informações sobre os cenários SRES (Special Report on Emissions Scenarios, ou em português Relatório Especial sobre Cenários de Emissões – RECE), publicado em 2000 pelo IPCC. Os cenários de emissão representam uma visão possível do desenvolvimento futuro de 171
- 191. emissões de substâncias que têm um efeito radiativo potencial (gases de efeito estufa, aerossóis), baseados numa combinação coerente e internamente consistente de assunções sobre forçamentos controladores, como demografia, desenvolvimento socioeconômico, e mudança na tecnologia, assim como suas interações. Os cenários SRES mostram diferentes cenários futuros de mudanças climáticas, denominados de A1, A2, B1 e B2, cujas principais características são apresentadas na Tabela 3.50. tabela 3. 50 PrinciPais características dos cenários de eMissões ProPostos Pelo iPcc a1 Descreve um mundo futuro de crescimento econômico muito rápido, com a população global atingindo um pico em meados do século e declinando em seguida e a rápida introdução de tecnologias novas e mais eficientes. As principais questões subjacentes são a convergência entre as regiões, a capacitação e o aumento das interações culturais e sociais, com uma redução substancial das diferenças regionais na renda per capita. A família de cenários A1 se desdobra em três grupos que descrevem direções alternativas da mudança tecnológica no sistema energético. Os três grupos A1 distinguem-se por sua ênfase tecnológica: intensiva no uso de combustíveis fósseis (A1F1), fontes energéticas não-fósseis (A1T) ou um equilíbrio entre todas as fontes (A1B) (em que o equilíbrio é definido como não se depender muito de uma determinada fonte de energia, supondo-se que taxas similares de aperfeiçoamento apliquem-se a todas as tecnologias de oferta de energia e uso final). a2 Descreve um mundo muito heterogêneo. O tema subjacente é a auto-suficiência e a preservação das identidades locais. Os padrões de fertilidade entre as regiões convergem muito lentamente, o que acarreta um aumento crescente da população. O desenvolvimento econômico é orientado primeiramente para a região e o crescimento econômico per capita e a mudança tecnológica são mais fragmentados e mais lentos do que nos outros contextos. b1 Descreve um mundo convergente com a mesma população global, que atinge o pico em meados do século e declina em seguida, como no enredo A1, mas com uma mudança rápida nas estruturas econômicas em direção a uma economia de serviços e informação, com reduções da intensidade material e a introdução de tecnologias limpas e eficientes em relação ao uso dos recursos. A ênfase está nas soluções globais para a sustentabilidade econômica, social e ambiental, inclusive a melhoria da eqüidade, mas sem iniciativas adicionais relacionadas com o clima. b2 Descreve um mundo em que a ênfase está nas soluções locais para a sustentabilidade econômica, social e ambiental. É um mundo em que a população global aumenta continuamente, a uma taxa inferior à do A2, com níveis intermediários de desenvolvimento econômico e mudança tecnológica menos rápida e mais diversa do que nos contextos B1 e A1. Fonte: IPCC (2007) A Tabela 3.51 apresenta as estimativas e faixas prováveis para o aquecimento médio global do ar e elevação do nível do mar para seis cenários emissões do SRES, para o final do século XXI (2090-2099) relativos a 1980- 1999, obtidos no 4º Relatório de Avaliação (AR4) do IPCC (2007). 172
- 192. tabela 3. 51 ProJeção do aQueciMento Médio Global da suPerFície e da elevação do nível do Mar no Final do século xxi Mudança de temperatura (°c em 2090- elevação do nível do mar (m em 2090-2099 relativa a 2099 relativa a 1980-1999) 1 1980-1999 Faixa com base em modelo, excluindo-se as futuras caso Melhor estimativa Faixa provável mudanças dinâmicas rápidas no fluxo de gelo concentrações constantes 0,6 0,3 - 0,9 NA do ano 2000 2 cenário b1 1,8 1,1 - 2,9 0,18 - 0,38 cenário a1t 2,4 1,4 - 3,8 0,20 - 0,45 cenário b2 2,4 1,4 - 3,8 0,20 - 0,43 cenário a1b 2,8 1,7 - 4,4 0,21 - 0,48 cenário a2 3,4 2,0 - 5,4 0,23 - 0,51 cenário a1F1 4,0 2,4 - 6,4 0,26 - 0,59 Fonte: IPCC (2007) Notas: 1 Essas estimativas são avaliadas a partir de uma hierarquia de modelos que abrangem um modelo climático simples, varios Modelos do Sitema Terrestre de Complexidade Intermediária e um grande numero de Modelos de Circulação Geral da Atmosfera-Oceano). 2A composição constante do ano 2000 é derivada apenas a partir de Modelos de Circulação Geral da Atmosfera-Oceano. Para o Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) vem desenvolvendo o modelo regional Eta/ CPTEC para a América do Sul. De acordo com a 2º Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (BRASIL, 2010), o Eta é um modelo atmosférico regional com- pleto usado pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos do Clima (CPTEC) desde 1997, para as previsões do tempo operacionais e sazonais. O modelo foi adaptado a fim de funcionar como um Modelo Climático Regio- nal (MCR), usado para produzir cenários regionalizados de mudança futura do clima para a 2º Comunicação Nacional. No entanto, os aperfeiçoamentos planejados dessa versão do modelo, incluem a vegetação dinâmica e alterações no uso da terra. O INPE também vem elaborando o Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global (MBSCG), com o objetivo de estabelecer um modelo de clima global adequado a projeções de mudança do clima no longo prazo. Esse modelo inclui representações mais realistas de fenômenos que atuam em uma escala de tempo mais ampla: transições mar-gelo, aerossóis e química atmosférica, vegetação dinâmica, variabilidade de CO2 e outras melhorias. Vale frisar que ainda existem várias incertezas nos cenários do IPCC. Uma delas é a estabilização da concentra- ção do CO2 na atmosfera, dentro do ciclo de realimentação clima-carbono. Outra está nas sinergias e antagonis- mos das respostas ambientais e esses efeitos. Aliado a isso, observa-se que ainda existem muitas lacunas a serem resolvidas para uma melhor análise regional das mudanças climáticas, bem como existem diferentes visões sobre como efetivamente as mudanças climáticas poderão atingir as diferentes regiões do país. 3.7.2 o estado de são Paulo e as Mudanças climáticas No Estado de São Paulo, diversas pesquisas vêm sendo elaboradas visando identificar os impactos, vulnerabilidades e adaptações dos diferentes ecossistemas existentes, bem como dos diversos setores, às mudanças climáticas previstas. Em agosto de 2008, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) lançou o Programa FAPESP de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais, com o objetivo de estimular a pesquisa sobre o tema, articulando as variáveis resultantes da atividade humana com aquelas resultantes de causas naturais. Entretanto, 173
- 193. antes mesmo da criação do programa, um grande número de pesquisas em mudanças e variações climáticas já vinha sendo realizadas no Brasil e no Estado de São Paulo, com o apoio da FAPESP, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e de outras agências de fomento nacionais e internacionais. No âmbito da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA/SP) os efeitos das mudanças climáticas também já vêm sendo estudados e discutidos há algum tempo. Em 1995, a SMA estabeleceu para o Estado de São Paulo, por meio da Resolução SMA nº 22/95, o Programa Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo (PROCLIMA). Esse programa teve sua implementação gradualmente assumida e atualmente coordenada pelo Setor de Clima e Energia (TDSC) da CETESB. Dentre as atividades do PROCLIMA, destacam-se: a colaboração com a esfera federal na divulgação e implementação dos acordos internacionais; a execução do Inventário Nacional de Emissão de Metano gerado por Resíduos, que faz parte da 1º Comunicação Nacional, coordenada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia; participação e representação da CETESB/SMA nas reuniões referentes às Mudanças Climáticas; capacitação de pessoal para prestar assessoria necessária para auxiliar a sociedade a prevenir a emissão de gases de efeito estufa; e a realização de seminários e simpósios para apresentar o problema e discutir tecnologias que possibilitem a redução dos gases de efeito estufa, em especial os gerados por resíduos. Também em 1995 foi instituído o Programa Estadual de Prevenção a Destruição da Camada de Ozônio (PROZONESP), visto a importância da participação de São Paulo no quadro nacional de consumo de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDO), bem como a necessidade de coordenar as ações no Estado na consecução das metas estabelecidas pelo Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e Consumo das SDO e o estabelecimento de parcerias com os atores sociais envolvidos. Em resumo, o objeto deste Programa é a contribuição do Governo do Estado de São Paulo, através de sua Secretaria do Meio Ambiente, à prevenção da destruição da Camada de Ozônio. Em 2005, o governo instituiu o Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e Biodiversidade, através do Decreto Estadual 49.369/05, o qual é presidido pelo governador, visando conscientizar e mobilizar a sociedade paulista para a discussão e tomada de posição sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais, a necessidade da conservação da diversidade biológica do planeta e a promoção da sinergia entre as duas temáticas. Dentre seus objetivos está colaborar com a elaboração de uma Política Estadual de Mudanças Climáticas, ressaltando a importância do tema para o Estado de São Paulo. Dando continuidade às ações ligadas às mudanças climáticas, no dia 9 de novembro de 2009, foi sancionada pelo governador a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), Lei Estadual nº 13.798/09, que tem por objetivo disciplinar as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, estabelecendo a redução de 20% das emissões de CO2 até 2020, com base nas emissões de 2005. Com o intuito de regulamentar a Lei Estadual nº 13.798/2009, foi instituído o Decreto Estadual nº 55.947, em 24 de junho de 2010. O decreto, institui a criação do Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas, sob a coordenação da Casa Civil, com o objetivo de acompanhar a elaboração e a implementação dos planos e programas instituídos por este decreto; institui o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, de caráter consultivo, com a finalidade de acompanhar a implantação e fiscalizar a execução da PEMC; disciplina a Comunicação Estadual, a Avaliação Ambiental Estratégica e o Zoneamento Ecológico-Econômico, tratados na referida Lei; exige da SMA a apresentação de critérios que definam indicadores de avaliação dos efeitos da aplicação da PEMC; dispõem de um capítulo sobre os Padrões de Desempenho Ambiental e as Contratações Públicas Sustentáveis; de um capítulo sobre o Licenciamento Ambiental e os Padrões de Referência de Emissão; e ainda são previstos os seguintes Planos e Programas: Plano Estadual de Inovação Tecnológica e Clima; Programa Estadual de Construção Civil Sustentável; Plano Estadual de Energia; Plano Estadual de Transporte Sustentável; Plano Estratégico para Ações Emergenciais e Mapeamento de Áreas de Risco; Programa de Educação Ambiental sobre Mudanças Climáticas; Programa de Incentivo Econômico a Prevenção e Adaptação de Mudanças Climáticas e de Crédito e de Economia Verde; Programa de Remanescentes Florestais. 174
- 194. Outra atribuição definida pela Política Estadual de Mudanças refere-se à elaboração do Inventário das Emissões por Atividades Antrópicas dos Gases de Efeito Estufa. Em 30 de novembro de 2010, a CETESB apresentou o estudo intitulado “1° Relatório de Referência do Estado de São Paulo de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, período de 1990 – 2008”. Elaborado por uma rede composta por instituições especializadas nos setores inventariados, diversos especialistas e coordenado pela CETESB/ SMA, o Inventário Estadual é resultado de uma iniciativa inédita no Brasil, de elaboração de um amplo e detalhado diagnóstico das emissões de gases de efeito estufa do Estado de São Paulo no período 1990-2008 (CETESB, 2010i). O Inventário Estadual foi desenvolvido com apoio da Embaixada Britânica no âmbito do Projeto “Apoio à Política Climática do Estado de São Paulo”, desenvolvido sob a responsabilidade do Programa de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo (PROCLIMA) da CETESB. O Decreto Estadual 55.947/10 prevê a realização de consulta pública e a apreciação dos documentos pelo Comitê Gestor de Mudanças Climáticas. De acordo com decisão tomada pelo Comitê Gestor, após a finalização da consulta pública, o inventário deverá ser apreciado pela instância, antes de ser divulgado oficialmente. De acordo com a CETESB (2010i), o documento adota o mesmo método recomendado pelo IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) para a elaboração de inventários nacionais, com adaptações para adequá-lo às condições objetivas de um governo estadual. Ainda assim, buscou-se seguir fielmente as diretrizes gerais do método, visando à elaboração de um documento cujos resultados sejam comparáveis àqueles obtidos pelos Inventários Brasileiros de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa. Seguindo a classificação utilizada pelo IPCC, o inventário foi classificado em cinco grandes setores, de acordo com a origem das emissões: energia; processos industriais; uso da terra, mudança no uso da terra e florestas; agropecuária e resíduos. Os Relatórios de Referência do Inventário Estadual de Gases de Efeito Estufa do Estado de São Paulo foram disponibilizados para consulta pública em outubro de 2010, sendo disponibilizados os seguintes relatórios: • Inventário de Emissão de Metano pelo Cultivo de Arroz Irrigado por Inundação do Estado de São Pau- lo, 1990 a 2008; • Inventário de Emissões de Óxido Nitroso pelo Manejo de Dejetos e dos Solos Agrícolas no Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa pela Combustão e Fugitivas de Petróleo no Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário das Emissões de CO2 por queima de combustíveis no Estado de São Paulo, 1990 a 2008: Abordagem de Referência (Top Down); • Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa associadas ao Transporte Aéreo do Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa associadas ao Transporte Ferroviário do Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário de Emissão Atmosféricas nos Processos Industriais de Alimentos e Bebidas no Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa associadas aos Processos Industriais: Produtos Mine- rais, Produção de Cimento do Estado de São Paulo, 1990 a 2008; 175
- 195. • Inventário de Emissão dos Gases de Efeito Estufa associados ao Setor de Espumas do Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário de Emissão Atmosféricas dos Gases de Efeito Estufa associadas aos Processos Industriais da Produção de Papel e Celulose do Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário de Emissão dos Gases de Efeito Estufa dos Clorofluorcarbonetos (CFC), Hidrofluorcarbo- netos (HCFC),Hidrofluorcarbonos (HFC), Perfluorcarbonos (PFC) e Hexafluoreto de Enxofre (SF6), no setor de solventes e agentes de limpeza do Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário de Emissão Atmosféricas dos Gases de Efeito Estufa associados aos Processos Industriais do Setor de Vidro no Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário de Emissão dos Gases de Efeito Estufa no Setor de Resíduos e Efluentes do Estado de São Paulo, 1990 a 2008; • Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Setor Uso da Terra, Mudança do uso da Terra e Florestas do Estado de São Paulo, 1994 a 2008. Estes relatórios apresentam o método empregado nas estimativas de cada setor, as premissas e os dados utiliza- dos, e sintetizam os resultados obtidos nos trabalhos desenvolvidos pelas instituições parceiras. Em abril de 2011 está previsto a publicação do Inventário. Além disso, o Estado de São Paulo vem instituindo programas e projetos que tendem a contribuir com a temá- tica de mudanças climáticas, dentre os quais podemos destacar: • Projeto Ambiental Estratégico Mata Ciliar: tem como objetivo promover a recuperação das matas ciliares no Estado, contribuindo para a ampliação da cobertura vegetal de 13,9% para 20% do território estadual. Entre as metas específicas do Projeto estão: delimitar e demarcar 1,7 milhão de hectares de mata ciliar; interditar e proteger 1 milhão de hectares para regeneração natural; replantar e reflorestar 180 mil hectares; fomentar a recuperação e a proteção das principais nascentes em cada município; cumprir o contrato com o Banco Mundial para execução de projetos de restauração de mata ciliar em 15 microbacias e do plano de Educação Ambiental; normatizar critérios e metodologias para recuperação de mata ciliar; e implementar um programa de gestão de produção de sementes e mudas. • Projeto Ambiental Estratégico Etanol Verde: visa, dentre outras ações voltadas à preservação do meio ambiente, eliminar a prática da queima da palha da cana-de-açúcar no Estado através do Protocolo Agro- ambiental Paulista, assinado entre a SMA e os produtores de açúcar e álcool. Pelo menos 90% das usinas paulistas já aderiram ao Protocolo, totalizando 155 unidades, além de 23 associações de fornecedores de cana. Os resultados do Etanol Verde já são extremamente importantes no contexto da produção de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, e a expectativa é de pleno atingimento das metas estabelecidas, com o avanço do fim da queima da palha da cana no Estado. Também houve progressos significativos na preservação e recuperação de matas ciliares, no uso da água no processo industrial e na implementação do inovador zoneamento agroambiental do setor sucroalcooleiro – itens que passaram a compor as dire- trizes técnicas para o licenciamento das usinas. • Projeto Ambiental Estratégico Lixo Mínimo: tem como prioridade promover a minimização dos re- síduos sólidos urbanos por meio do apoio técnico e financeiro aos municípios. Alinhado aos princípios estabelecidos na Política Estadual de Resíduos Sólidos, o projeto busca estimular a adoção de práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação de energia e, por fim, a destinação adequada dos rejeitos inaproveitáveis. As metas específicas do Lixo Mínimo são: eliminar, no território do Estado, os aterros em situação inadequada, de acordo com o Índice de Qualidade de 176
- 196. Aterro de Resíduos (IQR); incentivar a adoção de soluções regionais, por meio de ações integradas dos municípios nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI); desenvolver e implemen- tar o Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR); incentivar a implementação de Programas de Coleta Seletiva, visando à reciclagem; e executar ações de educação ambiental no Estado. • Projeto Ambiental Estratégico Desmatamento Zero: tem como objetivo instituir uma moratória para o desmatamento; tornar mais rigoroso o licenciamento e mais efetivas as medidas mitigadoras; aprimorar as ações de fiscalização da Polícia Ambiental e a punição dos crimes ambientais para garantir a conser- vação da biodiversidade, o projeto se destacou na proposição de novas normas para a atuação do Sistema de Meio Ambiente. • Projeto Ambiental Estratégico São Paulo Amigo da Amazônia: visa desenvolver estratégias para re- duzir a demanda por madeira; intensificar a fiscalização da Polícia Militar Ambiental na entrada de madeira ilegal da Amazônia no território paulista; fiscalizar as madeireiras que comercializam no ata- cado; incentivar o empreendimento de florestas plantadas, bem como valorizar empresas que utilizem madeira sustentável. As principais metas são: implementar ações visando a diminuição da utilização e da comercialização de madeira proveniente da região amazônica; fiscalizar o transporte e o comércio ilegal de madeira de origem nativa. • Projeto Ambiental Estratégico Serra do Mar: tem como objetivo recuperar as áreas ocupadas nas encostas do Parque Estadual da Serra do Mar, eliminando riscos para as precárias moradias; proteger a biodiversidade e a oferta de água, restaurar de áreas degradadas, e implementar projetos de educação ambiental para a população local. Um dos principais parceiros neste projeto é a Secretaria de Habitação/ Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). • Economia Verde: a Secretaria do Meio Ambiente promoveu durante o mês de dezembro de 2010, a primeira Bolsa Internacional de Negócios da Economia Verde (BINEV), com o objetivo de apresen- tar uma proposta de desenvolvimento que busca instituir novos vetores de crescimento econômico, novas fontes de empregabilidade e soluções consistentes para a melhoria da qualidade ambiental de vida no Estado. energia renovável O setor energético é um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, em função de grande parte da energia utilizada no mundo ter como fonte os combustíveis fósseis. A busca por fontes de “energia lim- pa”, ou seja, de baixa emissão de carbono, é um dos grandes desafios na tentativa de minimizar o aquecimento global. No Estado de São Paulo, a Secretaria de Saneamento e Energia divulga anualmente, no Balanço Energé- tico do Estado de São Paulo (BEESP), a composição da matriz energética do Estado, a participação setorial no consumo energético, bem como a estimativa das emissões de dióxido de carbono provenientes do consumo de combustíveis. A Figura 3.63 a seguir, apresenta a participação dos energéticos no consumo final de energia do Estado de São Paulo em 2009. 177
- 197. FiGura 3. 63 ParticiPação dos enerGéticos no consuMo enerGético Final do estado de são Paulo eM 2009 4% 6% 35% 9% Derivados de Petróleo Biomassa Eletricidade 20% Álcool E lico Gás Natural Outras 26% Fonte: São Paulo (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) No ano de 2009, as fontes renováveis de energia, como a biomassa, o etanol e a hidroeletricidade, representaram aproximadamente 57% do total consumido de energia no Estado de São Paulo, fato extremamente importante para a redução das quantidades de CO2 emitidas, uma vez que estas fontes renováveis têm balanço de carbono considerado nulo. A Figura 3.64 a seguir, apresenta a evolução da participação da energia renovável na matriz energética paulista de 1995 a 2009. FiGura 3. 64 ParticiPação renovável na Matriz enerGética do estado de são Paulo de 1995 a 2009 0,60 0,57 0,55 0,54 Par cipação Renovável 0,52 0,50 0,50 0,46 0,49 0,45 0,48 0,44 0,44 0,45 0,46 0,43 0,45 0,45 0,44 0,40 0,35 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: São Paulo (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Podemos observar que apesar da maior parte da energia utilizada no Estado de São Paulo ser de fonte renovável, os combustíveis fósseis ainda têm relevância na matriz energética, pois aproximadamente 35% do total de ener- 178
- 198. gia consumida em 2009 tiveram como fonte o petróleo e seus derivados. O setor de transportes, cuja matriz é majoritariamente rodoviária, foi o maior responsável pelo consumo dos combustíveis fósseis, seguido pelo setor industrial. Mesmo com a crescente participação dos combustíveis renováveis na matriz paulista, o diesel ainda é o energético mais consumido no setor de transportes. dióxido de carbono Outro indicador importante refere-se à intensidade de emissão de dióxido de carbono, que relaciona o Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo com a emissão de CO2 proveniente do uso energético. Esse indicador tem apresentado queda contínua nos últimos anos, como consequência do aumento da participação da “energia limpa” na matriz energética. A Figura 3.65 a seguir, apresenta a evolução da intensidade de emissão de carbono, de 1995 a 2009. FiGura 3. 65 intensidade de eMissão de carbono no estado de são Paulo de 1995 a 2009 0,14 0,12 0,114 0,114 0,116 0,107 0,103 0,111 0,101 0,097 0,10 t CO2/R$ 0,103 0,094 0,102 0,091 0,090 0,086 0,08 0,081 0,06 0,04 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: São Paulo (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Quanto às emissões de CO2, o setor de transportes foi responsável por mais da metade das emissões, superando a soma das emissões de todos os outros setores. De forma evidente, o modal rodoviário respondeu pela expres- siva maioria das emissões do setor. A seguir são apresentadas as participações dos setores na emissão de dióxido de carbono (Figura 3.66) e mais a frente o detalhamento das emissões do setor de transportes (Figura 3.67). 179
- 199. FiGura 3. 66 ParticiPação dos setores na eMissão de co2 do estado de são Paulo eM 2009 0,92% 3,13% 3,10% 0,64% Transportes 5,66% 56,82% Industrial Residencial Agropecuário Energé co 29,73% Comercial Público Fonte: São Paulo (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 67 eMissão de co2 no setor de transPortes no estado de são Paulo eM 2009 3,61% 1,20% 13,38% 81,81% Rodoviário Aéreo Hidroviário Ferroviário Fonte: São Paulo (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) referências BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Coordenação-Geral de Mudanças Globais de Clima, 2010. 2º Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Brasília: MCT, 2010. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. Consulta Pública dos Relatórios de Referência para o Inven- tário Estadual de Gases de Efeito Estufa do Estado de São Paulo. 2010i. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br>. Acesso em: dez.2010. FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP. Contribuições da pesquisa paulista para o conhecimento sobre mudanças climáticas (1992-2008). São Paulo: FAPESP, 2008. MARENGO, J. A. Mudanças Climáticas Globais e seus Efeitos sobre a Biodiversidade: Caracterização do Clima Atual e Definição das Alterações Climáticas para o Território Brasileiro ao longo do Século XXI. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2007. PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA – IPCC. Sumário para os formuladores de políti- cas. Contribuição do Grupo de Trabalho I para o Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima. IPCC: 2007. SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Saneamento e Energia. Balanço Energético do Estado de São Paulo 2010: Ano Base 2009. São Paulo: SSE/SP, 2010. 180
- 200. 3.8 saúde e Meio ambiente A área da Saúde Ambiental abre novos caminhos para pesquisas e estudos e possibilita a consolidação de ligações e parcerias entre os campos da saúde e meio ambiente, seus profissionais e as instituições de governo responsáveis pela elaboração de políticas públicas relacionadas ao tema. A melhor compreensão da relação entre saúde e meio ambiente, seus determinantes populacionais, suas implicações na análise da situação sanitária e ambiental, no desenvolvimento de políticas, entre outros campos da nossa sociedade, fez com que o tema passasse a incorporar outras dimensões, quer sejam da saúde ou do meio ambiente, extrapolando os campos de conhecimento e demandando dos poderes públicos soluções que tenham como ponto de partida a interação dos conhecimentos anteriormente estabelecidos para estas ciências. Gouveia (1999), já apontava o distanciamento dos temas saúde e meio ambiente, mostrando que a dissociação destas áreas seria prejudicial tanto a uma quanto à outra, pois: “(...) a separação conceitual, e até prática, entre meio ambiente e saúde precisa ser revertida. Enquanto as políticas de saúde, os recursos e as instituições da área têm se concentrado principalmente no tratamento (...) as políticas e os movimentos ambientais se distanciaram dos temas relacionados à saúde. É preciso, portanto, uma reincorporação das questões do meio ambiente nas políticas de saúde e a integração dos objetivos da saúde ambiental numa ampla estratégia de desenvolvimento sustentável.” Mais recentemente, Freitas e Porto (2006) apontaram para a necessidade de aproximação entre as políticas sanitárias e ambientais, salientando a necessidade imperiosa de ultrapassarmos a cisão entre estas áreas para não nos prendermos ao retrocesso que a falta deste diálogo causa na solução de problemas que afligem a sociedade em sua totalidade: “Não há dúvida de que os problemas relacionados à sustentabilidade ambiental e de saúde estão relacionadas ao processo histórico e social, como procuramos demonstrar. Porém, o que se constata (...) é a predominância de abordagens que tendem a restringir a saúde aos seus aspectos biológicos e o ambiente aos seus aspectos biofísicos.” As respostas necessárias a problemas como as desigualdades socioambientais, a degradação ambiental ou os impactos resultantes destas sobre a saúde de grupos populacionais, derivados de um modelo hegemônico de desenvolvimento lesivo que não considera aspectos demográficos, de saúde ou de utilização de recursos naturais, só podem ser superadas com ações integradoras e de viés interdisciplinar, ou seja, ações do campo da saúde ambiental. Como uma boa e feliz coincidência, dez anos após a publicação do primeiro texto citado ocorre a 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental (CNSA), em Brasília no mês de dezembro de 2009, iniciativa conjunta dos Ministérios das Cidades, da Saúde e do Meio Ambiente que visava, entre outras metas, a diminuição das consequências decorrentes das três dimensões de vulnerabilidades entre a saúde e o meio ambiente, conforme visto na Tabela 3.52. tabela 3. 52 diMensões das vulnerabilidades entre saúde e Meio aMbiente vulnerabilidade Problemas acarretados Saneamento ambiental inadequado Prevalência de problemas de saúde pública Impactos negativos na saúde da população, em função da industrialização e Modelo de desenvolvimento urbanização acelerada e da ocupação desordenada da terra Fenômenos ambientais de escala global Impacto na saúde decorrente do aquecimento da Terra gerado pela mudança do clima Fonte: CNSA (2010) 181
- 201. Dentre os resultados da 1ª CNSA destaca-se a idéia da criação de uma Política Nacional de Saúde Ambiental, que paute os investimentos, ações e programas (intersetoriais) para a área, atentando para as possíveis relações entre os fatores ambientais e a saúde. A 1ª CNSA propôs, ainda, uma série de diretrizes e ações que apontam para a necessidade de uma maior articulação entre as áreas de saúde, de meio ambiente e de infraestrutura, para que, desta forma, possa se iniciar um processo efetivo de construção de políticas públicas na área da saúde am- biental. O Estado de São Paulo participou ativamente do processo de construção da 1ª CNSA com a realização da 1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental (CESA), realizada no mês de outubro de 2009, e que mobilizou aproximadamente 2.000 pessoas. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente foi parte ativa neste processo des- locando recursos financeiros e humanos para a realização da conferência e, ainda, sendo coorganizadora junto à Secretaria de Estado da Saúde, na etapa estadual. Os 98 delegados eleitos pela 1ª CESA levaram para a etapa nacional da conferência seis diretrizes, aqui resumidas: • Garantia e aperfeiçoamento do controle social do Sistema Único de Saúde (SUS); • Estabelecimento de uma política de saúde ambiental nas três esferas de governo; • Estabelecimento de estratégias de educação visando o desenvolvimento sustentável; • Priorização de políticas integradas de saúde e meio ambiente para recuperação e preservação de recursos hídricos; • Promoção de políticas públicas que combatam o aquecimento global; e • Definição de prioridades visando a eliminação da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais. A cada uma destas diretrizes, se relacionam duas ações estratégicas que possibilitam a implementação das mes- mas. A 1ª CESA foi mais um passo na direção do estreitamento entre as políticas públicas de saúde e meio ambiente no Estado de São Paulo, colocando na ordem do dia as lições preconizadas há mais de dez anos, que indicavam o melhor caminho para o campo da saúde ambiental. 3.8.1 Mortalidade infantil A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) – óbitos de menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos – é considerada, tradicionalmente, como um dos mais sensíveis indicadores de saúde e também das condições socioeconômicas e ambientais da população. Mede o risco que tem um nascido vivo de morrer antes de completar um ano de vida, fato que está ligado às condições de habitação, saneamento, nutrição, educação e também de assistência à saúde, principalmente ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. No Estado de São Paulo, verificou-se na última década uma queda acentuada da Taxa de Mortalidade Infantil, indicando o esforço por parte do governo para a minoração do problema. A redução é notada quando observa- mos (Tabela 3.53) a evolução da TMI para o Estado de São Paulo desde 2004 (14,25 por mil nascidos vivos) até 2009 (12,48 por mil nascidos vivos), período em que pudemos verificar um decréscimo de 12%. A redução da TMI em São Paulo é ressaltada pelo fato da queda também ter ocorrido no índice de óbitos infantis, um de- créscimo da ordem de 16% entre 2004 e 2009, indicando o acerto da política de saúde para a prevenção e queda das taxas de mortalidade nos períodos do pré e pós-natal. Para que a mortalidade infantil em São Paulo continue em redução gradativa e contínua é extremamente importante que o trabalho do Governo do Estado, em parce- ria com as prefeituras, se mantenha, especialmente em relação ao aprimoramento das medidas de assistência à gestação e ao parto. 182
- 202. tabela 3. 53 taxa de Mortalidade inFantil no estado de são Paulo de 2004 a 2009 estado de são Paulo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 População residente 39.326.776 39.949.487 40.484.029 40.653.736 41.139.672 41.633.802 nascidos vivos 626.804 619.107 604.026 595.509 601.872 598.383 óbitos infantis 8.933 8.323 8.024 7.786 7.561 7.470 tMi (1) 14,25 13,44 13,28 13,07 12,56 12,48 Fonte: SEADE (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: 1 – Nº de óbitos infantis/Nº de nascidos vivos*1000 As Figuras 3.68 e 3.69 mostram respectivamente a evolução do número de óbitos infantis e a Taxa de Mortali- dade Infantil no Estado de São Paulo de 2004 a 2009. FiGura 3. 68 núMero de óbitos inFantis no estado de são Paulo de 2004 a 2009 Número de óbitos infan s 9.500 9.000 8.933 8.500 8.323 8.024 8.000 7.786 7.561 7.470 7.500 7.000 6.500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: SEADE (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) 183
- 203. FiGura 3. 69 taxa de Mortalidade inFantil no estado de são Paulo de 2004 a 2009 Taxa de Mortalidade Infan l 14,5 14,25 14,0 13,44 13,5 13,28 13,07 13,0 12,56 12,48 12,5 12,0 11,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: SEADE (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) A seguir (Tabela 3.54), são apresentados os valores da TMI para as 22 UGRHI do Estado de São Paulo em 2009, ressaltando a necessidade de ações específicas para reduzir as diferenças das TMI inter-regionais, com vistas a se alcançar uma situação mais equilibrada nesse indicador. Destaca-se que das 22 UGRHI, 12 delas apresentam taxas menores que a TMI estadual, entre elas a UGRHI 04 (Pardo), que apresenta a menor taxa dentre todas as bacias (9,39 mortes por mil nascidos vivos). Entre as que apresentam as maiores taxas merecem atenção as UGRHI 01 (Mantiqueira) e 07 (Baixada santista), com 23,33 e 18,83 mortes por mil nascidos vivos respectivamente. 184
- 204. tabela 3. 54 taxa de Mortalidade inFantil Por uGrHi eM 2009 uGrHi População residente nascidos vivos óbitos infantis tMi (1) 01 – Mantiqueira 68.719 986 23 23,33 02 – Paraíba do sul 2.015.719 27.936 354 12,67 03 – litoral norte 274.514 4.336 63 14,53 04 – Pardo 1.083.893 14.375 135 9,39 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí 5.041.586 68.918 745 10,81 06 – alto tietê 19.750.628 306.577 3.780 12,33 07– baixada santista 1.687.096 24.222 456 18,83 08 – sapucaí/Grande 693.425 9.294 144 15,49 09 – Mogi-Guaçu 1.461.515 19.127 235 12,29 10 – sorocaba/Médio tietê 1.861.631 25.534 357 13,98 11 – ribeira de iguape/litoral sul 385.073 5.503 70 12,72 12 – baixo Pardo/Grande 331.989 4.445 46 10,35 13 – tietê/Jacaré 1.511.834 19.035 227 11,93 14 – alto Paranapanema 746.704 10.372 161 15,52 15 – turvo/Grande 1.242.827 14.757 158 10,71 16 – tietê/batalha 513.029 6.268 80 12,76 17 – Médio Paranapanema 683.485 9.132 102 11,17 18 – são José dos dourados 226.467 2.426 27 11,13 19 – baixo tietê 743.489 9.286 115 12,38 20 – aguapeí 365.476 4.323 61 14,11 21 – Peixe 462.940 5.373 64 11,91 22 – Pontal do Paranapanema 481.763 6.087 63 10,35 estado de são Paulo 41.633.802 598.383 7.470 12,48 Fonte: SEADE (2010c), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: 1 – Nº de óbitos infantis/Nº de nascidos vivos*1000 Para uma comparação mais abrangente, apresentamos a seguir (Tabela 3.55) dados sobre a taxa de mortalidade no período pós neonatal10 de diversos países para o ano de 2009, disponibilizados na base de dados do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) da Universidade de Washington. Os dados possibilitam a com- paração das taxas para 187 países e, por meio desta, vê-se que a situação paulista (65º lugar) para esta seleção, se não é confortável quando comparada com outras nações mais desenvolvidas, tem um desempenho mediano se comparado com países de número populacional similar, como a Colômbia (80º lugar) com uma população de aproximadamente 44 milhões de habitantes e a Ucrânia (64º lugar) com uma população aproximada de 45 milhões de habitantes. 10 Compreende a relação entre os óbitos infantis do período de 28 a 364 dias de vida completos, ocorridos e registrados numa determinada unidade geo- gráfica e período de tempo, e os nascidos vivos no mesmo período e localidade, segundo a fórmula: Taxa de Mortalidade Pós Neonatal = Óbitos Infantis de 28 a 364 Dias/Nascidos Vivos*1000. 185
- 205. tabela 3. 55 Mortalidade no Período Pós neonatal eM diversos Países no ano de 2009 País Mortalidade no período pós neonatal 1 - emirados árabes unidos 0,56 2 - itália 0,78 3 - islândia 0,80 4 - eslovênia 0,85 5 - Finlândia 0,86 6 - suécia 0,89 7 - chipre 0,91 8 - luxemburgo 0,91 9 - singapura 0,92 10 - Portugal 0,99 42 - chile 2,27 64 – ucrânia 3,72 65 - estado de são Paulo 3,81 69 - argentina 3,96 75 - uruguai 4,61 80 - colômbia 5,33 81 - venezuela 5,64 94 - Paraguai 7,61 101 - brasil 8,55 103 – Peru 8,58 116 - equador 11,47 135 - bolívia 17,59 Fonte: IHME (2010) 3.8.2 Mortalidade por doenças de veiculação hídrica O modelo de crescimento econômico brasileiro tem gerado grandes concentrações de renda e de infraestrutura, tendo como consequência, significativos segmentos da sociedade se distanciando de um nível de qualidade de vida satisfatório, decorrendo, daí, a ocorrência de diversas doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Alguns dos impactos causados na saúde humana pela poluição da água, bem como pelos efeitos de condições de moradia inadequada e da falta de acesso aos serviços básicos de saneamento, sobretudo nas áreas metropolitanas, podem levar a situações de descontrole sanitário, ocasionando surtos de doenças de veiculação hídrica. No Estado de São Paulo, apesar dos avanços nos serviços de saneamento (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas) observados no Estado de São Paulo, a ocorrência de doenças de veiculação hídrica continua sendo um indicador indireto da inexistência e/ou baixa eficiência destes serviços. Podemos observar na Tabela 3.57 e na Figura 3.71 que a mortalidade por doenças de veiculação hídrica no Estado de São Paulo vêm se mantendo num mesmo nível desde 2005. Os dados de morbidade hospitalar oriundos do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema Único de Saúde (SUS), gerido pelo Ministério da Saúde (MS), em conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, têm se mostrado como a melhor fonte para se compreender a extensão do problema (LIBANIO et al., 2005). Podemos observar na Tabela 3.56 e na Figura 3.70 que o valor gasto pelo 186
- 206. SUS com internações devido a doenças de veiculação hídrica no Estado de São Paulo em 2009, apresentou uma leve queda em relação ao ano de 2006. Porém, vale ressaltar que de janeiro a novembro de 2010, o valor gasto já tinha ultrapassado o montante de 2009 e somava pouco mais de R$ 13 milhões. tabela 3. 56 Gasto de Morbidade coM doenças de veiculação Hídrica no estado de são Paulo de 2006 a 2009 doença 2006 2007 2008 2009 diarréia e gastroenterite R$ 5.475.054,72 R$ 4.816.787,71 R$ 5.657.754,48 R$ 5.740.712,49 outras doenças inf. intestinais R$ 5.196.663,73 R$ 4.804.257,97 R$ 3.129.188,76 R$ 3.058.389,36 leptospirose R$ 354.198,05 R$ 430.109,84 R$ 423.223,38 R$ 517.853,21 Hepatite aguda b R$ 137.685,41 R$ 128.660,48 R$ 333.271,20 R$ 162.453,24 outras hepatites virais R$ 511.196,76 R$ 538.719,73 R$ 563.534,57 R$ 576.076,48 leishmaniose R$ 119.141,75 R$ 108.628,97 R$ 168.283,73 R$ 143.279,74 esquistossomose R$ 27.615,10 R$ 30.075,05 R$ 23.882,75 R$ 39.428,73 outras helmintíases R$ 103.011,79 R$ 106.903,82 R$ 223.309,40 R$122.893,66 outras doenças inf. e parasitárias R$3.136.072,70 R$ 3.166.198,79 R$ 2.476.604,92 R$ 2.150.102,93 total r$15.060.640,01 r$14.130.342,36 r$ 12.999.053,19 r$12.511.189,84 Fonte: MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: Valor total = Valor referente as Autorização de Internação Hospitalar (AIH) pagas no período, na unidade monetária da época. FiGura 3. 70 evolução do Gasto de Morbidade coM doenças de veiculação Hídrica no estado de são Paulo de 2006 a 2009 Gasto com morbidade de doenças de veículação hídrica 16,0 15,1 15,0 14,1 Milhões de Reais (R$) 14,0 13,0 13,0 12,5 12,0 11,0 10,0 2006 2007 2008 2009 Fonte: MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) 187
- 207. tabela 3. 57 Mortalidade Por doenças de veiculação Hídrica no estado de são Paulo de 2005 a 2009 doença 2005 2006 2007 2008 2009 diarréia e gastroenterite 587 727 660 664 504 outras doenças inf. intestinais 24 34 44 59 87 leptospirose 47 75 79 58 69 Hepatite viral 883 835 856 855 924 leishmaniose 14 16 13 23 17 esquistossomose 76 85 83 72 87 outras helmintíases 19 8 4 7 4 outras doenças inf. e parasitárias 266 280 259 267 261 total 1.916 2.060 1.998 2.005 1.953 Fonte: SEADE (2010c) e MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 71 evolução da Mortalidade Por doenças de veiculação Hídrica no estado de são Paulo de 2005 a 2009 Mortalidade por doenças de veículação hídrica 2.100 2.060 2.050 1.998 2.005 2.000 1.953 1.950 1.916 1.900 1.850 1.800 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: SEADE (2010c) e MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) 3.8.3 Mortalidade por doenças do aparelho respiratório Um dos efeitos da poluição atmosférica na saúde da população é o aumento de internações hospitalares por doenças respiratórias em direta correlação com a queda da qualidade do ar. As alterações ocorridas no país e no Estado de São Paulo nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI forçou os sistemas de saúde e de meio ambiente a repensarem a forma de gerir novos problemas, pois, segundo Caiaffa (2008): (...) o impacto do surgimento das cidades contemporâneas nos últimos cinqüenta anos, tal como ocorreu anteriormente na Europa, interligou-se à profunda mudança do perfil demográfico do país, com declínio do coeficiente de mortalidade geral, redução da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida e conseqüente modificação do perfil epidemiológico. (...). Assim, de forma cosmopolita, o viver na cidade pode ser benéfico, conhecido como a “vantagem do urbano”, ou pode ser nocivo, conhecido como a “penalidade do urbano”. (...) Nesta direção, o conceito de saúde deveria incorporar o cotidiano dos indivíduos vivendo nas cidades, sob a ótica ampliada de que o estudo individualizado dos fatores determinantes na saúde e suas conseqüências, antes reducionista, não pode ignorar as relações de interdependência que existem entre o indivíduo e o meio físico, social e político onde ele vive e se insere. 188
- 208. O nível de poluentes atmosféricos, o número de internações hospitalares – morbidade – de crianças (aqui compreendidas na faixa de menos de um ano a nove anos) e de idosos (na faixa etária de 60 anos ou mais), os valores no orçamento da saúde pública gastos com o tratamento destas afecções e os óbitos decorrentes das doenças respiratórias no Estado de São Paulo, serão tratados neste tópico. Vale ressaltar que os grupos etários escolhidos (crianças e idosos) são os que apresentam maior suscetibilidade aos efeitos da poluição atmosférica no aparelho respiratório (MARTINS, 2002). A análise dos dados de internação para a faixa etária de menos de um ano a nove anos indica a manutenção do que é visto há tempos: o aumento das internações coincide com os períodos em que a dispersão dos poluentes é mais prejudicada (Outono, Inverno e início da Primavera), com a queda abrupta nos meses em que a temperatura alcança valores mais altos, conforme indicam a Tabela 3.58 e a Figura 3.72, que apresentam o número de internações ao longo de 2009 para duas das doenças do aparelho respiratório mais constatadas em crianças, Pneumonia e Asma. tabela 3. 58 núMero de internações HosPitalares Por doenças no aParelHo resPiratório no estado de são Paulo eM 2009 (Faixa etária de Menos de 1 ano a 9 anos) doença Jan Fev Mar abr Mai Jun Jul ago set out nov dez Pneumonia 2.508 2.416 4.064 6.153 7.282 6.210 6.247 5.649 5.450 4.858 4.446 3.663 asma 500 594 1.129 1.146 1.215 1.047 915 765 875 743 748 692 Fonte: MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 72 evolução do núMero de internações HosPitalares Por doenças no aParelHo resPiratório no estado de são Paulo eM 2009 (Faixa etária de Menos de 1 ano a 9 anos) Pneumonia Asma 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Ao exercer enorme pressão sobre os serviços de saúde estas duas afecções elevam igualmente os gastos de internações. Vê-se, pelos dados levantados junto ao Ministério da Saúde (MS), que o aumento dos gastos é constante para este grupo etário (Tabela 3.59). 189
- 209. tabela 3. 59 Gasto de Morbidade Por doenças do aParelHo resPiratório no estado de são Paulo de 2006 a 2009 (Faixa etária de Menos de 1 ano a 9 anos) doença 2006 2007 2008 2009 Pneumonia e asma R$ 38.323.609,35 R$ 40.106.881,86 R$ 46.744.490,14 R$ 55.986.210,33 Fonte: MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: Valor total = Valor referente as Autorização de Internação Hospitalar (AIH) pagas no período, na unidade monetária da época. Pela Tabela 3.60 e pela Figura 3.73, podemos notar uma queda nas mortes ocorridas por doenças no aparelho respiratório para faixa etária de menos de um ano a nove anos, da ordem de 21% entre os anos de 2006 e 2009. tabela 3. 60 Mortalidade Por doenças do aParelHo resPiratório no estado de são Paulo de 2006 a 2009 (Faixa etária de Menos de 1 ano a 9 anos) restante outras infecções doenças crônicas de doenças ano influenza (gripe) Pneumonia agudas das vias das vias aéreas total do aparelho aéreas inferiores inferiores respiratório 2006 1 523 57 25 222 828 2007 1 493 47 25 189 755 2008 0 417 60 23 157 657 2009 52 427 6 26 139 650 Fonte SEADE (2010c) e MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 73 evolução da Mortalidade Por doenças do aParelHo resPiratório no estado de são Paulo de 2006 a 2009 (Faixa etária de Menos de 1 ano a 9 anos) Mortalidade por doenças do aparelho respiratório 900 828 800 755 700 657 650 600 500 2006 2007 2008 2009 Fonte SEADE (2010c) e MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) 190
- 210. Ao abordarmos a outra faixa etária (60 anos ou mais) que é agredida de forma mais severa pela poluição atmos- férica, percebe-se uma elevação nos números, quer seja de gastos com internações ou de mortalidade por doenças respiratórias. Esse fato, aliado à forte correlação entre a mortalidade de idosos e as doenças do aparelho respira- tório (DAUMAS, 2004), demonstra que ações que incorram na diminuição destes índices devem ser tomadas com a máxima urgência. A Figura 3.74 mostra, para algumas das doenças mais constatadas em idosos, a evolução do número de internações por doenças do aparelho respiratório na última década. O aumento de 15% no numero de internações, de 2001 para 2009, demonstra cabalmente como tem sido afetada a saúde da população idosa por conta da poluição atmosférica. FiGura 3. 74 evolução do núMero de internações HosPitalares Por doenças no aParelHo resPiratório no estado de são Paulo eM 2009 (Faixa etária de 60 anos ou Mais) Pneumonia, Bronquite, Enfisema e outras doenças pulmonares crônicas e outras doenças do aparelho respiratório 68.000 65.988 66.000 64.000 62.000 61.011 60.000 58.000 57.154 56.000 2001 2005 2009 Fonte: MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Quando analisamos os custos de morbidade para um grupo de doenças respiratórias agravadas pela poluição atmosférica, acabamos também estimando o impacto econômico da poluição do ar na saúde da parcela da popu- lação estudada e, a partir disso, percebemos a necessidade premente de se traçar uma estratégia conjunta entre ações que permeiem tanto a área da saúde como a de meio ambiente. O crescimento dos gastos, assim como a do número internações hospitalares, é constante, e pode ser visto na Tabela 3.61 que segue. tabela 3. 61 Gasto de Morbidade Por doenças do aParelHo resPiratório no estado de são Paulo de 2006 a 2009 (Faixa etária de 60 anos ou Mais) doença 2006 2007 2008 2009 Pneumonia, bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares crônicas e outras doenças R$ 42.770.044,45 R$ 52.780.485,72 R$ 61.727.488,28 R$ 78.786.115,72 do aparelho respiratório Fonte: MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota: Valor total = Valor referente as Autorização de Internação Hospitalar (AIH) pagas no período, na unidade monetária da época. 191
- 211. A Tabela 3.62 e a Figura 3.75 mostram a evolução da mortalidade por doenças do aparelho respiratório em idosos, de 2006 a 2009. tabela 3. 62 Mortalidade Por doenças do aParelHo resPiratório no estado de são Paulo de 2006 a 2009 (Faixa etária de 60 anos ou Mais) restante outras infecções doenças crônicas de doenças ano influenza (gripe) Pneumonia agudas das vias das vias aéreas total do aparelho aéreas inferiores inferiores respiratório 2006 8 9.448 13 8.479 3.141 21.089 2007 21 10.403 11 8.368 3.004 21.807 2008 10 11.203 15 8.287 2.953 22.468 2009 52 13.348 33 7.828 3.153 24.414 Fonte SEADE (2010c) e MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) FiGura 3. 75 evolução da Mortalidade Por doenças do aParelHo resPiratório no estado de são Paulo de 2006 a 2009 (Faixa etária de 60 anos ou Mais) Mortalidade por doenças do aparelho respiratório 25.000 24.414 24.000 23.000 22.468 22.000 21.807 21.000 21.089 20.000 2006 2007 2008 2009 Fonte SEADE (2010c) e MS (2010), elaborado por SMA/CPLA (2010) O aumento de 16% no número de óbitos de idosos verificado no período indica uma situação preocupante, merecendo maior atenção por parte do poder público, principalmente se pensarmos no processo de transição demográfica pelo qual o Estado de São Paulo passará, onde, a partir de 2025, está previsto para suas populações mais idosas ultrapassarem as mais jovens. referências CAIAFFA, W. T. et al . Saúde urbana: “a cidade é uma estranha senhora, que hoje sorri e amanhã te devora”. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, n. 6, dez. 2008. CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL – CNSA. Resumo Executivo da 1° Conferência Nacional de Saúde Ambiental. Brasília, 2010. 192
- 212. DAUMAS, R. P; MENDONCA, G. A. S; LEON, A. P. Poluição do ar e mortalidade em idosos no Município do Rio de Janeiro: análise de série temporal. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, fev. 2004. FREITAS, C.M; PORTO, M.F. Saúde, ambiente e sustentabilidade. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE. Informações dos Municípios Paulistas. 2010c. Dis- ponível em: <http://www.seade.sp.gov.br>. Acesso em: dez.2010. GOUVEIA, N. Saúde e meio ambiente nas cidades: os desafios da saúde ambiental. Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 8, n. 1, fev. 1999. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-901999000100005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: jan. 2011. INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION – IHME. 2010. Disponível em: <http://www.healthmetricsande- valuation.org/data/2010/child_mortality/child_mortality_IHME_0610.xls>. Acesso em: jan.2011. LIBANIO, P. A. C; CHERNICHARO, C. A. L; NASCIMENTO, N. O. A dimensão da qualidade de água: avaliação da relação entre indicadores sociais, de disponibilidade hídrica, de saneamento e de saúde pública. Eng. Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, set. 2005. MARTINS, L. C. et al . Poluição atmosférica e atendimentos por pneumonia e gripe em São Paulo, Brasil. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 36, n. 1, fev. 2002 . MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS. Informações de Saúde. 2010. Disponível em <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em: dez. 2010. 193
- 213. 194
- 214. 4 visões ambientais
- 215. 196
- 216. Neste capítulo são apresentados cinco textos analíticos. Trata-se de reflexões acerca de temas estratégicos que buscam apre nder as relações entre desenvolvimento e meio ambiente no Estado de São Paulo. É importante e ressaltar que os textos são assinados por especialistas dentro de cada área específica abordada e representam so- mente a opinião destes, não refletindo a posição desta Secretaria do Meio Ambiente, muito menos do Governo do Estado de São Paulo. O primeiro e o segundo texto intitulados respectivamente de “O fortalecimento da segurança alimentar e am- biental no Estado de São Paulo na concepção do novo Código Florestal brasileiro” e “O Código Florestal tem base científica?”, têm como objetivo analisar como a iniciativa de alterar o Código Florestal brasileiro, uma lei estruturante dos esforços do País pela conservação de seus recursos naturais, e em especial de sua mega biodiver- sidade, poderá se tornar, também no Estado de São Paulo, um instrumento na busca pela segurança alimentar, social e ambiental, fazendo ampla a sua atuação por uma melhor qualidade da vida da população. O terceiro texto trata sobre os “Desafios para São Paulo: biodiversidade, bioenergia e biotecnologia”, abordan- do aspectos referentes ao modelo de desenvolvimento do Estado quanto à proteção de sua biodiversidade e à composição de sua matriz energética, no que diz respeito à busca pela sustentabilidade e ao aquecimento global. O quarto texto discorre sobre “A Alcoolquímica no cenário futuro da cana-de-açúcar”, analisando possíveis pro- cessos de produção industrial a partir do cultivo da cana-de-açúcar, além dos até aqui já praticados açúcar, etanol e geração de energia. E, por fim, o quinto texto aborda o tema “Transição demográfica e envelhecimento populacional no Estado de São Paulo”, que trata da inversão da realidade demográfica do Estado, o qual verá, no ano de 2025, suas popu- lações mais idosas ultrapassarem as mais jovens, impondo a necessidade de, desde já, iniciarmos a construção de um Estado mais sofisticado, com infinitamente maior e melhor escolaridade e capaz de prover de respostas satisfatórias suas populações mais bem formadas e, por força de consequência, mais exigentes. 197
- 217. 4.1 o fortalecimento da segurança alimentar e ambiental no estado de são Paulo na concepção do novo código Florestal brasileiro eduardo Pires castanho Filho11 ambiente institucional e científico A agropecuária desde sempre provoca reflexões às vezes apaixonadas, seja quanto às questões por ela enfrentadas, seja como resolvê-las ou pelo menos equacioná-las. Para que se possam solucionar problemas, são necessários um arcabouço teórico consistente e uma base sócio política estabilizada e democrática, já que os fundamentos de qualquer atividade estão na Lei. Mudanças preconizadas nos marcos regulatórios devem passar por alteração legislativa. E, esse processo, deve ser alvo de ampla consulta e participação da população, notadamente dos setores mais diretamente envolvidos pela norma que se pretende criar ou alterar. Aparentemente uma obviedade, porém, raramente observada. Parte da legislação é feita sem cumprir essa premissa e acaba produzindo leis que prejudicam aqueles que teoricamente deveriam ser favorecidos, atendendo a interesses de grupos articulados politicamente, mas distantes da proble- mática que pretenderam regulamentar. A par desse pano de fundo, outra condição absolutamente necessária, diz respeito ao instrumental conceitual que embasa as discussões que desembocam na elaboração de normas legais e de políticas públicas. Essa base teórica, no caso da agropecuária e do meio rural, deve focar-se em análises científicas, abrangendo não apenas aspectos biológicos, ambientais e agronômicos, mas também econômicos, políticos e sociológicos, além de histó- ricos, culturais, jurídicos e psicológicos, sem esquecer os simbólicos, enfim, toda a “superestrutura”. Esse instrumental complexo precisa converter-se em ferramentas operacionais que dêem sentido às propostas e as convertam em ações capazes de viabilizar a vontade pretensamente expressa nas normas legais. a avaliação ecossistêmica do Milênio (aeM) Atualmente as análises envolvendo a agropecuária, e que lhe conferem um caráter mais abrangente do que as tra- dicionais, derivam da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (VICTOR, sd), que foi proposta à Assembléia Geral da ONU em 2000, com o objetivo de “avaliar as consequências que as mudanças nos ecossistemas trazem para o bem-estar humano e as bases científicas das ações necessárias para melhorar a preservação e uso sustentável desses ecossistemas e sua contribuição ao bem-estar humano”. A AEM veio suprir uma necessidade metodoló- gica, ainda que não tenha se proposto a gerar conhecimentos primários, mas a sistematizar, avaliar, sintetizar, interpretar, integrar e divulgar as informações existentes de forma útil e capaz de ser apropriada por parte dos tomadores de decisão e da sociedade. Ao envolver mais de uma milhar de cientistas de quase uma centena de países criou-se um foro privilegiado para o desenvolvimento das avaliações e discussões de alternativas para o futuro do mundo e de humanidade. A metodologia da AEM é inovadora em vários aspectos. Primeiro, porque foca sua avaliação nos bens e serviços dos ecossistemas, justamente onde se situa a interface do meio ambiente com o bem-estar da humanidade. Como bens e serviços ambientais incluem-se desde a água, regulação climática e estética, até oferta de alimentos e segu- 11 Engenheiro agrônomo, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola (IEA). 198
- 218. rança alimentar, de modo que todos os fatores que condicionam a vida humana na Terra devem ser analisados12. E, conseqüência lógica, para que os serviços ambientais sejam preservados, os ecossistemas provedores desses atributos precisam igualmente ser perpetuados. Assim, o principal foco desse estudo foi quais os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, enfatizando que não existe um serviço mais importante do que outro: todos são igualmente imprescindíveis para o atendi- mento do que o estudo se propôs, e todos dependem da perpetuação de seus respectivos ecossistemas. No balanço encerrado em 2005, 60% dos tipos de serviços avaliados apresentaram graus variados de degradação, o que refletiu uma realidade preocupante, que requer esforços para reverter o quadro apresentado, tanto quanto a questão climática, que possui um foro específico. Dentre os serviços que apresentaram ganhos encontravam-se a agricultura, a pecuária, a aquicultura e o se- questro de CO2. As produções madeireiras e de fibras; as regulações de doenças e de água, bem como o turismo e a recreação, mantinham-se ora com ganhos ora com perdas. Todos os demais apresentavam algum grau de degradação. Isso significa, em termos de diretrizes políticas, que os agroecossistemas devem ser mantidos e melhorados e que os ecossistemas que se apresentaram deteriorados precisam ter prioridade na sua melhoria. Um dos principais problemas apontados pela AEM revelou a ausência de mecanismos de mercado para uma série de serviços, o que dificultava a manutenção dos seus ecossistemas, já que vários dos serviços listados têm até uma importância reconhecida pela população, porém, carecem de condições econômicas mínimas de sustentação. Num primeiro momento, portanto, a presença do Estado é indispensável para realocar recursos da sociedade criando e viabilizando mercados não existentes e, assim, assegurar a manutenção e melhoria dos serviços comuns fazendo a articulação entre os benefícios sociais e o mercado. Será preciso também que as instituições envolvidas busquem maior transparência e prestação de contas sobre o desempenho do governo e do setor privado quanto aos objetivos perseguidos. Quanto à tecnologia, é necessário promover aquelas que possibilitem um maior rendimento das culturas sem impactos negativos e, também, promovam a revitalização dos serviços dos ecossistemas através da sua complexificação. É óbvio que novas posturas sociais e comportamentais, como mudanças nos padrões de consumo, são de- sejáveis e isso deve fazer parte de políticas de comunicação e educação, integrando grupos dependentes dos serviços dos ecossistemas. agropecuária paulista e seus serviços Focando a análise no Estado de São Paulo, percebem-se algumas tendências na agropecuária que podem ajudar na proposição de políticas públicas ecossistêmicas e subsidiar a legislação pertinente, notadamente a Legislação Florestal. 12 De acordo com a AEM os serviços ambientais podem ser classificados em quatro blocos: 1) Serviços de abastecimento ou provisão: alimentar (incluindo frutos do mar, caça, culturas agropecuárias, alimentos selvagens e especiarias); água; princípios ativos, recursos genéticos; energia (hídrica, combustíveis de biomassa). 2) Serviços de suporte: intemperismo de rochas e formação de solos; ciclagem e dispersão de nutrientes; dispersão de sementes; reservatório de material genético; produção primária; controle de erosão e sedimentação. 3) Serviços de regulação : seqüestro de carbono e regulação climática; resíduos de decomposição e desintoxicação; purificação e regularização fluxos de água e ar; polinização de culturas; controle biológico de pragas e doenças. 4) Serviços culturais: inspiração intelectual, cultural e espiritual; experiências recreativas (incluindo o ecoturismo); descobertas científicas. (Victor, 2010). 199
- 219. Os censos agropecuários indicam claramente uma redução no tamanho das propriedades/unidades produtivas (Ppdds/UPAs) e também da área total dedicada às atividades agropecuárias, levando a que determinadas políticas tenham que ser feitas para conjuntos de Ppdds/UPAs e não para cada uma isoladamente, como particularmente é o caso da política ambiental. Esse fenômeno da redução de tamanho teve como uma das consequências um acréscimo nos custos administrativos, o que tem levado muitos proprietários/ produtores rurais a optarem por associações do tipo parceria ou mesmo pelo arrendamento de suas terras para grandes grupos agroindustriais. As exigências burocráticas das legislações sanitária, trabalhista, fiscal e ambiental também contribuem para que os pequenos e médios produtores se afastem da administração direta de seus negócios, tanto pela complexidade das normas quanto pelos custos acarretados no seu cumprimento. No entanto, a produção deverá continuar crescendo em face do aumento da produtividade, que encontrará a principal barreira na relativa escassez de fertilizantes. Novas tecnologias sustentáveis proporcionarão um aumento da agricultura periurbana e uma integração dos agronegócios, entendidos como processo que vai desde o suprimento à produção até o consumidor final. Concomitantemente, surgirão novas oportunidades de investimentos no meio rural, através de novos “produtos”, representados pelos bens e serviços ecossistêmicos derivados do aumento das “áreas naturais”, a chamada “complexificação” dos agroecossistemas em busca de especialização regional. A agropecuária deverá voltar-se cada vez mais para nichos de mercado e recorrer às certificações de produtos e processos produtivos, adotando cada vez mais o conceito de multifuncionalidade. Ao mesmo tempo, conviverá com uma redução contínua de sua população residente e da força de trabalho, que por sua vez, demandará maior qualificação e treinamento contínuo. É importante verificar que independentemente do que de fato possa acontecer, há necessidade de incorporar conceitos novos sobre o papel dos diversos ecossistemas nos processos de atendimento das necessidades humanas. Florestas intactas, silvicultura, agropecuária e terras urbanas têm cada uma seu papel no desenvolvimento. É importante ter muita clareza sobre a convivência entre os vários tipos de uso do solo e os serviços que podem ser gerados de forma harmônica e duradoura, o que qualquer legislação que vise a sustentabilidade precisa levar em conta, e essa deve ser a espinha dorsal das mudanças no Código Florestal. Da complexidade de uma floresta intacta à simplificação de uma monoculltura, ou até mesmo no ambiente urbano, existe toda uma gama de serviços prestados à sociedade cada um com sua importância, algo que, enfatiza- se, tem que ser refletido na legislação setorial. Ao lado disso, a cada dia que passa, maior é a demanda por produtos naturais, orgânicos ou isentos de agrotóxicos e os mercados a eles associados crescem a taxas explosivas. Esses tipos de produção aproximam, via mercado, esses dois papéis modernos do espaço rural e podem proporcionar uma solução importante na questão do emprego, desde que haja uma legislação que os estimule. Na realidade esses processos são basicamente aqueles empregados pelos programas de qualidade. Ou seja, produzir com o máximo aproveitamento possível dos insumos, sem desperdícios, reciclando, poupando energia e matérias primas, aproveitando sub produtos, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Na produção agropecuária e nas cadeias dos agronegócios que lhes são inerentes, os procedimentos são semelhantes e, assim, todo processo de produção deve estar em perfeita sintonia com essas condições, que são básicas para a obtenção de um produto de qualidade e ambientalmente adequado. Não há produção eficiente, dos pontos de vista econômico, social e ambiental, se a base sobre a qual ela se assenta não é adequada: solos erodidos, cursos d’água assoreados, águas poluídas, pastagens degradadas, áreas sem um mínimo de cobertura florestal, cada vez menos permitirão produzir competitivamente. Dessa forma os processos têm que começar por preservar, manter, conservar e melhorar a quantidade e a qualidade dos recursos ambientais existentes na propriedade. 200
- 220. A expectativa é, portanto, que a produção agropecuária tradicional migre de produtos baseados em agroecossistemas muito simplificados para outros de maior complexidade, capazes de produzir uma gama maior de serviços ecossistêmicos, portanto, maiores benefícios sociais. Esse processo, no entanto, acarreta um custo financeiro inicial maior. É nesse momento que esse diferencial deverá ser objeto de políticas do Poder Público visando financiar a transição e garantir sua continuidade, por que não existe possibilidade disso ser intermediado pelos mecanismos de mercado existentes. Assim, a eliminação de subsídios que promovem o uso excessivo dos serviços de alguns ecossistemas e a transferência desses subsídios para o pagamento de serviços não comercializáveis, fornecidos por eles, deve ser cada vez mais utilizada, aliada ao uso intensificado de ferramentas econômicas e abordagens baseadas no mercado para a gestão dos serviços dos ecossistemas. Aliado a isso, a tendência estrutural de aumento geral do desemprego, impõe a busca de alternativas de postos de trabalho nos setores que tecnologicamente ainda são absorvedores de mão de obra, fato que, numa primeira instância, aponta atualmente para o rural, dentro dessa nova visão. A geração de empregos rurais pode se dar tanto pela produção de bens (alimentos, fibras, insumos energéticos, matérias primas industriais), como pela prestação de serviços ambientais (melhoria da produção de água, conservação de solo, proteção da biodiversidade, estocagem de carbono, estabilização de encostas, turismo, atividades científicas, educativas e recreativas). A pluralidade de leis regulando aspectos específicos das atividades agropecuárias dão uma idéia da necessidade que existe de se absorver os conceitos de serviços ecossistêmicos, visando racionalizar inclusive a economia setorial e estabelecer políticas que tenham o cunho de atendimento das necessidades da sociedade. distorções científicas e técnicas – água e aquecimento Estas considerações se fazem necessárias para esclarecer certos absurdos técnicos que são veiculados de forma muitas vezes leviana e que distorcem a imagem da agropecuária perante as camadas urbanas da população, desprovidas de conhecimento técnico setorial. São questões técnicas tratadas de modo superficial e que chegam a conclusões incorretas e por vezes inverídicas. Tomem-se dois exemplos que são usados constantemente para justificar posturas auto proclamadas como ambientalistas e que vilanizam sistematicamente a agropecuária, desconsiderando seu papel ecossistêmico. São os casos da produção e consumo de água pelas atividades agropecuárias e da sua participação num suposto aquecimento do planeta. O ciclo hidrológico descreve o movimento da água na atmosfera, biosfera e litosfera, como gás, líquido ou sólido. O processo é bastante influenciado pela energia do sol e pela gravidade. Uma das representações do ciclo hidrológico é feita pela equação de balanço hídrico, onde a precipitação é distribuída em evapotranspiração, deflúvio, recarga de água subterrânea e mudança no estoque de água do solo. Verifica-se que a água disponível para utilização fora da evapotranspiração é de perto de 10% da precipitação do local, no prazo de alguns dias. Ora, fazer como algumas manifestações fazem contra a agricultura, dizendo que sem suas atividades a produção de água seria igual à precipitação, pode ser considerada uma desonestidade intelectual. O “consumo” de água pelas plantas é igual à evapotranspiração que é, em síntese, a quantidade de água necessária para as culturas crescerem de forma otimizada e varia de espécie para espécie, assim como varia a quantidade de água necessária para produzir certa quantidade de qualquer produto. É possível aquilatar tanto os consumos como a necessidade de água para formar um quilo de alguns produtos, bem como a demanda de água por hectare e por ano para cada um. Fazendo-se as devidas comparações fica evidente que as atividades agrope- 201
- 221. cuárias geram um deflúvio ou escoamento que “produz” o volume de água que é utilizado em outras atividades e, diferentemente do que se propaga, esse volume é maior do que em ecossistemas florestais. A diferença é que estes últimos perenizam os fluxos hidrológicos e mantém as reservas subterrâneas intactas ou mesmo crescentes: daí decorre a tão propalada e necessária proteção aos mananciais com ecossistemas florestais. A pecuária, que na visão de alguns seria a grande vilã quanto ao consumo de água, já que para se “fazer” um quilo de carne seriam necessários de 8 a 15 mil litros, dependendo da fonte de informação, acaba sendo a grande produtora de água do meio rural, dada sua baixa produtividade: 120 kg/ha/ano, o que fornece uma “sobra” de mais de 12 milhões de litros/ha/ano, quando num ecossistema florestal essa quantidade fica ao redor de 4milhões de litros, levando em conta todos os processos descritos nos esquemas do ciclo hidrológico. O que é importante reter é que não se pode consumir água além do deflúvio ou dos escoamentos, para que exista abastecimento de água para outros fins. As culturas irrigadas, por exemplo, precisam ser muito bem dimensionadas e gerenciadas para não consumirem todo esse excedente. O consumo superior à disponibilidade é a causa fundamental da “escassez” de água, como por exemplo, na Grande São Paulo, que precisa “importar” o líquido de bacias hidrográficas mais distantes, visto que a demanda de sua população é maior do que a capacidade de suas próprias bacias produzirem para o seu abastecimento hídrico. Esse é um exemplo didático da integração que existe entre serviços ecossistêmicos e necessidade de criarem-se condições de mercado para alguns deles. Da mesma forma desinformação e alarmismo induzem a colocar a agropecuária como responsável por parte crescente de um aquecimento global. O efeito estufa, fenômeno natural e produzido pela História da Terra, tem o CO2 como um agente fundamental, formador de tecidos vegetal e animal- formador da vida, através das pirâmides energéticas e seus níveis tróficos. A agricultura como agente desse processo, porém, não pode expelir mais carbono do que consome, pois integra o ciclo. O próprio desmatamento, sem que haja queima, não contribui para um eventual aumento do teor de CO2 na atmosfera. Por outro lado, é evidente que as atividades agrosilvopastoris são as grandes responsáveis pela absorção do CO2 atmosférico na parte sólida da crosta terrestre, juntamente com os oceanos, já que as florestas nativas intactas estão em homeostase e, portanto, neutras nesse aspecto. Dessa forma, as discussões que atualmente tem por objeto as atividades agropecuárias nem de longe consideram o papel ecossistêmico dessas atividades, gerando uma visão fragmentada e antagônica da realidade, principalmente do meio rural. Além do mais, maior concentração de CO2 contribui para aumentar a produtividade primária nas cadeias tróficas, evidentemente que dentro de certos limites, e, portanto, aumenta a capacidade da Terra em absorver esses gases transformando-os em tecidos vivos (CASTANHO, 2009). A eliminação dos desmatamentos e das queimadas, a adoção de técnicas sustentáveis pela agropecuária, o aumento de produtividade das pastagens, o incremento das áreas florestais, a proteção da biodiversidade e assim por diante, são compromissos que devem ser assumidos porque apontam para um mundo melhor, mais equilibrado e mais sustentável, transitando de ecossistemas simples para os de maior complexidade. Atribuir à agricultura e à pecuária parcela de responsabilidade pela emissão de gases efeito-estufa é desconhecer completamente como se processam essas atividades. E se desconhece mesmo, é só ver o caso do metano: há quem atribua ao gado estabulado, que come comida de humano, melhor performance carbônica do que àquele que come comida de gado e vive nos pastos. Colocar os efeitos de queimadas, no mais das vezes criminosas, como emissão de gases estufa pela pecuária é, no mínimo, leviano. O crescimento das pastagens e a estocagem de carbono, que é feita por elas, não são levadas em consideração e mesmo o metano que já foi 21 vezes mais “nocivo” que o CO2, depois de passar por 6 vezes, hoje é 4, e seu teor diminui na atmosfera. Por esse prisma pouco científico, apenas as florestas nativas tem capacidade de fornecer bens e serviços “bons”. Por essa visão, decorrente de uma ideologização dos problemas oriundos da separação histórica rural-urbana, as atividades humanas são “nocivas” por princípio e precisam ser duramente combatidas ou mesmo eliminadas. 202
- 222. Está-se criando inclusive uma xenofobiologia, onde tudo que é exótico é ruim e deve ser combatido, não se dando conta que, qualquer introdução de novas espécies, executada com rigor técnico, se configura num aumento de biodiversidade. Agropecuária como reguladora do clima e dos fluxos hidrológicos, além de absorvedora de carbono, acaba sendo ignorada quando se discutem legislações para o setor, impondo- se- lhe medidas restritivas e mesmo coercitivas sem base científica. as mudanças no código Florestal brasileiro Percebe-se, portanto, que enquanto as demandas ambientais mundiais focam em assuntos como mudanças climáticas, descarbonização dos modelos econômicos e outros conceitos além de apenas o PIB para medir desenvolvimento, como os derivados da AEM, aqui no Brasil, ainda se discutem alterações do Código Florestal Brasileiro com conceitos de 45 anos atrás. Nenhuma incorporação dos avanços da ciência ocorridos nessas quase cinco décadas, como os relatados nas análises anteriores, são levados em consideração e muito menos incorporados à legislação quando se debatem mudanças que deveriam estar protegendo os ecossistemas brasileiros. Continuam aferrados a um texto produzido nos idos de 1965, perdendo oportunidade única de colocar a questão em patamares mais modernos e científicos. Essa Lei ordena relações que se dão no mesmo espaço físico, onde convivem a produção privada para o mercado e a produção de outros serviços ecossistêmicos, que são públicos e que deveriam também ser valorados e remunerados. Além disso, nesse mesmo espaço coexistem desde ecossistemas complexos e intocados, até ecossistemas degradados que precisam ser alvo de políticas públicas específicas. Tratar adequadamente esses novos conceitos é o real desafio para os que querem que o Código Florestal atinja seus objetivos ambientais, sociais e econômicos. Não se pode permanecer como atualmente, onde a maior parte dos que são regidos por ele estão na “ilegalidade”. Obstar sua mudança não vai modificar essa situação, muito menos resolver a questão ambiental brasileira no que tange ao espaço rural. Se uma lei em vigor há mais de 45 anos não conseguiu conter a devastação, porque sua manutenção conseguiria? No entanto, a discussão travada, pelo visto, passa longe disso, eivada de uma carga de “ismos” e desqualificações de lado a lado que só leva ao impasse e ao crescimento de animosidades. As vertentes contra ou favoráveis às alterações na legislação dizem querer uma produção sustentável. Para que isso aconteça seria preciso discutir os vários tipos de produtos e serviços derivados dos diferentes ecossistemas e como adequá-los à sustentabilidade e, para isso, o instrumental oferecido pela AEM é precioso. Para haver uma legislação efetiva, devem-se incorporar novos conceitos gestados à luz da ciência, prevendo revisões periódicas para incorporar avanços posteriores. Tais conceitos auxiliariam a resolver os problemas políticos que emergem das responsabilidades de cada agente no processo: os vários tipos de serviços ecossistêmicos prestados e suas gradações sociais; sobre quem recairiam os custos da produção desses serviços, e assim por diante. Em qualquer avaliação ambiental a unidade de análise e intervenção é o ecossistema, e o princípio mais bá- sico o da manutenção da diversidade. Cada ecossistema merece tratamento específico. Assim, para cada caso, o projeto técnico, com as bacias hidrográficas e os biomas como focos de análise, deve ser o instrumento, por excelência da Lei, que deve estabelecer formas de pagamento pelos serviços ecossistêmicos prestados à sociedade e não como é atualmente onde se propõe penalizar o produtor do serviço, na contra mão do que é preconizado pela AEM. 203
- 223. Uma forma de dar início a uma política pública de pagamentos por serviços ecossistêmicos seria utilizar valores baseados no custo de oportunidade médio das terras do Estado. Fazendo-se uma hipotética evolução para 30 anos, que seria o prazo previsto para a adequação ambiental, esse dispêndio estaria ao redor de R$ 37 milhões no primeiro ano, acumulando quantias semelhantes por ano até que se chegasse ao ponto desejado. No último ano e a partir daí, haveria uma estabilização em torno de R$ 1 bilhão anuais, ou seja, de 2,5 a 3% do valor atual da produção agropecuária estadual, volume perfeitamente absorvível pelo atual sistema de impostos vigente no Estado, representando não mais do que 30% do ICMS arrecadado no setor rural. Hoje na legislação os aspectos mais controversos dizem respeito a dois conceitos: Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). Na concepção original do Código, essas áreas eram complementares e podiam ser superpostas já que suas funções eram a proteção dos recursos naturais. Em 2001, houve uma mudança substancial, criando-se dois tipos de florestas de proteção dentro de uma mesma propriedade, remetendo inclusive a funções estipuladas na Constituição, que são imperativas do Poder Público (CASTANHO, 2009). A Reserva Legal, tal como formulada atualmente, se constitui numa anomalia jurídica e, além disso, técnica, porque ao estabelecer um percentual fixo por propriedade para reserva florestal, não se baseou em nenhuma avaliação lastreada em conceitos científicos ou técnicos. Tais conceituações deveriam indicar que o tamanho de uma reserva florestal deveria ser de um percentual fixo por propriedade, para que os objetivos de conservação, definidos na MP, fossem alcançados. Pelo contrário, esse método leva à extinção de espécies que necessitam grandes territórios para sua manutenção, intensifica a endogamia em áreas pequenas e confinadas, além de favorecer o descontrole populacional pela quebra de cadeias tróficas, com o reaparecimento de epidemias há muito controladas. Além disso, a MP, ao determinar um percentual fixo em cada propriedade, discrimina indivíduos, ao pretender tratar igualmente coisas que são absolutamente desiguais. A mesma unidade de área pode variar em muitos aspectos, além obviamente do tamanho: físicos, químicos, biológicos, climáticos, locacionais, históricos, pela incorporação de tecnologia e capital, pela sua fragilidade ambiental, pela sua rentabilidade, pela exploração técnica e pelo tipo de cultura que é feita, além de vários outros aspectos. impactos socioeconômicos É óbvio que essa regra dos 20%, se aplicada como está, reduzirá a renda e o emprego do setor, principalmente no Estado de São Paulo, no Sudeste e no Sul do País, podendo ter um impacto não desprezível na questão da segurança alimentar. A área para recomposição da reserva legal equivale a mais da metade de toda área estadual ocupada com pasta- gens, que era de 8,07 milhões de hectares em 2008, implicando na redução da área agropecuária paulista (lavou- ras, pastagens e florestas econômicas) dos atuais 20,5 milhões de hectares para 16,4 milhões de hectares. Desses 20,5 milhões de hectares, quase 2,5 milhões são ocupados com florestas de propriedade privada, corresponden- do, grosso modo, à área de preservação permanente existente no Estado de São Paulo, sendo 2 milhões relativas às matas ciliares e meio milhão aos terrenos inclinados e topos de morro. Assim, precisariam ser destinados à reserva legal mais de 4 milhões de hectares. Estimativas dos impactos podem ser feitas pelo valor médio da produção por unidade de área, que em 2008, era de pouco mais de R$ 2.000,00/hectare. Assim, a redução da renda agropecuária bruta paulista atingiria o montante de mais de R$ 8 bilhões, que somados aos custos da recomposição que demandarão no mínimo mais R$ 16 bilhões, atingiriam R$ 24 bilhões, ou seja, 56% da riqueza gerada pela agropecuária paulista em 2008. 204
- 224. Além disso, essa dualidade de tipos de florestas de proteção não consegue enxergar uma política pública que de fato permitisse que o Estado tivesse uma preservação eficiente, sem desorganizar e penalizar a pro- dução existente13. A sustentabilidade deve nortear esses debates e as propostas de mudança. Não se pode perder essa oportunida- de, correndo o risco de se destruir o que foi construído durante séculos. referências VICTOR, R. Avaliação Ecossistêmica do Milênio - Ecossistemas e bem- estar humano. Instituto Florestal. 56 páginas. Disponível em: <http://www.rbma.org.br/mercadomataatlantica/pdf/sem_ma_serv_amb_18.pdf> Acesso em: ago. 2010. CASTANHO, E. P. “Oportunidades em mudanças na reserva legal”. TD-n°.13/2009. Textos para discussão. Site do IEA, jul. 2009. 13 Este texto foi baseado em trabalhos já publicados, especialmente: “Oportunidades em mudanças na reserva legal”. TD-n°.13/ 2009. Textos para discussão. Site IEA, jul. 2009. “Agricultura e aquecimento global”. Análises e Indicadores do Agronegócio; Site IEA. Vol.5. N°2. 4 p. Fev, 2010. “Aquecimento global, agropecuária e reserva legal” Mercado Futuro. Site de Antonio Reche. Abril , 2010; “Modernizar e tecnificar o Código Florestal”. Análises e Indicadores do Agronegócio; Site IEA. Vol.5. N°6. 3 p. jun. 2010. Em colaboração com Antonio Carlos de Macedo. “Código florestal deve incorporar avanços da ciência”. Mercado Futuro. Site de Antonio Reche. Julho, 2010; “Agropecuária na avaliação do milênio”. TD nº 24/ 2010. 14p. Textos para discussão. Site IEA, outubro. 2010. 205
- 225. 4.2 o código Florestal tem base científica?14 Jean Paul Metzger15 introdução Existem muitas dúvidas sobre qual foi o embasamento científico que permitiu definir os parâmetros e os critérios da lei 4.771/65 de 15 de Setembro de 1965, mais conhecida como Código Florestal. Dentre estas dúvidas, podemos incluir as bases teóricas que permitiram definir: i) as larguras das Áreas de Preservação Permanente (APP); ii) a extensão das Reservas Legais (RL) nos diferentes biomas brasileiros; iii) a necessidade de se separar RL da APP, e de se manter RL com espécies nativas; e iv) a possibilidade de se agrupar as RL de diferentes proprietários em fragmentos maiores. Neste artigo, eu procuro analisar estas questões, tentando entender se os avanços da ciência nos últimos 45 anos permitem, ou não, sustentar o Código Florestal de 1965 e suas modificações ocorridas posteriormente. Esse trabalho não tem por objetivo fazer uma compilação completa de trabalhos científicos relacionados ao Código Florestal, objetivo esse que demandaria um tempo e esforço muito mais amplo. Dada a minha especialidade, eu vou me limitar à discussão dos quatro pontos acima, para os quais a ecologia tem importantes contribuições. Ademais, eu me ative a trabalhos feitos em ecossistemas brasileiros, para considerar a complexidade e as particularidades destes sistemas. Limitei também a busca a trabalhos com amplo respaldo internacional, dando assim preferência a artigos publicados em revistas científicas internacionais e/ou compilados pelos sistemas Scopus (http://www.scopus.com/) ou ISI Web of Knowledge (http://apps.isiknowledge.com/). Qual a extensão mínima das áreas de Preservação Permanente? O Código Florestal estipula uma série de larguras mínimas de áreas de proteção ao longo de cursos d´água, reservatórios e nascentes. Qual foi a base científica usada para definir que corredores ripários deveriam ter no mínimo 30 m de proteção ao longo de cada margem do rio (além do limite das cheias anuais)? Será que essa largura não deveria variar com a topografia da margem, com o tipo de solo, com o tipo de vegetação, ou com o clima, em particular com a pluviosidade local? A efetividade destas faixas de vegetação remanescente certamente depende de uma série de fatores, dentre eles o tipo de serviço ecossistêmico considerado e a largura de vegetação preservada. Por exemplo, há dados que indicam que larguras de 30 m seriam suficientes para as matas ripárias retirarem da água do lençol freático boa parte dos nitratos vindos dos campos agrícolas (PINAY & DÉCAMPS, 1988). No entanto, dada suas múltiplas funções, incluindo a fixação de solo, proteção de recursos hídricos e conservação de fauna e flora, deve-se pensar na largura mínima suficiente para que esta faixa desempenhe de forma satisfatória todas as suas funções. Por consequência, a definição desta largura no âmbito do Código Florestal deveria respeitar a função mais exigente. Eu não pretendo aqui fazer uma ampla revisão sobre a influência da largura das APP, mas penso que a conservação da biodiversidade possa ser um dos fatores mais limitantes para a definição de larguras mínimas, e por isso foquei minha revisão neste aspecto, dando ênfase ao caso das matas ripárias. 14 Este artigo já foi publicado na Revista “Natureza & Conservação”, volume 8, em julho de 2010. 15 Professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) 206
- 226. Em termos biológicos, os corredores são reconhecidos como elementos que facilitam o fluxo de indivíduos ao longo da paisagem. Em paisagens fragmentadas, quando o habitat original encontra-se disperso em inúmeros fragmentos, isolando e reduzindo o tamanho das populações nativas, a sobrevivência das espécies depende de suas habilidades de se deslocarem pela paisagem. Nestas condições, os corredores podem ter papel capital, pois muitas espécies não conseguem usar ou cruzar áreas abertas criadas pelo homem, nem quando se trata de áreas muito estreitas como estradas (DEVELEY & STOUFFER, 2001), e a existência de uma continuidade na cobertura vegetacional original é assim essencial. Dentre os benefícios dos corredores, já comprovados por pesquisa no Brasil, estão o aumento da diversidade genética (ALMEIDA VIEIRA & DE CARVALHO, 2008), o aumento da conectividade da paisagem, possibilitando o uso de vários pequenos fragmentos remanescentes de habitat, que isoladamente não sustentariam as populações (AWADE e METZGER, 2008; BOSCOLO et al. 2008; MARTENSEN et al. 2008), a amenização dos efeitos da fragmentação (PARDINI et al. 2005), e o potencial de amenizar os impactos de mudanças climáticas, numa escala temporal mais ampla (MARINI et al. 2009). A importância de florestas ripárias foi evidenciada em diferentes biomas brasileiros, e para diferentes grupos taxonômicos. A maior parte dos estudos foi feita na Floresta Atlântica (METZGER et al. 1997; UEZU et al. 2005; MARINHO-FILHO & VERISSIMO, 2007; KEUROGHLIAN & EATON, 2008; MALTCHIK et al. 2008; MARTENSEN et al. 2008), mas existem dados também para Floresta Amazônica (LIMA & GASCON, 1999; MICHALSKI et al. 2006; LEES & PERES, 2008), Caatinga (MOURA & SCHLINDWEIN, 2009), Pantanal (QUIGLEY & CRAWSHAW, 1992) e Cerrado (TUBELIS et al. 2004). Em relação aos grupos taxonômicos, há dados para árvores (METZGER et al. 1997), anfíbios (LIMA & GASCON, 1999; MALTCHIK et al. 2008), aves (TUBELIS et al. 2004; UEZU et al. 2005; MARTENSEN et al. 2008), grandes mamíferos (QUIGLEY & CRAWSHAW, 1992; MARINHO-FILHO & VERISSIMO, 2007; KEUROGHLIAN & EATON, 2008; LEES & PERES, 2008), pequenos mamíferos (LIMA & GASCON, 1999) e abelhas (MOURA & SCHLINDWEIN, 2009). Não há dúvidas que independentemente do bioma ou do grupo taxonômico considerado, toda paisagem deveria manter corredores ripários, dado os seus benefícios para a conservação das espécies. Os benefícios dos corredores podem estar relacionados à largura, extensão, continuidade e qualidade dos corredores (LAURANCE e LAURANCE, 1999), à topografia e largura das áreas de influência ripária (METZGER et al. 1997), entre outros fatores, mas sem dúvida o fator mais importante é a largura. Esta largura afeta a qualidade do habitat, regulando a área impactada pelos efeitos de borda, i.e. pelas as modificações micro- climáticas e pelo aumento das perturbações que ocorrem nas bordas destes habitats. Em ambiente florestal, há aumento da luminosidade e do ressecamento do ar e do solo, além de um aumento na entrada de espécies invasoras e generalistas (vindas de áreas antrópicas), e de perturbações ocasionais (rajadas de vento, queimadas) que excluem algumas espécies nativas, mais especializadas em sombra, e levam a uma maior mortalidade. Esses efeitos de borda podem variar em extensão em função das espécies e dos processos considerados, e também de acordo com as características físicas do local, em particular com a orientação solar, a latitude e o tipo de matriz de ocupação adjacente, que influenciam na quantidade de radiação solar incidente. De uma forma geral, os efeitos mais intensos ocorrem nos 100 primeiros metros (LAURANCE et al. 2002), o que implica que corredores com menos de 200 m são formados essencialmente por ambientes de borda, altamente perturbados. Assim, alguns autores sugerem que corredores estreitos perderiam parte de sua utilidade, por favorecerem unicamente espécies generalistas, que suportam os efeitos de borda (SANTOS et al. 2008; LOPES et al. 2009). Espécies mais estritamente florestais necessitariam de corredores de pelo menos 200 m de largura (LAURANCE e LAURANCE, 1999; LEES & PERES, 2008). Trabalhos que consideraram a funcionalidade biológica dos corredores em função da largura indicam valores mínimos superiores a 100 m. Na Amazônia, larguras de 140 a 190 m são necessárias para haver certa similaridade entre as comunidades de pequenos mamíferos e de anfíbios de serapilheira entre elementos florestais lineares e 207
- 227. uma área controle de floresta contínua (LIMA & GASCON, 1999). Ainda na Amazônia, Lee & Peres (2008) recensearam aves e mamíferos em 32 corredores, e observaram que a acumulação de espécies ocorreu até 400 m de largura para os dois grupos. A partir desse conjunto de dados, que devem representar situações encontradas em outras regiões da Amazônia, os autores sugerem que as APP ao longo de rios deveriam manter pelo menos 200 m de área florestada de cada lado do rio para que haja uma plena conservação da biodiversidade. A manutenção de corredores de 60 m (30 m de cada lado do rio), conforme a legislação atual, resultaria na conservação de apenas 60% das espécies locais. No Cerrado, Tubelis et al. (2004) sugerem que as matas de galeria tenham pelos menos 120 m de largura para a devida proteção das aves. Na Mata Atlântica, Metzger et al. (1997, 1998) trabalharam com 15 corredores de mata ripária ao longo do rio Jacaré-Pepira, no interior do estado de São Paulo. Nestes corredores, que variaram de 30 a 650 m de largura, os autores levantaram a diversidade de árvores e arbustos, e puderam observar que apenas 55% delas estava presente em corredores de menos de 50 m, enquanto 80% estava presente em corredores com mais 100 m. Esses dados confirmam que corredores de apenas 30 m têm capacidade muito limitada de manutenção da biodiversidade. Desta forma, o conhecimento científico obtido nestes últimos anos permite não apenas sustentar os valores indicados no Código Florestal de 1965 em relação à extensão das Áreas de Preservação Permanente, mas na realidade indicam a necessidade de expansão destes valores para limiares mínimos de pelos menos 100 m (50 m de cada lado do rio), independentemente do bioma, do grupo taxonômico, do solo ou do tipo de topografia. Qual a quantidade mínima de rl em termos de conservação da biodiversidade? A extensão das Reservas Legais varia entre biomas, sendo mais ampla na Amazônia, e mais restrita em outras regiões do Brasil. Há dados científicos que permitam sustentar os valores de 20, 35 e 80% de RL? O adequado debate dessas questões necessita considerar, antes de mais nada, a função das RL. Apesar de inicialmente essas reservas terem sido planejadas como reservas de “exploração florestal”, elas são hoje em dia consideradas, segundo o Código Florestal, como áreas voltadas ao: [...] uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas (Código Florestal). Trata-se, basicamente, de elementos da paisagem que deveriam promover ou auxiliar a conservação da biodiversidade. Neste âmbito, a definição da extensão das RL poderia ser pautada, teoricamente, em questões relacionadas com Populações Mínimas Viáveis, ou com áreas mínimas para se manter populações viáveis de grande predadores. Infelizmente, as evidências empíricas descartam a existência de um valor único, válido para todas as populações e comunidades, e apontam para áreas muito extensas para se conservar a integridade de um sistema ecológico (SOULÉ & SIMBERLOFF, 1986). Esta literatura é certamente útil para definição das áreas das Unidades de Conservação, mas é de pouco valor no caso das RL. Por outro lado, há um conjunto de dados e teorias, mais recentes, que são de grande valia nesta questão: os limiares de percolação e de fragmentação. O limiar de percolação é a quantidade mínima de habitat necessária numa determinada paisagem para que uma espécie, que não tem capacidade de sair do seu habitat, possa cruzar a paisagem de uma ponta a outra. A teoria da percolação foi desenvolvida inicialmente na física, para solucionar questões sobre a quantidade mínima de material condutor necessário para prover condutividade elétrica, e agora é amplamente utilizada em ecologia para questões de conectividade biológica. Em simulações feitas em computador, foi possível definir o limiar de percolação como sendo de 59,28% em paisagens aleatórias, homogêneas (STAUFFER, 1985). Acima deste valor, o habitat encontra-se ainda mais agrupado, em grandes fragmentos, favorecendo os fluxos biológicos pela paisagem, inclusive de espécies que não se deslocam fora do seu habitat. No limiar, há uma mudança brusca 208
- 228. na estrutura da paisagem, com redução no tamanho dos fragmentos, aumento no número e no isolamento dos fragmentos, e logo perda repentina da conectividade da paisagem. Isso resulta em paisagens fragmentadas, com baixa capacidade de manter diversidade biológica (METZGER & DÉCAMPS, 1997). Apesar deste valor ter sido definido para paisagens aleatórias, estudos considerando três padrões distintos de fragmentação na Amazônia sustentam a ocorrência de mudanças bruscas em valores próximos a 60% (OLIVEIRA-FILHO & METZGER, 2006). Na realidade, ocorrem mudanças estruturais bruscas em diferentes momentos. Em particular, há uma perda brusca no tamanho médio dos fragmentos por volta de 70 a 80% de habitat remanescente, além do esperado aumento do isolamento, da fragmentação e redução da conectividade para valores intermediários (30 a 60%). Todas essas modificações levam a uma redução na capacidade da paisagem de sustentar diversidade biológica. Esse conjunto de dados indica a necessidade de se manter 60 a 70% do habitat original para que a paisagem tenha uma estrutura adequada para fins de conservação. Valores mais baixos de cobertura nativa ainda poderiam resultar em estruturas favoráveis para conservação, mas isso unicamente no caso de haver forte agregação deste habitat (METZGER, 2001). Porém, como o controle sobre a agregação das RL não é uma tarefa fácil em termos operacionais, esta opção não deveria ser considerada. Na Amazônia, onde temos um vasto patrimônio biológico e genético ainda pouco conhecido, e relativamente conservado, dever-se- ia manter paisagens com pelo menos 60% de cobertura (METZGER, 2002), ou de preferência com mais de 70%, para se evitar os efeitos iniciais da redução brusca do tamanho dos fragmentos. Essas paisagens poderiam permear as Unidades de Conservação e as Terras Indígenas, facilitando desta forma o fluxo de boa parte das espécies entre estas unidades, contribuindo para a conservação da biodiversidade numa escala regional. Se a extensão das APP estiver entre 10 a 20%, como apontam dados preliminares de Miranda et al. (2008), as RL deveriam ser de pelo menos 50%, e preferencialmente mais de 60%. Os valores estipulados atualmente pelo Código Florestal para a Amazônia são um pouco mais altos (80%, incluindo as APP), e podem ser justificados pelo princípio de precaução, dada à imensa riqueza biológica encontrada nestes sistemas, pelo conhecimento ainda restrito sobre os efeitos em longo prazo do desmatamento na Amazônia, e pelas amplas possibilidades de exploração sustentável de produtos florestais. Em outras regiões mais intensamente ocupadas, onde a taxa de conversão de habitat nativo para uso humano foi mais intenso (e.g. na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga), esse limiar não poderia ser aplicado, a não ser que se pense em amplas ações de restauração. Porém, nesses casos de maior perda da cobertura nativa, há um outro conjunto de dados, que surgiu nos últimos vinte anos, que permite avaliar a extensão da RL: trata-se do limiar de fragmentação (ANDRÉN, 1994; FAHRIG, 2003). Segundo revisões feitas por esses autores, baseadas essencialmente em espécies de áreas temperadas, existiria um limiar de cobertura de habitat abaixo do qual os efeitos da fragmentação (i.e., da sub-divisão do habitat) se somariam aos efeitos da perda do habitat. Assim, acima deste limiar, que em geral é indicado por volta de 30% de habitat remanescente, os efeitos sobre a redução populacional ou a perda de diversidade biológica seriam principalmente devido à perda do habitat, enquanto que abaixo deste limiar haveria também um efeito forte da distribuição espacial do habitat, em particular de sua sub-divisão. Esse limiar não é unânime e nem sempre há suporte empírico para ele, como têm demonstrados alguns resultados obtidos em zona tropical que relatam efeitos de fragmentação ao longo de todo o processo de perda de habitat (DEVELEY & METZGER, 2006), ou então que indicam que esse limiar pode variar em função do grupo de organismos considerados, em particular em função da sensibilidade deles à perda de habitat (LINDENMAYER & LUCK, 2005). Porém, há claras evidências, inclusive obtidas recentemente no Brasil, que paisagens com menos de 30% de habitat tendem a ter apenas fragmentos pequenos e muito isolados, e suportam por conseqüência comunidades muito empobrecidas, e isso para diferentes grupos taxonômicos (MARTENSEN et al. 2008; METZGER et al. 2009). O limiar de 30% poderia ser considerado, assim, como um limite mínimo de cobertura nativa que uma paisagem intensamente utilizada pelo homem deveria ter, permitindo conciliar uso econômico e conservação biológica. Dado que as estimativas de porcentagem de APP variam para a grande maioria dos estados brasileiros de 10 a 20% do território (MIRANDA et al. 2008), já excluindo as Unidades de Conservação (inclusive as de Uso Sustentável) e Terras Indígenas, o valor de 20% para RL permitiria manter, na maioria dos casos, uma cobertura acima deste limiar. 209
- 229. Desta forma, a literatura sobre limiares em ecologia sustenta a definição de limites mínimos de RL de 50% ou preferencialmente 60% na Amazônia, e de pelo menos 20% em regiões mais intensamente ocupadas, isso sem incluir as APP nestes percentuais. reserva legal: sua função pode ser mantida com a incorporação das aPP ou com o uso de espécies exóticas? Há fortes pressões para se flexibilizar o Código Florestal, no intuito principal de facilitar a expansão econômica e a regularização de atividades agrícolas, e isso poderia ser obtido por duas formas: i) a inclusão das APP no cômputo das RL; e ii) o uso de espécies de interesse econômico, em geral exóticas, numa parte destas reservas. Mais uma vez, a questão levantada aqui é de saber quais são as bases científicas para essas mudanças. A inclusão das Áreas de Preservação Permanente no cômputo da Reserva Legal já é prevista no Código Florestal, podendo ocorrer para todas as propriedades em áreas florestadas da Amazônia Legal, ou então quando APP e RL somam 50% ou mais da propriedade nas demais regiões do Brasil (ou seja, quando as APP cobrem mais de 30% da propriedade), ou 25% no caso das propriedades pequenas, que são aquela com 30 ou 50 ha, em função da localização no país. A questão é de saber se a inclusão da APP no cômputo da RL pode ser generalizada, ao invés de ocorrer apenas nas três situações mencionadas acima. Esta ampla inclusão é defendida por aqueles que consi- deram insuficientes as áreas disponíveis atualmente para expansão agrícola, urbana ou industrial (MIRANDA et al. 2008). Por outro lado, essa inclusão é rebatida de diversas formas, sendo o argumento mais comum o fato de ca. 3 milhões de km2 serem área mais do que suficiente para a expansão das atividades econômicas, além da existência de amplas áreas já utilizadas, mas que se encontram degradadas, e que deveriam ser alvo de projetos de recuperação para futura exploração. Esses argumentos são sem dúvida pertinentes, porém eu gostaria de acres- centar ao debate uma outra linha de raciocínio, apresentada a seguir. Como dito anteriormente, as RL visam essencialmente à conservação da biodiversidade e ao uso sustentável de recursos naturais, enquanto as APP têm como: [...] função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (artigo primeiro do Código Florestal). As APP basicamente evitam a erosão de terrenos declivosos e a colmatagem dos rios, asseguram os recursos hídricos, propiciam fluxo gênico, e prestam assim serviços ambientais capitais. Certamente essas áreas também contribuem para a conservação da biodiversidade, porém considerá-las equivalentes às RL seria um grande erro. Por se situarem justo adjacentes às áreas ripárias, em terrenos declivosos, ou ainda em restingas, tabuleiros, chapadas, e em áreas elevadas (acima de 1.800 m de altitude), as APP apresentam embasamento geológico e pedológico, clima e dinâmica hidro-geomorfológica distintas daquelas situadas distantes dos rios, em terrenos planos, mais longe das influências marinhas, ou em altitudes mais baixas. Em conseqüência disso, a composição de espécies da flora e da fauna nativa varia enormemente quando se comparam áreas situadas dentro e fora das APP. As evidências mais claras destas variações foram obtidas ao longo dos rios, mostrando, em particular, que a composição arbórea muda em função da distância ao leito do rio, sendo que as diferenças mais bruscas são obtidas nos primeiros 10-20 m (OLIVEIRA-FILHO 1994a,b; METZGER et al. 1997; RODRIGUES & LEITÃO-FILHO, 2004). Ou seja, as APP não protegem as mesmas espécies presentes nas RL, e vice-versa. Em termos de conservação biológica, essas áreas se complementam, pois são biologicamente distintas, e seria um grande erro ecológico considerá-las como equivalentes. Todo planejamento territorial deveria considerar a heterogeneidade biológica, e um dos primeiros passos neste sentido é distinguir RL e APP, mantendo estratégias distintas para a conservação nestas duas situações. 210
- 230. O segundo mecanismo de flexibilização das RL também já está parcialmente contemplado no Código Florestal, uma vez que em: [...] pequenas propriedades ou de posse rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas (terceiro parágrafo do artigo 16). O que se discute, mais recentemente, é a ampliação desta flexibilização, permitindo que até 50% da RL possa ser composta por espécies exóticas, como o dendê ou o Eucalipto. Qual seria a efetividade da RL em termos de conser- vação biológica neste caso? Creio que já temos dados concretos para responder essa pergunta, em particular vindos de estudos de sistemas consorciados na Bahia, e de plantações de Eucalipto na Amazônia e na Mata Atlântica. Na região de Ilhéus, um grupo de pesquisadores das Universidades Estaduais de Campinas, São Paulo e Santa Cruz estudou o valor, em termos de conservação, de um sistema denominado “cabruca”, que são plantações de cacau som- breadas por um dossel de mata (FARIA et al. 2006, 2007; PARDINI et al. 2009). A principal conclusão que esses pesquisadores chegaram é que o valor da cabruca depende do contexto no qual ela se encontra. Em paisagens pre- dominantemente florestais, com amplas extensões de florestas maduras (ca. 50%), e também com presença de man- chas de florestas secundárias (16%) e áreas produtivas florestadas (no caso, cabrucas, que cobrem 6% da paisagem, e seringais), as cabrucas conseguem manter uma parcela considerável das comunidades estudadas (samambaia, sapos, lagartos, morcegos e aves). No entanto, em outra paisagem vizinha, na qual as cabrucas dominam a paisagem (ca. 82%), e os remanescentes florestais são reduzidos (ca. 5%) e fragmentados, estes sistemas são extremamente emprobrecidos, e mantêm uma parcela pequena da biodiversidade regional (FARIA et al. 2006, 2007). Ou seja, a ocorrência ou manutenção da fauna e flora nativa em cabrucas depende da existência de uma fonte de espécie próxima relativamente extensa. Isso significa que em paisagens predominantemente florestais, tais quais as que se quer conservar na Amazônia, sistemas similares ao das cabrucas poderiam ser considerados como boas alternativas de uso sustentável de recursos naturais em parte da RL (sendo que a extensão destas áreas deve ser estudada com cuidado). No entanto, em outras regiões do Brasil, onde a vegetação nativa já está consideravelmente reduzida e fragmentada, RL formadas por sistemas que intercalam espécies plantadas de interesse econômico com espécies nativas teriam reduzido valor conservacionista, e esta opção deveria ser evitada. No caso das plantações de espécies de uso comercial, em geral exóticas, como o Eucalipto, a situação é distinta. Estudos promovidos no Rio Grande do Sul mostram que estas monoculturas arbóreas podem conter parte da biota nativa, porém isso depende fortemente do tipo de manejo da plantação, e em particular da manutenção da regeneração de espécies nativas no sub-bosque, e da ligação das áreas plantadas com fontes de espécies na- tivas próximas (FONSECA et al. 2009). Infelizmente, a grande maioria dos reflorestamentos comerciais não segue essas regras. Num dos mais completos estudos sobre esses reflorestamentos feitos no país, no projeto Jarí (Amazônia), Barlow et al. (2007a, b) mostraram, para diferentes grupos taxonômicos, haver baixa similaridade de espécies entre florestas nativas maduras e áreas de reflorestamento, deixando claro o limitado valor destas plantações em conservar espécies nativas. Logo, independentemente da cobertura florestal remanes ente na paisagem, não é aconselhável a substituição de c RL de espécies nativas por plantações homogêneas de espécies exóticas. Por outro lado, sistemas consorciados de espécies nativas e de interesse econômico podem ser opções interessantes para parte das RL da Amazônia, num contexto de ampla cobertura florestal nativa. Ademais, a fusão de APP e RL seria temerária em termos biológicos simplesmente porque estas têm funções e composições de espécies distintas, e desempenham assim papeis complementares em termos de conservação da biodiversidade. devemos manter pequenos fragmentos de vegetação nativa sob forma de rl? O valor de pequenos fragmentos de RL para a conservação da biodiversidade vem sendo questionado, levando a propostas de não mais contabilizar essas reservas por propriedade, mas sim por bacia hidrográfica ou mesmo por bioma, de forma a agrupar essas áreas em fragmentos maiores, e assim aumentar seu valor biológico. Esse 211
- 231. mecanismo é conhecido como “regime de condomínio”, e já foi inserido no Código Florestal. Essa opção de agregação das RL tem respaldo em ampla discussão ocorrida nas décadas de 1970 e 1980, que considerava duas opções principais de conservação: um único fragmento grande, ou vários pequenos fragmentos de área equivalente ao fragmento grande (em Inglês, “Single Large or Several Small”, comumente denominada de SLOSS; (SIMBERLOFF & ABELE, 1976, 1982; DIAMOND, 1975, 1976). Apesar desta questão não considerar fatores essenciais para uma devida comparação, em particular o tamanho dos fragmentos pequenos e o grau de isolamento entre eles, a discussão evidenciou que muitos fragmentos pequenos podem abrigar mais espécies do que um fragmento grande, por representarem áreas com características distintas, e logo com composições menos similares. Por outro lado, um fragmento grande é a melhor opção em termos de manutenção das espécies por longo prazo, pois fragmentos grandes contêm em geral populações maiores, que são assim mais resistentes a flutuações ambientais, demográficas ou genéticas (SHAFFER, 1987), além de serem menos impactados pelos efeitos de borda. Enfim, estratégias de conservação que permitam manter as espécies em longo prazo devem dar prioridade a grandes fragmentos, o que sustentaria a proposta de agregação de RL de diferentes propriedades numa única área. Os benefícios desta estratégia dependem também da representatividade biológica da rede de RL, e da manutenção de paisagens permeáveis entre os grandes núcleos de conservação da biodiversidade, que são as Unidades de Conservação de proteção integral. Ou seja, a efetividade do agrupamento de RL em fragmentos grandes depende destes fragmentos representarem comunidades biológicas similares àquelas que estariam presentes nos pequenos fragmentos de RL. Caso isso não ocorra, há grandes riscos de extinção de espécies características das áreas mais propícias para uso econômico, mantendo apenas a biota de áreas menos propícias ao uso (e.g., solos pobres ou pedregosos, ou terrenos em áreas íngremes). Em casos extremos, se a compensação puder ser feita em qualquer região de um mesmo bioma, pode haver extinção das espécies presentes na Mata Atlântica da Bahia, e manutenção apenas daquelas presentes na Serra do Mar. Esta situação certamente não seria desejável, uma vez que estas áreas não são equivalentes, pois possuem condições ambientais e histórias evolutivas distintas, e logo têm composições de espécies distintas, sendo ambas relevantes em termos de conservação. Ademais, a concentração excessiva de RL numa única região, mesmo que situada em áreas biologicamente equivalentes, poderia levar a existência de desertos biológicos, formados por amplas monoculturas em paisagens homogêneas. Por exemplo, se ao invés de termos duas paisagens com 30% de vegetação nativa, tivermos uma de 50 e outra de 10%, a paisagem de 10% será formada unicamente por fragmentos muito isolados, e poderá ser uma importante barreira para movimentação das espécies em escala regional. Esta situação não é desejável em termos biológicos, nem em termos econômicos, uma vez que as RL têm importante papel no funcionamento da paisagem. Em particular, as RL propiciam importantes serviços ambientais, como o controle de pragas, e aumento da polinização e da produtividade de algumas culturas (DE MARCO & COELHO, 2004). Ademais, são as RL que permitem que a cobertura de vegetação nativa da paisagem fique acima dos limiares ecológicos citados anteriormente, protegendo assim parte da biota nativa, e favorecendo os fluxos biológicos entre Unidades de Conservação. Mesmo fragmentos muito pequenos podem ser importantes neste sentido. O exemplo mais claro é o da Mata Atlântica, onde fragmentos com menos de 50 ha representam um terço da cobertura florestal do bioma, e desempenham papel fundamental na redução do isolamento entre grandes fragmentos (RIBEIRO et al. 2009). Desta forma, o “regime de condomínio” é salutar para a manutenção ou a criação de grandes fragmentos, formados pela agregação de diversas RL particulares, porém é necessária a existência de um mecanismo que limite o uso deste recurso, para não criar paisagens depauperadas de vegetação, principalmente em áreas planas, onde as APP são também menos extensas. É possível estabelecer um limite percentual de áreas de RL em condomínio, e/ou limitar o uso deste mecanismo a bacias hidrográficas de extensão geográfica intermediárias, da ordem de 10 a 50 mil ha. Nesta situação, há menores chances de haver grandes disparidades de cobertura vegetacional, e ao mesmo tempo aumenta a representatividade da heterogeneidade ambiental, criando-se assim redes de RL biologicamente complementares, com maior diversidade biológica. 212
- 232. conclusões Contrariamente ao que se tem dito, o estado das pesquisas atuais oferece forte sustentação para critérios e parâmetros definidos pelo Código Florestal, sendo que em alguns casos haveria necessidade de expansão da área de conservação definida por esses critérios, em particular na definição das Áreas de Preservação Permanente. A literatura científica levantada mostra ainda que as recentes propostas de alteração deste Código, em particular alterando a extensão ou as regras de uso das Reservas Legais, podem trazer graves prejuízos ao patrimônio biológico e genético brasileiro. Os dados aqui apresentados, que retratam avanços recentes da ciência na área de ecologia e conservação, deveriam ser considerados em qualquer discussão sobre modificação do Código Florestal, e na procura da melhor configuração de nossas paisagens, que permita maximizar os serviços ecossistêmicos e o potencial de conservação da biodiversidade da biota nativa, sem prejudicar o desenvolvimento econômico nacional. agradecimentos Agradeço as edições e sugestões prestadas por Roberto Varjabedian e Alexandre Igari numa versão preliminar deste artigo. referências ALMEIDA VIEIRA F & DE CARVALHO D, 2008. Genetic structure of an insect-pollinated and bird-dispersed tropical tree in vegetation fragments and corridors: Implications for conservation. Biodiversity and Conservation, 17:2305-2321. ANDRÉN H, 1994. Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in landscapes with different proportions of suitable habitat: a review. Oikos, 71:355-366. AWADE M & METZGER JP, 2008. Using gap-crossing capacity to evaluate functional connectivity of two Atlantic rainforest birds and their response to fragmentation. Austral Ecology, 33:863-871. BARLOW J. et al., 2007a. Quantifying the biodiversity value of tropical primary, secondary, and plantation forests. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104:18555-18560. BARLOW J et al., 2007b. The value of primary, secondary and plantation forests for Amazonian birds. Biological Conservation, 136:212-231. BOSCOLO D et al., 2008. Importance of inter-habitat gaps and stepping-stones for lesser woodcreepers (Xiphorhynchus fuscus) in the Atlantic Forest, Brazil. Biotropica, 40:273-276. DE MARCO JR. P & COELHO FM, 2004. Services performed by the ecosystem: Forest remnants influence agricultural cultures’ pol- lination and production. Biodiversity and Conservation, 13:1245-1255. DEVELEY PF & STOUFFER PC, 2001. Effects of roads on movements by understory birds in mixed-species flocks in Central Ama- zonian Brazil. Conservation Biology, 15:1416-1422. DEVELEY PF & METZGER JP, 2006. Emerging threats to birds in Brazilian Atlantic forests: the roles of forest loss and configuration in a severely fragmented ecosystem. In Laurance WF and Peres CA. (eds.). Emerging Threats to Tropical Forests. Chicago: University of Chicago Press. p. 269-290. DIAMOND JM, 1975. The island dilemma: lessons of modern biogeographic studies for design of natural reserves. Biological Conserva- tion, 7:129-145. DIAMOND JM, 1976. Island biogeography and conservation: strategy and limitations. Science, 193:1027-1029. FAHRIG L, 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematic, 34:487-515. FARIA D et al., 2006. Bat and bird assemblages from forests and shade cacao plantations in two contrasting landscapes in the Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil. Biodiversity and Conservation, 15:587-612. FARIA D et al., 2007. Ferns, frogs, lizards, birds and bats in forest fragments and shade cacao plantations in two contrasting landscapes in the Atlantic forest, Brazil. Biodiversity and Conservation, 16:2335-2357. FONSECA CR et al., 2009. Towards an ecologically sustainable forestry in the Atlantic Forest. Biological Conservation, 142:1209-1219. KEUROGHLIAN A & EATON DP, 2008. Importance of rare habitats and riparian zones in a tropical forest fragment: Preferential use by Tayassu pecari, a wide-ranging frugivore. Journal of Zoology, 275:283-293. 213
- 233. LAURANCE SG & LAURANCE WF, 1999. Tropical wildlife corridors: Use of linear rainforest remnants by arboreal mammals. Biological Conservation, 91:231-239. LAURANCE WF et al., 2002. Ecosystem decay of Amazonian forest fragments: a 22-year investigation. Conservation Biology, 16:605-618. LEES AC & PERES CA, 2008. Conservation value of remnant riparian forest corridors of varying quality for Amazonian birds and mammals. Conservation Biology, 22:439-449. LIMA MG & GASCON C, 1999. The conservation value of linear forest remnants in central Amazonia. Biological Conservation, 91:241-247. LINDENMAYER DB & Luck G, 2005. Synthesis: Thresholds in conservation and management. Biological Conservation, 124:351-354. LOPES AV et al., 2009. Long-term erosion of tree reproductive trait diversity in edge-dominated Atlantic forest fragments. Biological Conservation, 142:1154-1165. MALTCHIK L et al., 2008. Dynamics of the terrestrial amphibian assemblage in a flooded riparian forest fragment in a Neotropical region in the south of Brazil. Brazilian Journal of Biology, 68:763-769. MARINHO-FILHO J & VERISSIMO EW, 1997. The rediscovery of Callicebus personatus barbarabrownae in northeastern Brazil with a new western limit for its distribution. Primates, 38:429-433. MARINI MA et al., 2009. Predicted climate-driven bird distribution changes and forecasted conservation conflicts in a neotropical savanna. Conservation Biology, 23:1558-1567. MARTENSEN AC, PIMENTEL RG & METZGER JP, 2008. Relative effects of fragment size and connectivity on bird community in the Atlantic Rain Forest: Implications for conservation. Biological Conservation, 141:2184-2192. METZGER JP, 2001. Effects of deforestation pattern and private nature reserves on the forest conservation in settlement areas of the Brazilian Amazon. Biota Neotropica. Avaliable from: http://www.biotaneotropica.org.br/v1n12. METZGER JP, 2002. Bases biológicas para definição de Reservas Legais. Ciência Hoje, 31:183-184. METZGER JP & DÉCAMPS H, 1997. The structural connectivity threshold: an hypothesis in conservation biology at the landscape scale. Acta Ecologica, 18:1-12. METZGER JP, BERNACCI LC & GOLDENBERG R, 1997. Pattern of tree species diversity in riparian forest fragments with differ- ent widths (SE Brazil). Plant Ecology, 133:135-152. METZGER JP, GOLDENBERG R & BERNACCI LC, 1998. Diversidade e estrutura de fragmentos de mata de várzea e de mata mesófila semidecídua submontana do rio Jacaré-Pepira (SP). Revista Brasileira de Botânica, 21:321-330. METZGER JP et al., 2009. Time-lag in biological responses to landscape changes in a highly dynamic Atlantic forest region. Biological Conservation, 142:1166-1177. MICHALSKI F et al., 2006. Human-wildlife conflicts in a fragmented Amazon an forest landscape: Determinants of large felid depre- dation on livestock. Animal Conservation, 9:179-188. MIRANDA EE et al., 2008. Alcance Territorial da Legislação Ambiental e Indigenista. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite. [cited 2010 March 8]. Available from:http://www.alcance.cnpm.embrapa.br.Acesso em: 8 mar. 2010. MOURA DC & SCHLINDWEIN C, 2009. The gallery forests of the São Francisco river as corridors for euglossine bees (Hymenop- tera: Apidae) from tropical rainforests. Neotropical Entomology, 38:281-284. OLIVEIRA-FILHO FJB & METZGER JP, 2006. Thresholds in landscape structure for three common deforestation patterns in the Brazilian Amazon. Landscape Ecology, 21:1061-1073. OLIVEIRA-FILHO AT et al., 1994a. Differentiation of streamside and upland vegetation in an area of montane semideciduous forest in southeastern brazil. Flora,189:287-305. OLIVEIRA-FILHO AT et al., 1994b. Effects of soils and topography on the distribution of tree species in a tropical riverine forest in south-eastern Brazil. Journal of Tropical Ecology, 10:483-508. PARDINI R et al., 2005. The role of forest structure, fragment size and corridors in maintaining small mammal abundance and diversity in an Atlantic forest landscape. Biological Conservation, 124:253-266. PARDINI R et al., 2009. The challenge of maintaining Atlantic forest biodiversity: a multi-taxa conservation assessment of specialist and generalist species in an agro-forestry mosaic in southern Bahia. Biological Conservation, 142:1178-1190. PINAY G & DÁCAMPS H, 1988. The role of riparian woods in regulating nitrogen fluxes between the alluvial aquifer and surface water: a conceptual model. Regulated Rivers - Research & Management, 2:507-516. QUIGLEY HB & CRAWSHAW J, 1992. A conservation plan for the jaguar Panthera onca in the Pantanal region of Brazil. Biological Conservation, 61:149-157. RIBEIRO MC et al., 2009. Brazilian Atlantic forest: how much is left and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological Conservation, 142:1141-1153 214
- 235. 4.3 desafios para são Paulo: biodiversidade, bioenergia e biotecnologia oswaldo lucon16 introdução Ao final da primeira década do século XXI, o Estado de São Paulo se encontra diante de grandes desafios, dentre os quais estão os impactos ambientais, a competitividade econômica e a incusão social. Nesse contexto, mútuos benefícios podem ser obtidos através do trinômio biodiversidade, bioenergia e biotecnologia. Em termos de proteção da biodiversidade, o Estado precisa recuperar áreas que foram degradadas, garantindo ainda que a o capital natural existente resista à pressão pela conversão de florestas e cerrados em áreas agrícolas, de pecuária, industriais e urbanas. A bioenergia, garantidora de uma considerável parcela de fontes renováveis na matriz paulista, contribuiu no passado para esses impactos e hoje precisa assegurar ao governo, mercados e sociedade civil, que cumpre com os crescentes requisitos de sustentabilidade. A opção energética, além de contribuir de maneira efetiva para combater os problemas causados pelo aquecimento global, representa fonte de receitas para a economia do Estado, o que, como tal, requer ganhos de escala e produtividade. Uma possível solução para esses desafios está na biotecnologia, que pode ajudar a preservar espécies nativas e desenvolver alternativas economicamente mais produtivas. biodiversidade No Estado de São Paulo a área coberta por florestas nativas caiu de 85% em 1500 para 13% em 2000. Cerca de 60% dos remanescentes de floresta nativa estão na Serra do Mar e Vale do Ribeira. Destes, 50% estão em parques estaduais. FiGura 4. 1 MaPa dos reManescentes Florestais do estado de são Paulo Legenda Cidades Rios e represas Mata Atlântica 1 - São José do Rio Preto Cerrado 2 - Ribeirão Preto Área urbana 3 - Campinas Rodovia 4 - São Paulo Fonte: Instituto Florestal 5 - Santos Fonte: BIOTA-FAPESP (sd) 16 Assessor Técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA/SP). 216
- 236. Considerado o país da megadiversidade, o Brasil possui a maior diversidade biológica do planeta, com alto índice de espécies endêmicas. Esta diversidade biológica é muito expressiva tanto em relação às potencialidades genéticas como em relação ao número de espécies e de ecossistemas (MMA, 1998). A preocupação internacional sobre a conservação da biodiversidade tem como principal marco a elaboração da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro, em junho de 1992. Dentre as complexas questões tratadas na CDB estão: (i) tratar a diversidade biológica em toda a sua amplitude; (ii) tratar da conservação da diversidade biológica, da utilização sustentável de seus componentes, e da repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos; (iii) incluir todas as formas diferentes de manejo da diversidade biológica; (iv) Contemplar os principais instrumentos para subsidiar o planejamento do uso e gerenciamento da diversidade biológica. O objetivo principal da CDB é preservar a biodiversidade, bem como o uso sustentável de seus componentes e fomentar a repartição dos benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos. Em outubro de 2010 ocorreu a 10.ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP 10, em Nagoya, no Japão. Em paralelo ocorreu a MOP 5, reunião do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. A relação entre biodiversidade e biotecnologia é o foco deste protocolo, já que é importante assegurar que o desenvolvimento da biotecnologia não traga danos à biodiversidade. Na MOP 5, as partes discutiram um regime de responsabilidade e compensação por danos que organismos geneticamente modificados vivos (OVMs) possam causar à biodiversidade (LIMA, 2010). Quanto maior o desmatamento, maiores serão os impactos sobre a biodiversidade. Um tema bastante polêmico com fortes impactos na biodiversidade é a alteração do Código Florestal (Lei 4.771/1965), em discussão no Congresso Nacional. Consideradas necessárias por parte dos agricultores e um retrocesso pelos ambientalistas, as mudanças incluem (i) uma moratória para atividades agropecuárias existentes em áreas desmatadas até 22.07.2008; (ii) um “direito adquirido” de proprietários que comprovarem que foi respeitado o índice de reserva legal em vigor na época da abertura da área, ficando dispensados da sua recomposição ou compensação; (iii) a manutenção das atividades agropecuárias e florestais consolidadas em APPs, Reserva Legal e Áreas de Uso Restrito até que União, Estados e Municípios elaborem programas de regularização ambiental – PRA´s, que devem considerar o ZEE (Zoneamento Ecológico Econômico), os Planos de Recursos Hídricos e estudos técnicos e científicos de órgãos oficiais de pesquisa, além de outras condicionantes relativas aos aspectos socioambientais e econômicos; (iv) se fundamentado nesses critérios, o PRA poderá regularizar até 100% das atividades consolidadas nas APPs, desde que não ocorram novos desmatamentos; deverão ser estabelecidas, inclusive, medidas mitigadoras e formas de compensação; (v) a alteração de áreas de preservação permanente (APPs), criando-se uma faixa para cursos d’água de menos de cinco metros de largura, cuja faixa mínima de proteção deverá ser de 15 metros, ao invés dos atuais 30 metros; (vi) dispensa da faixa de proteção (que varia de 30 a 100 metros) as acumulações de água - açudes, lagoas e represas - com área inferior a um hectare; (vii) permissão ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água sem o excesso de restrições da norma atual; (viii) mantidos os percentuais de Reserva Legal da atual legislação (20% em SP), poderá ser feito o cômputo da APP na Reserva, desde que não ocorram novos desmatamentos, que a APP esteja conservada ou em regeneração e o proprietário tenha feito o cadastro ambiental; (ix) as propriedades com áreas de até quatro módulos fiscais, a chamada pequena propriedade, ficam desobrigadas da recomposição florestal ou compensação ambiental; (x) as propriedades com área acima de quatro módulos fiscais também terão direito à isenção até esse limite, mas ficam obrigadas a regularizar a Reserva Legal sobre a área excedente; será permitido o cômputo das APPs, o que beneficia principalmente as médias propriedades; (xi) a recomposição na propriedade tem prazo de 20 anos (1/10 a cada dois anos), podendo ser utilizadas espécies exóticas intercaladas com nativas, em até 50%; (xii) para a compensação da Reserva Legal, será possível a utilização de arrendamento (por meio de servidão ambiental, fora da bacia hidrográfica e do Estado – onde localizar-se a propriedade – desde que no mesmo Bioma), ou aquisição de Cota de Reserva Ambiental (título que representa vegetação nativa sob regime de servidão ambiental, de Reserva Particular do Patrimônio Natural ou Reserva Legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais estabelecidos na lei) ou doação ao Poder Público (de área localizada no 217
- 237. interior de Unidade de Conservação, pendente de regularização fundiária ou contribuição para Fundo Público, que tenha essa finalidade); (xiii) o Programa de Recuperação Ambiental (PRA) poderá regularizar as atividades rurais consolidadas em Áreas de Proteção Permanente (sempre exigida uma forma de compensação, por critérios fixados quando da edição do PRA) ou de Reserva Legal (onde o PRA poderá ou não exigir uma compensação; se necessária, essa compensação poderá ser feita por recomposição na propriedade em 20 anos, por regeneração natural ou por compensação via aquisição de Cota de Reserva Ambiental)(AGÊNCIA CÂMARA, 2010). biotecnologia O agronegócio de cana-de-açúcar movimentou em 2008 R$ 40 bilhões, sendo metade da safra destinada à fabricação de etanol, o que faz do Brasil o segundo maior produtor do combustível no mundo. O primeiro lugar cabe aos Estados Unidos, que extraem etanol de milho a poder de pesados subsídios. Dois terços da produção nacional estão no Estado de São Paulo. Avalia-se que o Brasil precisará dobrar sua produção num horizonte de 5 a 7 anos se quiser suprir as demandas locais e internacionais do combustível, o que exigirá a construção de novas usinas, o crescimento das áreas plantadas, melhorias no manejo e, principalmente, ganhos de produtividade (MARQUES, 2009). O rendimento da cana-de-açúcar pode ser aumentado localmente por meio do aprimoramento do manejo e do aumento de insumos, além da utilização de abordagens genéticas tradicionais voltadas para a otimização da resistência a doenças e o incremento do armazenamento de sacarose. Contudo, para se atingirem maiores rendimentos, será necessário o uso das abordagens genômicas de alto desempenho. Para se ter uma idéia, o limite teórico máximo de rendimento da cana é de cerca de 220 toneladas por hectare por ano, o teto de rendimento atual é de 100 toneladas por hectare e a produção comercial atual é de cerca de 70 toneladas anuais por hectare. O teto de rendimento, por sua vez, é estabelecido por gargalos fisiológicos: características da cultura, fenologia e características da arquitetura da célula, os obstáculos que se podem superar com as novas ferramentas da genômica (FAPESP, 2009). Em São Paulo, a pesquisa para a bioenergia da FAPESP tem um orçamento previsto de R$100 milhões no período 2008-2013 (Marques, 2009), tendo sido aplicados R$65 milhões até o final de 2010 (FAPESP, 2010) bioenergia Desde o final dos anos 1970, o Estado foi o grande laboratório do Programa do Álcool, com sua produção em larga escala de cana-de-açúcar, com a adaptação dos veículos às misturas obrigatórias de etanol com gasolina, com a expansão da produção automobilística para suprir um grande mercado consumidor, com a adequação da logística e da infraestrutura ao novo combustível. O fator que motivou essa transição não era originariamente ambiental, mas a segurança energética em face da crise do petróleo. Havia, também, interesses por parte da agricultura local em garantir seus mercados. Os ganhos ambientais surgiram imediatamente no ar das grandes idades, tanto com a eliminação do chumbo tetraetila da gasolina quanto com a redução considerável de emissões de material particulado de óxidos de enxofre e monóxido de carbono. A produção de açúcar e álcool, bastante tradicional, viu-se impulsionada pela necessidade de ganhos de escala e de adequação à legislação ambiental e trabalhista. Eram freqüentes na imprensa as denúncias de contaminação de cursos d´água com lançamentos de vinhaça, de queimadas sem controle e de condições sub-humanas de trabalho dos “bóias-frias”. No início da década de 1990, um novo fator ambiental foi agregado em favor da bioenergia e de outras fontes renováveis: a possibilidade de mitigação das emissões dos gases de efeito estufa. O bioetanol, como substituto da gasolina, reincorpora o carbono que foi emitido para a atmosfera. O bagaço da cana, subproduto da moagem, pode ser aproveitado em caldeiras de alta pressão para gerar eletricidade. Os benefícios do combustível renovável passaram a ser quantificados em toneladas de CO2 evitado. As montadoras nacionais de automóveis, que já produziam o carro a álcool, aceleraram no meio da década de 2000 o desenvolvimento da tecnologia de motores e sistemas flexíveis , que podem utilizar qualquer mistura de gasolina ou de etanol. O etanol de cana, produzido 218
- 238. com alta eficiência, oferece consideráveis ganhos ambientais. Contudo, alguns de seus impactos negativos ainda geram questionamentos. Estes incluem, em nível local, a poluição do ar causada pela queima da palha da cana. Em nível global, tem-se principalmente a perda de biodiversidade devida à monocultura. A legislação ambiental e as iniciativas voluntárias evoluíram bastante nesse sentido, reduzindo a queima da palha e promovendo o reuso da água, dentre outras boas práticas. Apesar dos avanços voluntários pontuais, a questão da recomposição das matas nativas ainda não está equacionada. Dezenas de iniciativas de certificação ambiental da produção de etanol visam explicitamente minimizar esses impactos. Algumas, de maneira implícita, são utilizadas para proteger a agricultura local de países de clima temperado, fortemente subsidiada e sem condições de competitividade em livres mercados. Análises complexas, baseadas em modelagens com premissas questionáveis, buscam estabelecer relações de causa e efeito entre a produção de etanol em regiões como São Paulo e o desmatamento na Amazônia. Independentemente do mérito, as questões entre comércio internacional e mudanças climáticas ainda não apresentaram um nível de convergência satisfatório, que aplique critérios considerados fortes e eqüitativos. Tampouco se nota no contexto global uma regulação sobre os combustíveis fósseis proporcional ao dano que causam ao ambiente. o petróleo do pré-sal, a segurança energética e o aquecimento global Com a descoberta do petróleo na camada pré-sal, o Brasil está diante de uma importante opção, com reflexos no longo prazo: a dependência econômica do petróleo e a infraestrutura direcionada para atividades econômicas intensivas em emissões de carbono. Os recursos obtidos pela União com a renda do petróleo do pré-sal serão destinados ao Novo Fundo Social (NFS), que realizará investimentos no Brasil e no exterior com o objetivo de evitar a chamada “doença holandesa”, quando o excessivo ingresso de moeda estrangeira gera forte apreciação cambial, enfraquecendo o setor industrial. De acordo com o governo federal, a implantação deste fundo será articulada com uma política industrial voltada as áreas de petróleo e gás natural, criando uma cadeia de fornecedores de bens e serviços nas indústrias de petróleo, refino e petroquímico. Parte das receitas oriundas dos investimentos do fundo irá retornar à União, que aplicará os recursos em programas de combate à pobreza, em inovação científica e tecnológica e em educação (VEJA ON-LINE, 2009). Considerável parcela dos impactos ambientais globais provém do uso de petróleo e de outros combustíveis de origem fóssil. O suprimento de petróleo é visto por muitos como praticamente um sinônimo de segurança energética, uma vez que os setores convencionais da economia se apóiam na utilização especialmente de seus derivados para a produção de eletricidade, para grande parte da indústria e para o ramo de serviços, como o transporte rodoviário de pessoas e cargas. Muitos países são dependentes de importações de petróleo. A economia de diversos outros está apoiada na produção desse energético para exportação. A opção de explorar petróleo de altas profundidades era vista pelo Presidente Obama (EUA) como uma forma de se obter a garantia do suprimento de energia, até que o desastre na plataforma de extração Deepwater Horizon, no Golfo do México se tornou um importante precedente para se avaliarem impactos ambientais da exploração de petróleo em altas profundidades. O Brasil, obrigatoriamente, terá de prestar atenção nas lições do desastre. O país extrai do oceano 90% do petróleo que produz, em 826 poços marítimos, 200 deles em águas profundas. A exploração e o transporte de petróleo já provocaram vários acidentes no litoral brasileiro, dentre os quais o vazamento na refinaria Duque de Caxias na Baía de Guanabara no ano 2000, o incêndio da plataforma de Enchova na Bacia de Campos em 1984 e a explosão da plataforma P-36, também nessa Bacia em 2001 (SALVADOR e COSTA, 2010). 219
- 239. Outros impactos ambientais incluem os da prospecção sísmica do petróleo, que utiliza tecnologia semelhante ao sonar de baleias e golfinhos. Suspeita-se que o encalhe de golfinhos e baleias nas praias pode ter relação com os pulsos sonoros disparados pelos navios de sísmica. Tartarugas também poderiam ser afetadas, desviando-se de suas rotas de migração. Algumas evidências sugerem que a atividade tenha ainda efeitos negativos sobre a pesca comercial, por afugentar os peixes, além de possivelmente alterar seus padrões de acasalamento e desova (CHRISTANTE, 2009). Além dos problemas intrínsecos ao consumo de combustíveis fósseis – especialmente o aquecimento global e a poluição do ar local (o diesel brasileiro é um dos piores do mundo em termos de qualidade) - os hidrocarbonetos do pré-sal possuem um alto teor de CO2, que será despejado na atmosfera ou, com consideráveis custos energéticos e econômicos, em parte separado e reinjetado no próprio reservatório. Os investimentos nessa tecnologia e em toda a infraestrutura da cadeia desse petróleo representam derivações – com consideráveis riscos de insucesso - do que poderia ser investido em eficiência energética e em fontes renováveis de energia (CHRISTANTE, 2009). A exploração do petróleo da camada pré-sal prevê investimentos de algo entre 150 e 600 bilhões de dólares para retirar petróleo de profundidades acima de 7 km. Ainda não estão totalmente superados os desafios tecnológicos para explorar esse petróleo e existe a chance de a rocha-reservatório, que armazena o petróleo e os gás em seus poros, não se prestar à produção em larga escala a longo prazo. Além disso, há o receio de que a alta concentração de dióxido de carbono presente no petróleo do local possa danificar as instalações. (VEJA ON-LINE, 2009) as políticas climáticas nacional e paulista Em relação às mudanças climáticas, os compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil prevêem a redução de emissões de gases de efeito estufa principalmente no setor de mudança no uso da terra – basicamente o desmatamento evitado. Isso é muito importante, uma vez que esse é o setor predominante em termos de emissões nacionais, além de uma urgente questão quanto à proteção da biodiversidade. Entretanto o setor Energia prevê um vigoroso aumento nas emissões. O governo federal se comprometeu com uma meta de redução voluntária baseada num cenário tendencial de crescimento para 2020. Sobre o total projetado de crescimento para 2020, são 2,7 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. seriam emitidos, conforme apontado na Tabela 4.1. Considerando esse total a proposta de redução varia entre 36,1% a 38,9%. A redução de 36,1% a 38,9% do cenário tendencial de 2020 equivale a uma meta de redução que varia de 25 a 21,5% das emissões de 2020, sobre os níveis de 2005. tabela 4. 1 ProPosta brasileira de redução de eMissões levada à conFerência de coPenHaGue eM 2009 emissões redução das emissões emissões % de redução das total a ser emitido no cenário emissões em 2005 em 2007 emissões em relação em 2020 (milhões de tendencial de (milhões de tco2 setores (milhões (milhões ao cenário de 2020 tco2 equivalente) 2020 (milhões equivalente) de tco2 de tco2 de tco2 equivalente) equivalente) equivalente) Mínima Máxima Mínima Máxima Mínimo Máximo agropecuária 487 479 627 133 166 21,21% 26,48% 494 461 indústria e 86 60 92 8 10 8,70% 10,87% 84 82 resíduos energia 362 381 901 166 207 18,42% 22,97% 735 694 desmatamento 1268 770 1084 669 669 61,72% 61,72% 415 415 total 2203 1690 2703 976 1052 36,11% 38,92% 1728 1652 Fonte: Brasil (2009) 220
- 240. Considerando o total de emissões previsto para 2020 com a redução cumprida no ano, haveria um aumento considerável da emissão dos setores de indústrias e resíduos, bem como de energia. Apenas no setor de energia significa um aumento entre 82,1% e 92,9%, com a meta sendo cumprida, tendo como base o cenário tendencial de 2020. Isto significa que o crescimento da emissão do setor energético será de aproximadamente 6% ao ano. Numa primeira análise, pode-se entender que as emissões energéticas serão “compensadas” pelo desmatamento que deverá ser contido. Entretanto, enquanto as emissões mitigadas pelo desmatamento são contabilizadas uma única vez, as que provêm do consumo de energia se refletem durante décadas, devido às decisões tomadas sobre a infraestrutura. Grandes obras de infraestrutura são realizadas principalmente com recursos da União. A concentração de receitas e investimentos também está na esfera federal. Políticas nacionais prevêem o aumento nas emissões de gases de efeito estufa no setor de energia, conseqüência de uma maior produção de eletricidade por termelétricas, pela exploração do petróleo da camada pré-sal na costa e pelos massivos investimentos em infraestrutura de transporte e de produção baseada nos modelos tradicionais. Também muitas das decisões que afetam São Paulo partem da União por disposição constitucional. Podem-se citar a qualidade de combustíveis, padrões de eficiência de produtos (em especial veículos), regulação de produção e consumo, legislação de trânsito e boa parte da ambiental. Metade das emissões de gases de efeito estufa do Estado de São Paulo – cerca de 80 milhões de toneladas de CO2 provêm do Setor Energia. No Estado, a Lei 13.798/2009 prevê como meta a redução global de 20% (vinte por cento) das emissões de dióxido de carbono relativas a 2005 até 2020. A meta é absoluta – e não baseada em projeções tendenciais. tabela 4. 2 eMissões (MilHões de toneladas) do estado de são Paulo eM 2005, resultados PreliMinares total de Gases de efeito estufa em co2 2005 somente co2 equivalente energia 81,22 79,79 uso do solo, mudança no uso do solo e florestas 13,16 13,16 resíduos 9,37 0,02 agropecuária 28,61 0,40 indústria 11,10 3,98 total 143.46 97.36 Fonte: CETESB/PROCLIMA (2010) A adoção de uma lei prevendo a descarbonização da economia paulista possui diversos fatores motivantes: a manutenção e incremento da competitividade econômica, a geração de empregos em uma economia baseada em produtos de alto valor agregado, a proteção do sistema climático global, a conservação da biodiversidade e a preservação de outros recursos naturais através das gerações. A urgência da ação paulista tem por base o objetivo final da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - e de quaisquer instrumentos jurídicos com ela relacionados que adote a Conferência das Partes – que é o de “alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem- se naturalmente à mudança do clima, que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável”. O aquecimento global é hoje um fenômeno bastante conhecido. Para combatê-lo é necessário primeiro atacar suas causas, reduzindo as emissões dos gases de efeito estufa. Isto deve ser feito com a máxima urgência, porque o sistema climático da Terra é dinâmico e a capacidade dos ecossistemas em se adaptar a essa realidade é limitada e está se esgotando. Para se emitir menos gases estufa é preciso, intrinsicamente, consumir menos e melhor, adotando-se padrões eficientes e sustentáveis 221
- 241. que reduzam a pressão sobre os recursos naturais. Deve-se ter em conta sempre a inércia dos sistemas humanos e naturais: novas políticas e tecnologias levam tempo para serem postas em prática. Leva ainda mais tempo para os sistemas naturais assimilarem seus impactos benéficos (Figura 4.2). FiGura 4. 2 MitiGação de iMPactos aMbientais neGativos: escala de teMPo Para os eFeitos de uMa nova tecnoloGia “business Inércia dos as usual”: impactos sistemas sem as humanos Tecnologias medidas impactos Impactos cumulativos mitigados Inércia dos Acordos sistemas naturais: clima, seres vivos, correntes etc. Reconhecimento Metas intrínsecas Impactos desejáveis Tempo Fonte: Goldemberg e Lucon (2009) conclusões São Paulo e o Brasil estão diante de uma importante opção quanto ao seu futuro energético, ambiental, social e econômico. De um lado, estão as energias renováveis e a eficiência energética. De outro, a exploração do petróleo e a infraestrutura produtiva carbono-intensiva. É uma aposta considerável, ainda que ambas as alternativas tenham como pano de fundo o desenvolvimento do país. As trajetórias e compromissos do estado e do país são conflitantes no que se refere às emissões de gases de efeito estufa e isso precisa ser equacionado o quanto antes, preferencialmente em favor da proteção do sistema climático global e da biodiversidade. Dentre as alternativas para mitigar as emissões, já se tem o uso sustentável da bioenergia, com o auxílio da biotecnologia. A proteção da biodiversidade depende da mitigação de diversos impactos, tanto reduzindo-se o consumo de combustíveis fósseis quanto respeitando-se as fronteiras dos ecossistemas. Muitas dessas medidas estão na esfera de competência da União, o que torna ainda mais difícil a tarefa para o Estado de São Paulo. referências AGÊNCIA CÂMARA (2010). Comissão aprova reforma do Código Florestal. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/agencia/ noticias/MEIO-AMBIENTE/149459-COMISSAO-APROVA-REFORMA-DO-CODIGO-FLORESTAL.html>. BEESP (2008). Balanço Energético do Estado de São Paulo. Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.energia.sp.gov.br/balanco_energetico.htm> BEN (2008) Balanço Energético Nacional (Brazilian Energy Balance). Ministério de Minas e Energia. Disponível em: <http://www. mme.gov.br/site/menu/select_main_menu_item.do?channelId=1432&pageId=14131> 222
- 242. BIOTA-FAPESP (sd). Biodiversidade do Estado de São Paulo: Cores e Sombras. Disponível em: <http://www.biota.org.br/expobio/ Biota.pdf> BRASIL (2009). Cenários para Oferta Brasileira de Mitigação de Emissões. São Paulo, 13 de Novembro 2009. MMA MAPA MME MF MDIC MCT MRE Casa Civil. Disponível em: <http://www.forumclima.pr.gov.br/arquivos/File/CenariosparaOfertaBrasileira- deMitiga.pdf> CETESB-PROCLIMA (2010). Consulta Pública dos Relatórios de Referência para o Inventário Estadual de Gases de Efeito Estufa do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/geesp/consulta.asp> CHRISTANTE L (2009). Exploração de petróleo no pré-sal traz dilemas na era da crise climática. Unesp Ciência, Ano 1, nº 3. FAPESP (2009). Além do limite. Disponível em: <http://www.agencia.fapesp.br/materia/10242/especiais/alem-do-limite.htm>. FAPESP (2009). Bioen – Brazilian Research on Bioenergy. Disponível em: <http://www.fapesp.br/publicacoes/pasta_bioen_ jun2010.pdf>. FAPESP (2010). Cientistas pedem mais pesquisas em energia. Planeta Sustentável. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril. com.br/noticias/energia-limpa-renovavel-incentivo-pesquisa-matriz-energetica-brasil-606763.shtml>. GOLDEMBERG J e LUCON O (2009). Energia, meio ambiente e desenvolvimento, 3ª. ed., Edusp. INSTITUTO FLORESTAL – IF. Inventário florestal da vegetação natural do Estado de São Paulo. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente / Instituto Florestal. Imprensa Oficial, 2005. LIMA, R (2010). Biodiversidade e biotecnologia. O Estado de São Paulo, 10 de julho de 2010. MARQUES F (2008). Vias para avançar como líder do etanol. Pesquisa FAPESP 149, Julho. Disponível em: <http://revistapesquisa. fapesp.br/?art=3574&bd=1&pg=1>. MMA (1998). Relatório Nacional para a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri- cos e da Amazônia Legal. SALVADOR A e COSTA N (2010). As lições do abismo. Veja n. 2167. VEJA ON-LINE (2009). Pré-sal, perguntas e respostas. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respos- tas/pre-sal/index.shtml> 223
- 243. 4.4 a alcoolquímica no cenário futuro da cana-de-açúcar alfred szwarc17 introdução Referência internacional no uso de etanol como combustível automotivo, o Brasil tem se notabilizado por desen- volver, em larga escala, a experiência mais bem sucedida no mundo de substituição de combustíveis fósseis por uma fonte de energia mais limpa e renovável. O etanol, juntamente com o bagaço da cana, largamente utilizado para geração de energia térmica e elétrica, representa 18,1% da oferta interna de energia, o que qualifica a cana- de-açúcar como a segunda maior fonte de energia na matriz energética nacional18. Pelo fato do país ser tecnologicamente avançado na produção de etanol, e por estar continuamente expandindo a sua produção em bases competitivas com os derivados do petróleo, possui condições para diversificar e ampliar a gama de aplicações do produto. Uma das principais alternativas é o desenvolvimento da alcoolquímica, que se baseia na utilização do etanol (álcool etílico) como matéria-prima para a fabricação de produtos químicos com amplo uso industrial como eteno, butadieno, acetaldeído, acetona, ácido acético, acetato de etila e etileno glicol, entre outros. A alcoolquímica não é exatamente uma novidade, havendo registros de sua utilização em escala comercial no país desde a década de 1940. A Rhodia, por exemplo, introduziu o uso do etanol em sua cadeia produtiva em 1944. Até a inauguração das centrais petroquímicas na década de 1970, empresas como a Salgema, Union Carbide, Eletrocloro, Solvay e Companhia Alcoolquímica Nacional utilizaram o etanol como matéria prima para fabricar eteno, insumo fundamental para a produção de importantes polímeros como o polietileno e o PVC. Além dessas empresas, a Companhia Pernambucana de Borracha Sintética, também utilizando a rota do etanol, produziu butadieno, base de seus produtos. Somente nos anos setenta, depois de implantada a alcoolquímica no país, é que surgiu a indústria petroquímica, possibilitando uma enorme oferta de derivados de petróleo e de gás natural a preços mais atrativos que o etanol, o que afetou significativamente a sua competitividade, particularmente na produção de eteno. Contudo, as crises mundiais de fornecimento de petróleo ocorridas em 1973 e em 1979, que elevaram substancialmente o preço de seus derivados, deram à alcoolquímica novo fôlego, possibilitando a sua expansão até meados da década de 1980. Posteriormente, com a queda nos preços do petróleo e a eliminação de subsídios para o etanol, a alcoolquímica perdeu novamente atratividade. Mais recentemente, o ciclo de aumento nos preços do petróleo registrado a partir de 2004, e que atingiu o pico de 148 dólares o barril em 2008, trouxe novamente à tona o interesse pela alcoolquímica. Outras razões também vieram contribuir para o seu renascimento, sendo a questão ambiental um fator estratégico. A preocupação com a poluição e o aquecimento global tem estimulado a utilização de processos industriais mais eficientes e menos impactantes, especialmente em termos de emissão de substâncias intensificadoras do efeito estufa. Além disso, a exaustão das reservas conhecidas de petróleo, e o fato de que a exploração das grandes reservas que vem sendo descobertas envolve maiores riscos ambientais e custos mais elevados, tem incentivado a indústria química a diversificar as suas fontes de matérias primas e buscar alternativas de origem renovável. 17 Engenheiro Mecânico, M.Sc. em Engenharia Ambiental e Especialista em Bicombustíveis. É diretor da ADS tecnologia e desenvolvimento sustentável e consultor técnico da UNICA (União da Indústria da Cana-de-açúcar). 18 Ano-base 2009, Ministério de Minas e Energia e Empresa de Pesquisa Energética, 2010. 224
- 244. consolidação da alcoolquímica Em 2007, quando os investimentos na indústria da cana-de-açúcar não paravam de se multiplicar, três projetos importantes na área da alcoolquímica foram anunciados, sendo dois voltados para a produção de polietileno e um para a produção de PVC. O interesse pelo polietileno é justificado por se tratar do plástico mais utilizado no mundo (indústria automobilística, de cosméticos, de embalagens, brinquedos, higiene, limpeza etc.) e, por conseguinte, apresentar altas taxas de crescimento. Como o polietileno produzido a partir do etanol tem características e propriedades idênticas às do produto de origem fóssil, pode ser utilizado nas mesmas aplicações. Quanto ao PVC, trata-se de um tipo de plástico largamente utilizado na construção civil e no saneamento básico, mas também com importantes aplicações em outras áreas como na medicina, indústria automobilística, embalagens, brinquedos etc. Analogamente ao que acontece com o polietileno, o PVC fabricado com matéria prima derivada de etanol apresenta a mesma versatilidade e características do produto de origem fóssil. Projetos anunciados em 2007 e seu estágio atual: A Braskem, gigante brasileira do setor petroquímico, desenvolveu um projeto de alcoolquímica para a produção de 200 mil toneladas anuais de polietileno. Por ocasião do anúncio do projeto a direção da empresa previu que uma parcela de sua clientela estaria disposta a pagar um prêmio pelo produto por este ser produzido a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima renovável e sustentável. A fábrica da Braskem, instalada no Rio Grande do Sul, foi inaugurada em 2010 e torna a empresa líder mundial na produção de bioplásticos, frequentemente tam- bém chamados “plásticos verdes”. O volume de etanol necessário para atender a produção é de aproximadamente 450 de milhões de litros por ano. Estimativas de ciclo de vida feitas pela empresa indicam que, desde a origem da matéria prima no canavial até a fabricação do polietileno, cada tonelada de bioplástico produzido está relacio- nada à fixação de 2.0 a 2,5 toneladas de gás carbônico (CO2) da atmosfera pela biomassa. O cálculo tem como premissa que a cana-de-açúcar utilizada na produção do etanol necessário para o processo industrial absorve 7,4 toneladas de CO2 por meio da fotossíntese ao longo de seu ciclo de crescimento, enquanto que a produção do po- lietileno emite 4,9 toneladas de CO2 por tonelada. Em uma prova de confiança no etanol, a Braskem desenvolveu um processo para a produção em larga escala de polipropileno. Esse produto é o segundo plástico mais utilizado no mundo e, devido às suas características de elevada resistência a impactos e facilidade de moldagem é bastante utilizado na produção de autopeças, gabinetes de eletrodomésticos, componentes de ferramentas etc. A intenção declarada pela empresa é de estabelecer uma produção inicial de 30 mil toneladas por ano, que tem previsão de chegar ao mercado em 2013. A fabricante estima que cada tonelada de polipropileno produzida deve apresentar, no ciclo de vida, um impacto na emissão de CO2 equivalente à estimada para o polietileno. A Dow Chemical, maior empresa química dos EUA e maior produtora mundial de polietileno, anunciou um projeto ambicioso visando a produção de 350 mil toneladas anuais de polietileno, em um complexo industrial a ser construído em Minas Gerais. A empresa chegou a contratar o fornecimento anual de 700 milhões de litros de etanol, todavia a crise financeira global de 2008 e dificuldades com parceiros afetaram o andamento do projeto, que teve o seu desenvolvimento interrompido. Com a melhoria do cenário econômico e crescimento do mercado de plásticos a Dow informou, em dezembro de 2010, que estava retomando o projeto. A Solvay Indupa, tradicional fabricante belga de produtos químicos, anunciou a intenção de construir uma plan- ta industrial em Santo André, SP, para a fabricação de 60 mil toneladas anuais de eteno, destinadas à produção de PVC. Para isso a empresa fechou um contrato para o fornecimento de 150 milhões de litros de etanol por ano. Da mesma forma que a Dow, a Solvay também interrompeu o projeto por conta da crise financeira global, mas já anunciou a sua retomada. Além dos projetos mencionados, existem outros que vem sendo desenvolvidos há tempos. A Braskem produz o ETBE, um aditivo para a gasolina que tem cerca de 40% de sua formulação derivada de etanol e que é destinado exclusivamente para exportação. A unidade de ETBE consome cerca de 150 milhões de litros por ano de etanol. Outro caso é o da Rhodia: a empresa produz de 15% a 20% de seus produtos pela rota do etanol, consumindo 225
- 245. cerca de 500 milhões de litros por ano, o que a torna uma das principais consumidoras industriais do produto. Além disso, fechou contrato com a Sipchem, petroquímica da Arábia Saudita, para prover a tecnologia de fa- bricação de acetato de etila usando a rota do etanol e, a partir de 2013, quando deve ser iniciada a produção, irá fornecer 70 milhões de litros de etanol por ano. Em 2010, a Coca-Cola lançou no Brasil as garrafas denominadas “PlantBottle”, utilizadas nos EUA e no Ca- nadá desde 2009. Consideradas pela fabricante de bebidas como um passo positivo em direção da sustenta- bilidade, são produzidas de bio-PET, plástico que apresenta as mesmas propriedades que o PET tradicional, mas que contêm na sua composição até 30% de eteno derivado de etanol, substituindo parcialmente o eteno de origem fóssil. Embora o bio-PET seja atualmente importado, a Coca-Cola vem trabalhando com seus fornecedores para que o produto seja produzido no Brasil e demonstra expectativas de que a fração de eteno que compõe o bio-PET seja, em futuro próximo, 100% derivada de etanol. A tendência de crescimento no uso do bio-PET é significativa e vem ganhando atenção internacional. A Petrobras assinou no começo de 2011 um contrato de 10 anos para o fornecimento anual de 143 milhões de litros de etanol para a produção de bio-PET em Taiwan. Um projeto inovador de produção de plástico a partir do açúcar da cana vem sendo conduzido na Usina da Pedra, em Ribeirão Preto (SP), onde uma unidade piloto produz, desde 2002, cerca de 60 toneladas por ano de PHB. Embora não utilize o etanol como matéria prima, mas o açúcar, a origem da matéria prima é a mesma. O PHB, além de ser de origem renovável é 100% biodegradável, o que agrega valor ao produto. Embora ainda te- nha custo elevado e aplicação limitada, praticamente toda a produção é exportada para os EUA, Japão e Europa. Uma nova planta industrial, com produção de 10 mil toneladas por ano, está prevista para entrar em operação nos próximos anos. Os diversos processos que vem sendo desenvolvidos na área da alcoolquímica requerem investimentos em ino- vação tecnológica na busca por novas aplicações, aumento do rendimento industrial, melhor eficiência energética e maior competitividade comercial. Além desses investimentos, que geram conhecimento científico e know-how, também são necessários investimentos adicionais nas novas unidades industriais. Para que todo esse esforço possa ser traduzido em sucesso, as empresas que utilizam ou pretendem utilizar a alcoolquímica tem que estar seguras quanto ao fornecimento do etanol e à competitividade do produto no longo prazo. Previsibilidade no fornecimento de etanol é uma palavra-chave e requer contratos de fornecimento por 10 anos ou mais. A questão dos preços do etanol em relação às matérias primas de origem fóssil é, certamente, um fator crítico para a con- solidação da alcoolquímica e requer uma nova abordagem, que valorize as externalidades ambientais e sociais positivas relacionadas com a produção e utilização do etanol. Perspectivas para o setor sucroalcooleiro A consolidação da alcoolquímica abre novas perspectivas para o setor sucroalcooleiro. De acordo com a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA), o mercado de etanol para as indústrias químicas e farmacêuti- cas movimenta no país um volume superior a 1,5 bilhão de litros por ano, que pode dobrar em alguns anos. Essa expectativa tem levado diversas empresas do setor a rever suas estratégias de produção e comercializa- ção com vistas a aumentar sua participação nesse mercado, que representa de 5% a 10% da sua produção de etanol. Como o uso automotivo do etanol deve continuar a se expandir, as empresas do setor interessadas na alcoolquímica precisarão investir no aumento da capacidade produtiva. Esse aumento tende a acontecer principalmente nas regiões em que é possível o aproveitamento de terras ociosas e degradadas, principalmente nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No estado de São Paulo, dada a limitação de dis- ponibilidade de terras para expansão agrícola e considerando os custos elevados dessas terras, o crescimento da produção irá requerer, em grande parte dos casos, mudanças tecnológicas que possibilitem aumento de produtividade agrícola e industrial. 226
- 247. considerações finais A alcoolquímica representa uma grande oportunidade de negócios para a indústria da cana-de-açúcar, entretan- to enfrenta o desafio da competição com os derivados de petróleo e o gás natural. Pesa a favor da alcoolquímica a possibilidade de efetivos ganhos ambientais em relação à petroquímica, principalmente quanto à redução de gases de efeito estufa. Além disso, a alcoolquímica é uma alternativa tecnicamente viável para suprir um mercado que apresenta demanda crescente por produtos fabricados de forma sustentável. Muitas das unidades produtoras de açúcar e etanol existentes no país, especialmente as instaladas no estado de São Paulo, já se encontram em um estágio que permite classificá-las como precursoras das biorrefinarias, pois tem na inovação tecnológica importante ferramenta para o crescimento da produção. É perfeitamente possível que em futuro próximo seja possível processar a totalidade da biomassa existente na cana-de-açúcar e, dessa forma, aumentar a produção de etanol, inclusive contemplando o abastecimento da alcoolquímica. Outros pro- dutos, alguns novos no mercado, caso do “diesel de cana”, que apresenta diversas vantagens técnicas e ambientais em relação ao diesel derivado de petróleo, também poderão ser viabilizados. 228
- 248. 4.5 transição demográfica e envelhecimento populacional no estado de são Paulo carlos eugenio de carvalho Ferreira19 bernadette cunha Waldvogel20 O fenômeno do envelhecimento populacional vem atingindo praticamente todos os países do mundo, com maior ou menor intensidade, e constitui processo sem paralelo na história da humanidade. O decréscimo da fecundidade observado na população mundial, acompanhado de aumento contínuo da longevidade, determinou importante retração nos ritmos de crescimento demográfico e rápido processo de envelhecimento populacio- nal. Segundo o relatório sobre envelhecimento populacional das Nações Unidas de 2007 (World Population Ageing), aproximadamente 600 milhões de pessoas possuíam mais de 60 anos, em 2000, no conjunto da po- pulação mundial, devendo alcançar 2 bilhões em 2050. Essa projeção indica, portanto, que a população idosa mundial poderá triplicar de volume em um espaço de 50 anos. Na atualidade, esse segmento cresce a uma taxa de 2,6% ao ano, enquanto a população total aumenta 1,1% anualmente. A tendência é de que, até meados do século, a população idosa continue crescendo em ritmo superior ao das demais faixas etárias. FiGura 4. 3 PoPulação Mundial de 60 anos e Mais (1950/2050) Em milhões 2.500 1.968 2.000 1.500 1.193 1.000 609 500 350 205 0 1950 1975 2000 2025 2050 Fonte: United Nations Uma população envelhece quando o aumento da proporção de idosos (pessoas com mais de 60 anos) está as- sociado ao decréscimo da proporção de crianças (menores de 15 anos). A queda da fecundidade é o principal fator determinante desse processo de redução progressiva do ritmo de crescimento dos nascimentos, enquanto 19 Economista, Mestre em Demografia (Louvain, Bélgica), Doutor em Saúde Pública (USP). Coordenador da Divisão de Projeções Populacionais da Fundação Seade 20 Estatística, Mestre em Demografia (Cedeplar/UFMG), Doutora em Saúde Pública (USP). Gerente de Indicadores e Estudos de População da Fundação Seade. 229
- 249. o dos idosos permanece crescente, estando relacionado ao aumento da longevidade e do volume das gerações mais antigas. Desta forma, a estrutura etária da população se altera radicalmente e a forma piramidal, geralmente utilizada para representar a distribuição por idade de uma população, vai perdendo sua forma original com o progressivo estreitamento da base. a transição demográfica no estado de são Paulo O processo de transição demográfica da população brasileira e, mais especificamente, da paulista, contempla a queda acentuada da fecundidade para níveis inferiores ao da reposição e o aumento progressivo da esperança de vida ao nascer. No Estado de São Paulo, a diminuição da fecundidade foi contínua de 1983 até o início dos anos 1990, quando ocorreu uma relativa estabilização. A partir de 2000, a redução tem sido sistemática, como se pode observar na Figura 4.4. FiGura 4. 4 taxa de Fecundidade (1) no estado de são Paulo (1980-2009) N. médio de filhos 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 19 0 19 1 19 2 19 3 84 19 5 19 6 19 7 88 19 9 19 0 19 1 92 19 3 19 4 95 19 6 19 7 19 8 20 9 00 20 1 20 2 03 20 4 20 5 20 6 07 20 8 09 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 19 20 20 20 Fonte: Fundação Seade Nota: (1) Número médio de filhos por mulher Assim, a taxa de fecundidade do Estado de São Paulo, elaborada com base nas informações do Registro Civil produzidas na Fundação Seade, passou de 3,4 filhos em média por mulher, no início da década de 1980, para cerca de 2,3 filhos, nos anos 1990. Os indicadores para a década seguinte indicam que a fecundidade reduziu- se consideravelmente, passando a valores inferiores ao nível de reposição (2,1 filhos por mulher) até alcançar o mínimo de 1,7 filho, em 2007, que permanece até 2009. A tendência da fecundidade alterou significativamente a evolução do número de nascidos vivos no Estado de São Paulo, no período de 1970 a 2009, como mostra a Figura 4.5. Nesse período, os nascimentos no Estado alcançaram um volume máximo em 1982 (772 mil nascidos vivos), passando a diminuir até o início dos anos 1990, quando ocorreu uma recuperação relativa, mas sem chegar ao nível máximo registrado anteriormente. A primeira década do novo século apresentou decréscimo sistemático do número de nascidos vivos, atingindo 598 mil em 2009. 230
- 250. A tendência de queda do número de nascimentos em São Paulo determina a formação de gerações cada vez menores, que reproduzem uma população jovem decrescente ao longo do tempo. FiGura 4. 5 nascidos vivos no estado de são Paulo (1970-2009) Em mil 800 750 700 650 600 550 500 450 400 73 85 06 97 79 82 88 94 00 70 91 09 76 03 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 Fonte: Fundação Seade A evolução do indicador sintético de nível da mortalidade – a esperança de vida ao nascer – no período 1940- 2009, indica progresso contínuo na luta contra a mortalidade e nítido aumento da vida média da população paulista (Tabela 4.3). Os maiores ganhos de esperança de vida foram registrados entre 1940 e 1960, como resultado da redução da incidência e da letalidade de muitas doenças infecciosas e parasitárias responsáveis pela elevada frequência de mortes evitáveis, sobretudo na população infantil. Durante a década de 1970, as intervenções governamentais na área da saúde pública, com ênfase na expansão da rede de água e esgoto e de serviços básicos, resultaram na diminuição das taxas de mortalidade e no aumento da esperança de vida em várias regiões do país e, mais especificamente, no Estado de São Paulo. Na década de 1980, manteve-se a tendência de redução da mortalidade em São Paulo, principalmente da infan- til, o que representou contribuição importante para o crescimento da esperança de vida ao nascer. Entretanto, intensificou-se o aumento da mortalidade masculina precoce por acidentes e violências, principalmente na faixa etária de 15 a 39 anos, o que se refletiu negativamente no cômputo da vida média, reduzindo-se assim os ganhos em esperança de vida. O início do novo século veio acompanhado de redução significativa das causas violentas, com reflexos positivos importantes sobre a esperança de vida paulista. Cabe destacar, nesse processo de transição da mortalidade, a tendência de aumento da esperança de vida aos 60 anos de idade, que reflete maior longevidade da população e contribui, por sua vez, para o processo de envelhe- cimento demográfico. 231
- 251. tabela 4. 3 esPerança de vida ao nascer e aos 60 anos no estado de são Paulo (1940-2009) esperança de vida (em anos) anos ao nascer aos 60 anos 1940 45,4 13,3 1960 60,0 15,8 1980 66,7 17,5 2000 71,6 19,6 2005 73,7 20,2 2009 74,4 20,5 Fonte: Fundação Seade A queda da fecundidade, que resultou na diminuição dos nascimentos e na redução acentuada do crescimento vegetativo, teve impacto significativo sobre a evolução das taxas de crescimento populacional do Estado, que apresentaram ritmo decrescente (Tabela 4.4). Entre 1970 e 1980, a taxa de crescimento era de 3,51% ao ano e foi se reduzindo até atingir 1,10% ao ano na última década (2000-2010). Embora o saldo migratório para o Estado de São Paulo, que já foi elevado no passado, tenha também diminuído, é a redução do crescimento vegetativo que responde fundamentalmente pela retração do ritmo de crescimento demográfico no Estado. tabela 4. 4 evolução da PoPulação do estado de são Paulo (1970-2010) crescimento taxa anual de anos População absoluto anual crescimento (%) 1970 17.670.013 728.323 3,51 1980 24.953.238 589.367 2,12 1991 31.436.273 615.345 1,82 2000 36.974.378 427.778 1,10 2010 41.252.160 - - Fonte: Fundação Seade e IBGE Em síntese, o rápido processo de transição demográfica no Estado de São Paulo introduziu mudanças signifi- cativas nos padrões e tendências populacionais. A fase de população eminentemente jovem associada a elevadas taxas de crescimento populacional está sendo substituída por um perfil etário cada vez mais envelhecido e asso- ciado a baixas taxas de crescimento demográfico. Se a diminuição do ritmo de crescimento demográfico reduz pressões em diversos setores da sociedade e con- templa o planejamento com maior fôlego para realizações almejadas, as tendências do novo perfil etário da po- pulação alertam para o fato de que as demandas sociais no âmago da sociedade paulista estão paulatinamente se alterando e pendendo para o segmento mais idoso da população. as transformações na estrutura etária paulista A evolução da pirâmide etária do Estado de São Paulo, entre 1950 e 2050, deixa evidente o impacto do processo de envelhecimento e as profundas mudanças que estão em andamento na composição por idade da população. No passado, a estrutura por idade da população se assemelhava a uma pirâmide com base muito ampla, que representava os mais jovens, e cúspide estreita, onde se concentravam as idades mais avançadas. O processo de envelhecimento demográfico vem distorcendo a forma tradicional da pirâmide, como pode ser visto na Figura 4.6, que apresenta as pirâmides de 1950 a 2050. 232
- 252. FiGura 4. 6 PirâMides etárias da PoPulação residente, Por sexo, no estado de são Paulo (1950-2050) Homens Mulheres 75 e + 70 a 74 1950 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 05 a 09 % 00 a 04 % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Homens Mulheres 75 e + 70 a 74 65 a 69 2000 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 05 a 09 % 00 a 04 % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Homens Mulheres 75 e + 70 a 74 65 a 69 2050 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 05 a 09 % 00 a 04 % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fonte: Fundação Seade e IBGE Em 1950, a base da pirâmide da população do Estado de São Paulo, representada pelo grupo de 0 a 4 anos, corresponde à maior participação relativa no total da população. Os grupos etários subsequentes reduzem sua participação à medida que as idades avançam, delineando, assim, a forma clássica de uma pirâmide. 233
- 253. Já em 2000, o traçado geométrico apresenta mutações em consequência do estreitamento da base da pirâmide e do alargamento das faixas etárias mais avançadas. A queda da fecundidade e a consequente redução do número de nascimentos no Estado, durante a década de 1980, foi impactante na estrutura etária da população paulista, ao reduzir drasticamente a participação da população jovem. Por outro lado, os grupos etários que estão chegando ao topo da pirâmide pertencem a gerações crescentes devido à elevada fecundidade no passado e também por se beneficiarem de maior longevidade. As projeções demográficas para 2050 indicam profunda transformação na estrutura etária da população. A geometria da figura deixa de ser a da pirâmide tradicional, passando a exibir uma figura que se parece com uma pirâmide invertida, em que a base tornou-se mais estreita do que o topo. Isso significa dizer que, ao contrário do que acontecia em 1950, as faixas etárias, a partir da base, vão aumentando sua participação em relação ao total da população. Esses três momentos da demografia paulista mostram a trajetória do processo de envelhecimento e o novo retrato da população, em que a idade mediana, que era de 20,7 anos em 1950, passa a 27,5 anos em 2000 e, possivelmente, atingirá 45,2 anos em 2050. A profunda transformação no padrão etário da população paulista fica evidente ao se considerar que, enquanto em 2010 a metade da população paulista tem menos de 32 anos de idade, no horizonte de 40 anos a metade da população paulista terá mais de 45 anos. Tal panorama interfere em todas as dimensões da vida e terá profundo impacto nas demandas de todos os setores da sociedade, tais como educação, saúde, previdência social, etc. evolução das populações de jovens e idosos em são Paulo As projeções demográficas produzidas pela Fundação Seade para o Estado de São Paulo indicam que, em 2025, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos deverá ultrapassar o número de jovens com idade até 14 anos. Trata-se de situação singular na história da população paulista, diretamente resultante de duas tendências populacionais opostas: decréscimo dos efetivos mais jovens e contínuo aumento dos contingentes mais idosos. A Figura 4.7 apresenta essa tendência histórica e indica que o ponto de encontro das duas curvas, em 2025, se dará com um contingente de 8,6 milhões de indivíduos, se os parâmetros da projeção ocorrerem exatamente como esperado. 234
- 254. FiGura 4. 7 PoPulação JoveM e idosa no estado de são Paulo (1950-2050) População 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Jovem (0 a 14 anos) Idosa (60 anos e +) Fonte: Fundação Seade e IBGE A evolução populacional no período de 1950 a 2050 torna evidente o impacto das transformações que ocorrem na estrutura etária da população paulista e a transferência progressiva da participação dos jovens para os idosos, em relação à população total. O segmento populacional com menos de 14 anos de idade era composto, em 1950, por 3,5 milhões de crianças. Esse número cresceu até 2000, quando atingiu um total de 9,7 milhões. A partir deste ano, as projeções indicam decréscimo do número de crianças, em decorrência do nascimento de gerações cada vez menores, devendo atin- gir 6,6 milhões em 2050. Em 1950, a população paulista acima de 60 anos de idade era de 402 mil pessoas e a projeção para 2050 indica um efetivo de 14,7 milhões, ou seja, aumento de mais de 36 vezes em cem anos. Vale ressaltar que em 2010 o contingente jovem era o dobro do idoso, mas em 2050 a relação se inverterá e o segmento idoso será duas vezes maior. Estas cifras tornam-se ainda mais realistas quando se considera que a geração formada pelas pessoas com mais de 60 anos, em 2050, já existe, podendo ser identificada no recenseamento de 2010 como a população com mais de 20 anos de idade. Evidentemente, em 2050, o censo contará os sobreviventes dessa geração, que permaneceram residindo no Estado, e os eventuais imigrantes da mesma faixa etária. As relações entre os segmentos populacionais em idade predominantemente inativa e aqueles em idade potencialmente ativa sofrerão alterações importantes, como é possível intuir com as tendências das razões de dependência. 235
- 255. evolução das razões de dependência A razão de dependência é um indicador da participação da população potencialmente inativa, em relação à população potencialmente produtiva. Foi convencionada a utilização da soma dos menores de 15 anos e dos maiores de 60 anos para relacionar com a população potencialmente produtiva de 15 a 59 anos de idade. A evolução da razão de dependência, para o período 1950 a 2050, está representada no Gráfico 6 e mostra três fases distintas: • de 1950 a 1970, quando os níveis da dependência situavam-se em patamar elevado, em torno de 75%, e o peso concentrava-se na população jovem (0 a 14 anos); • de 1980 a 2010, em que os níveis de dependência se reduzem sistematicamente; • de 2010 a 2050, em que a razão de dependência tenderá a aumentar, em função do crescimento da po- pulação idosa, atingindo, próximo de 2050, os mesmos patamares elevados já registrados anteriormente, entre 1959 e 1970. FiGura 4. 8 razão de dePendência no estado de são Paulo (1950-2050) % 100 90 80 70 60 50 40 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Fonte: Fundação Seade e IBGE O gráfico da evolução da razão de dependência também demonstra que os menores níveis de dependência, du- rante o processo de transição demográfica paulista, situam-se entre 2000 e 2020, com valores próximos de 50%. Esse período caracteriza-se pelo fato de o segmento jovem se reduzir significativamente e o dos idosos, que vem crescendo, ainda não atingir volumes mais expressivos. Trata-se de situação singular durante o processo de transição demográfica, denominada “janela demográfica de oportunidades” ou “ bônus demográfico”, por refletir uma conjuntura demográfica favorável ao processo de desen- 236
- 257. Esta revista foi impressa em papel fabricado com madeira de reflorestamento certificado com o selo do FSC (Conselho de Manejo Florestal) e de outras fontes controladas. A certificação segue padrões internacionais de controles ambientais e sociais. © Fontes Mistas Grupo de produto proveniente de florestas bem manejadas e fontes controladas FSC www.fsc.org cert no. SW-COC-000000 © 1996 Forest Stewardship Council secretaria do Meio ambiente Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 05459-900 - São Paulo – SP Fone: (11) 3133-3000 www.ambiente.sp.gov.br info@cetesbnet.sp.gov.br disque ambiente 0800 113560
- 258. MEIO AMBIENTE PAULISTA QUA L I DA D E A M B I E N TA L R E L AT Ó R I O 2 0 1 1 ISBN 978-85-86624-91-9 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

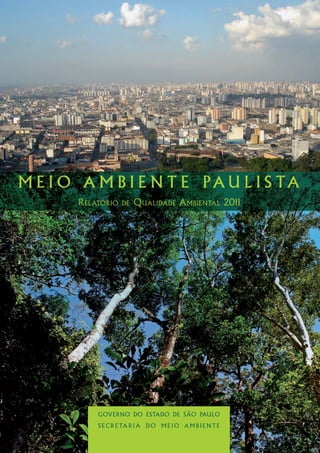
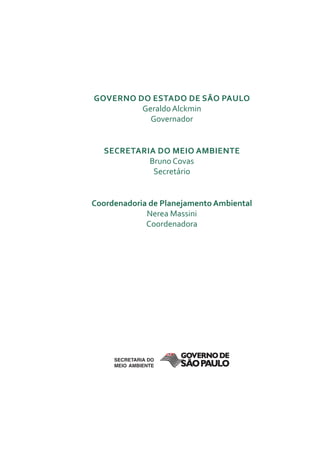

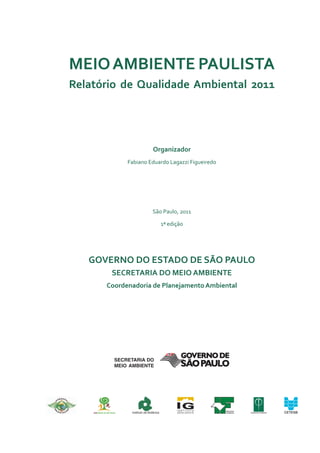












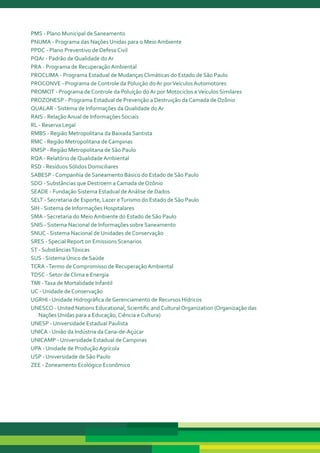


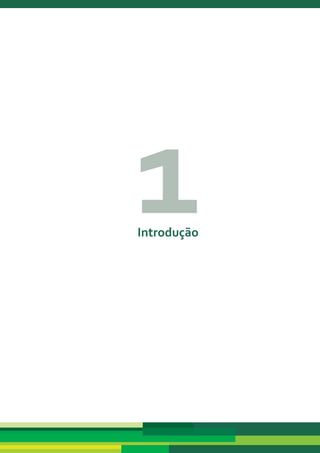



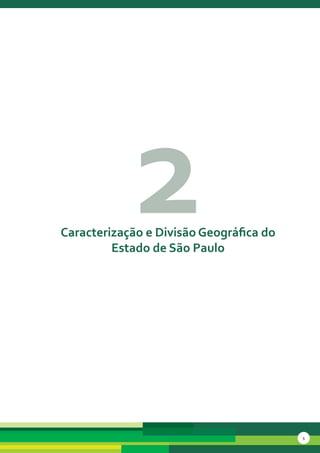

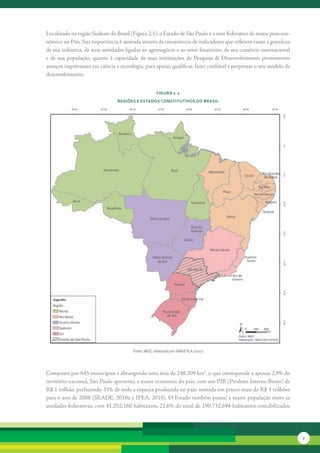

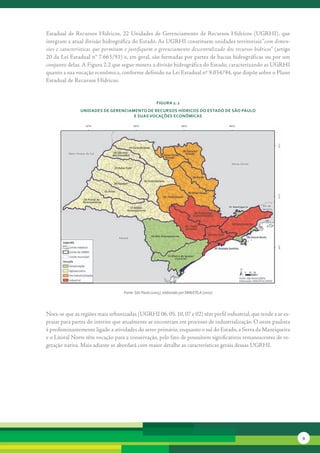
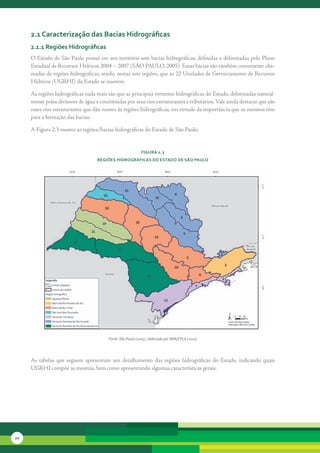



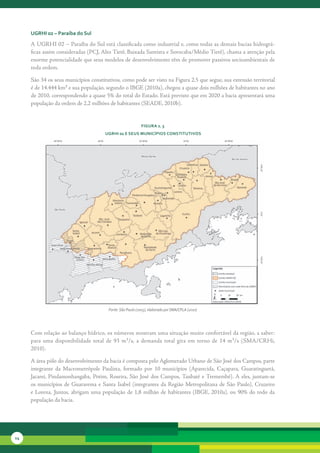


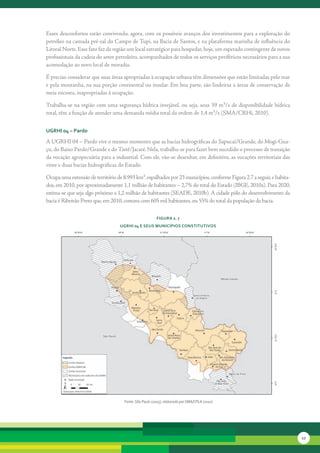



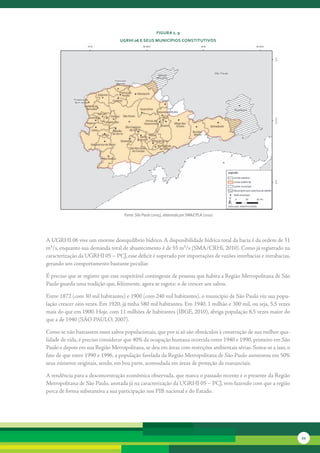


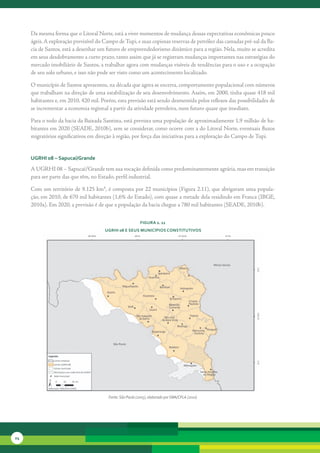

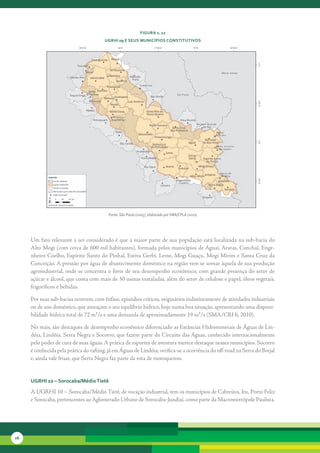






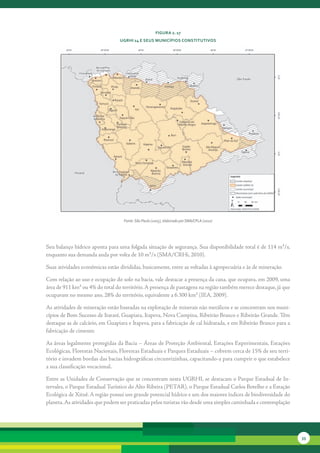

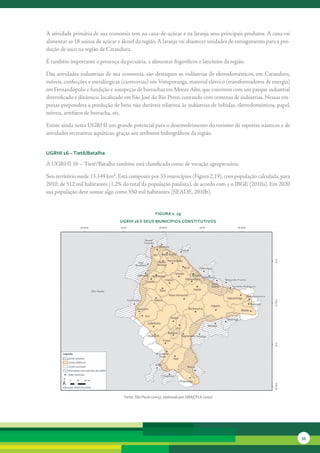
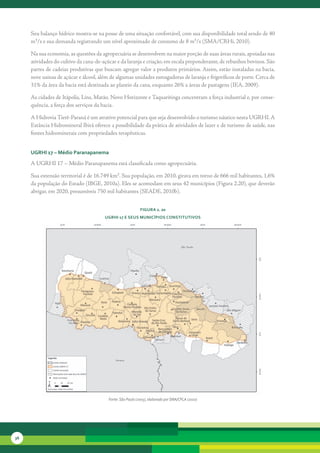
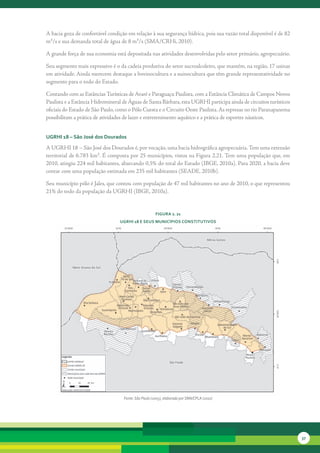
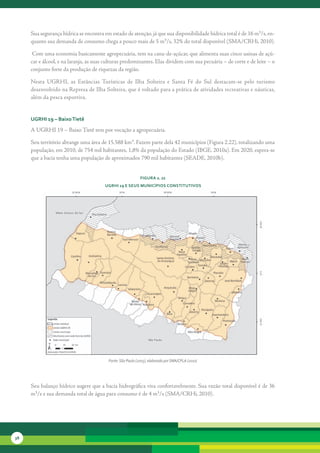

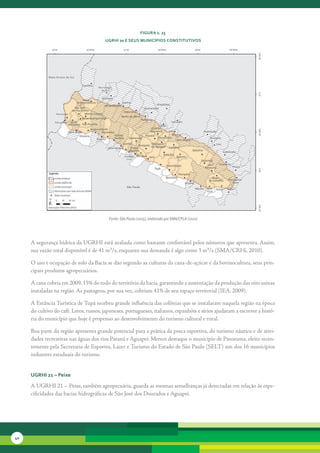
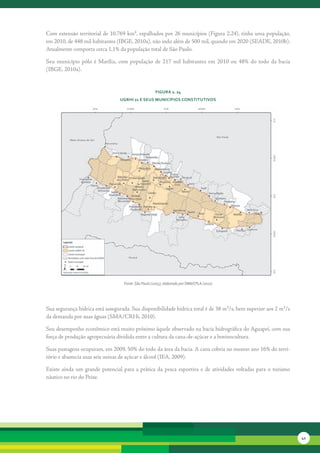
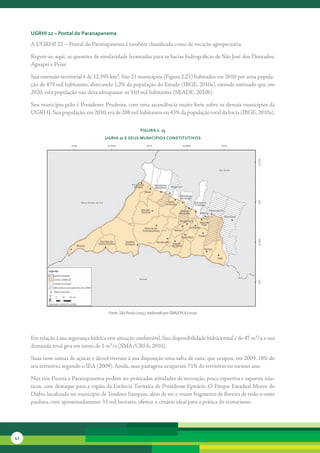


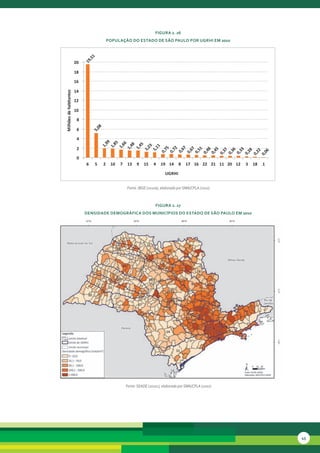

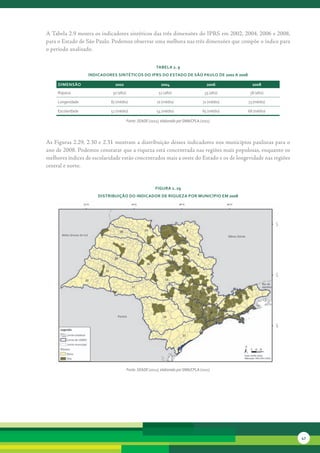
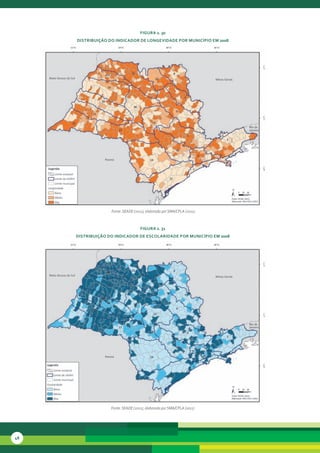






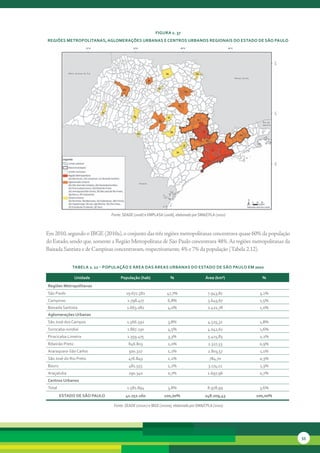

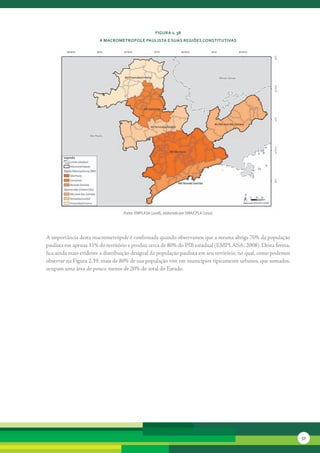



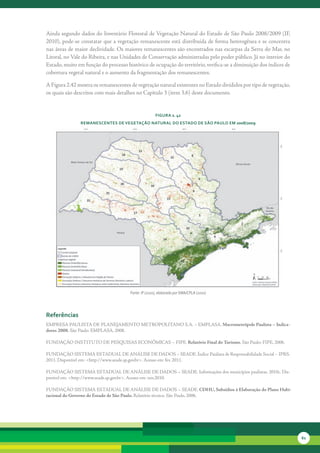

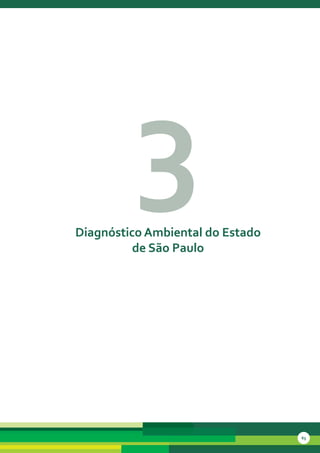


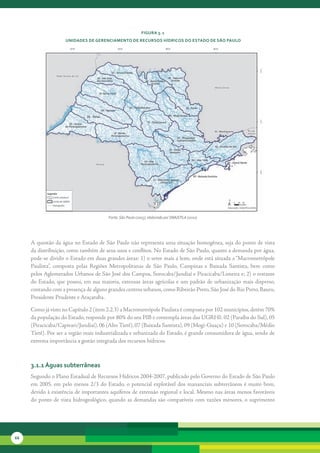








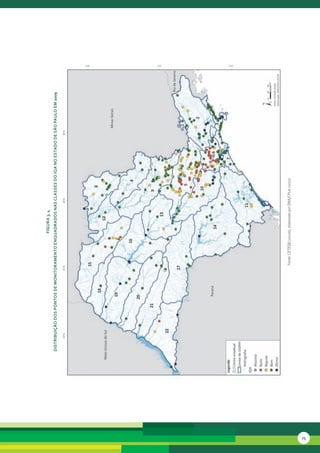



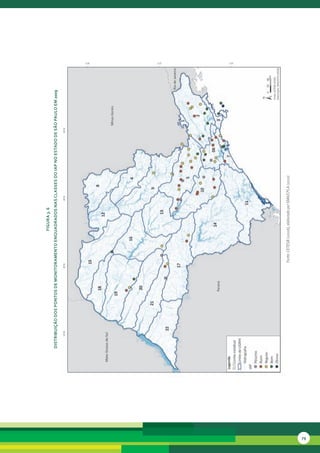


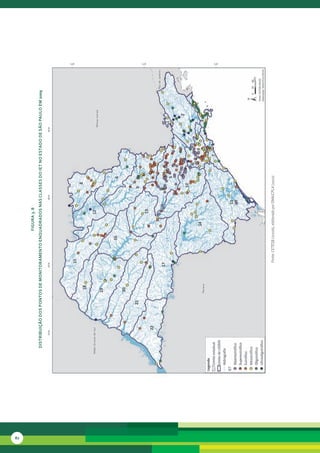



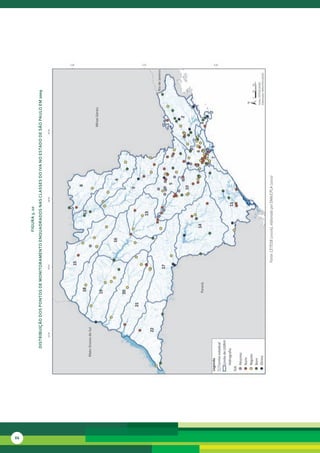


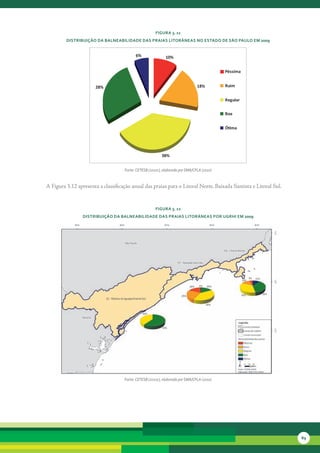

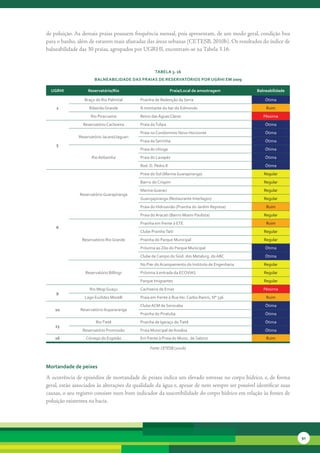










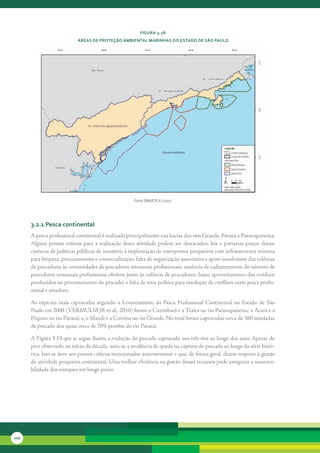





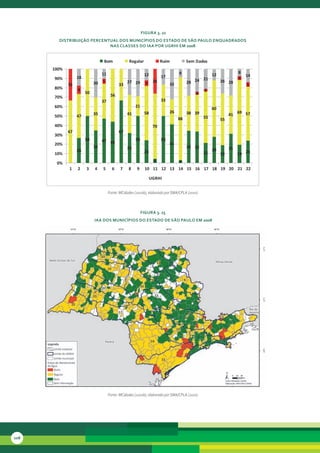



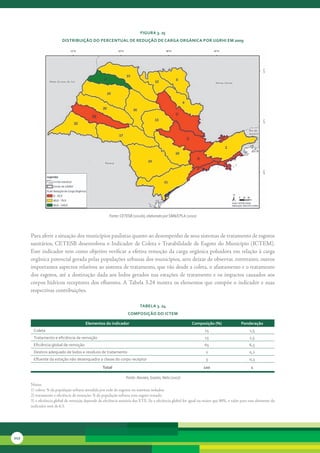
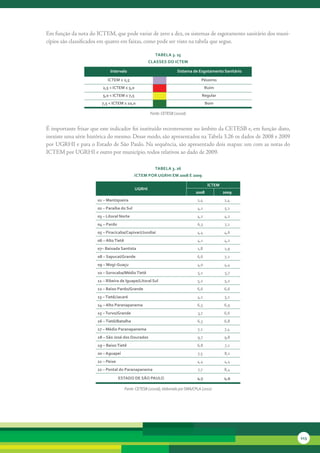
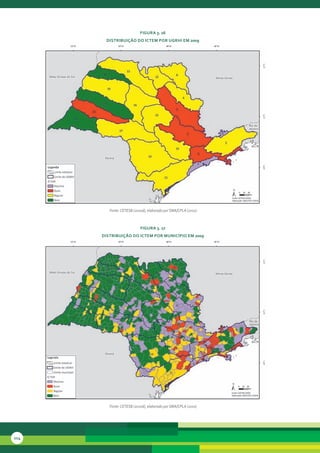


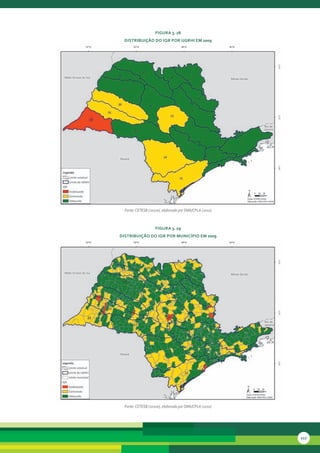

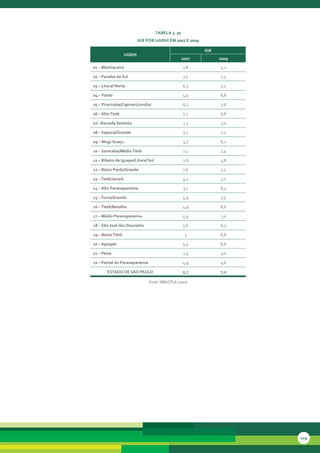
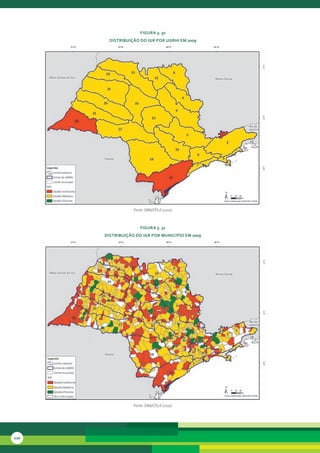











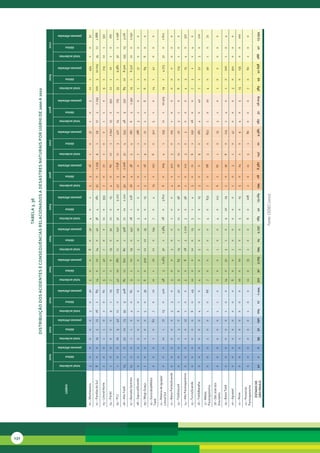
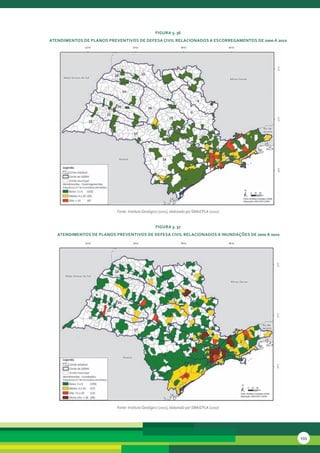
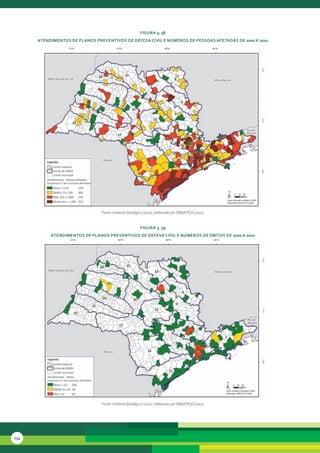


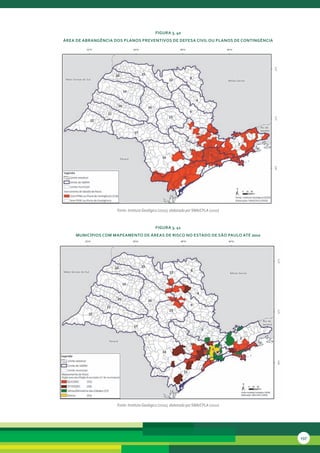




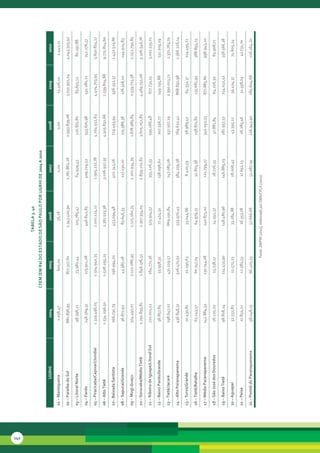





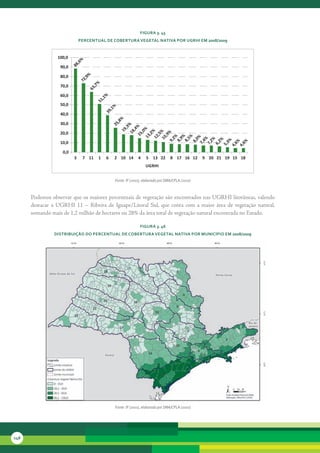










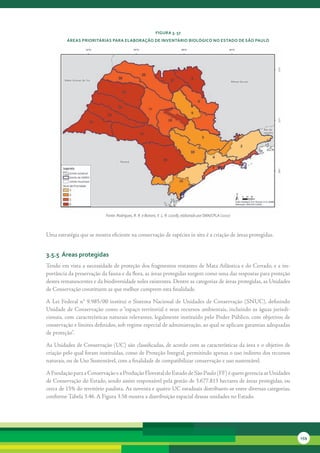
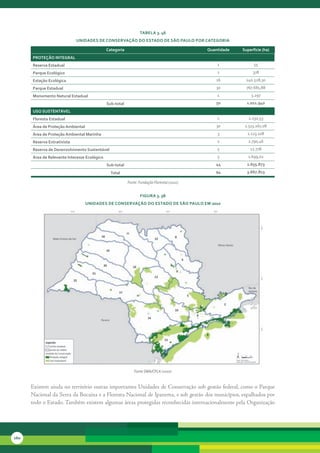























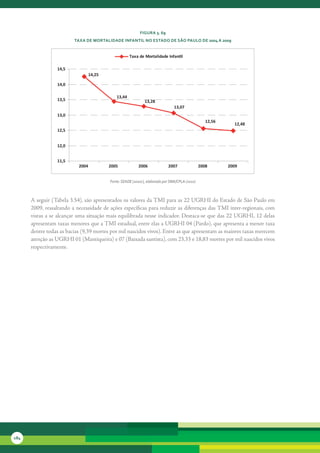










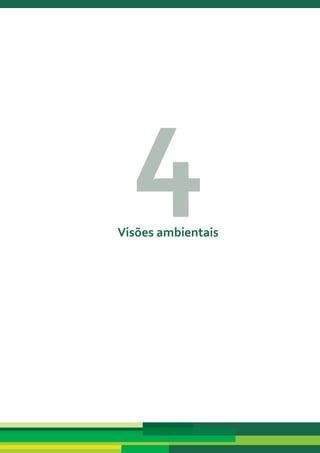



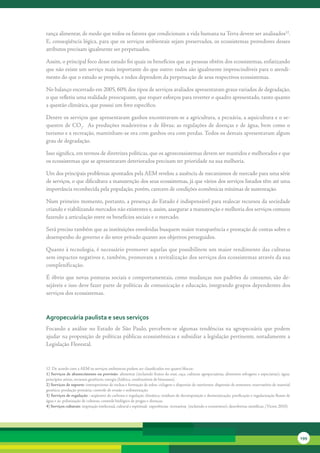
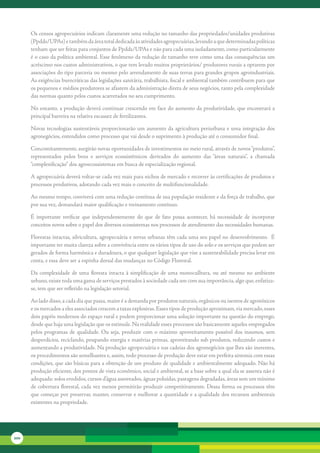
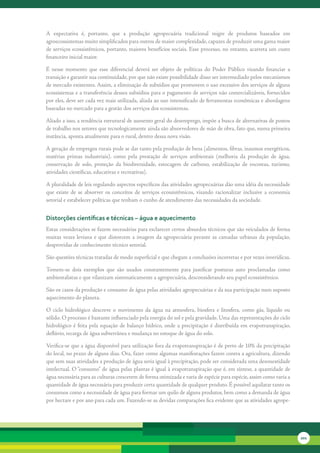





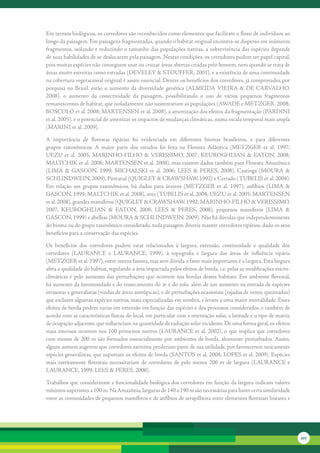
![uma área controle de floresta contínua (LIMA & GASCON, 1999). Ainda na Amazônia, Lee & Peres (2008)
recensearam aves e mamíferos em 32 corredores, e observaram que a acumulação de espécies ocorreu até 400 m de
largura para os dois grupos. A partir desse conjunto de dados, que devem representar situações encontradas em
outras regiões da Amazônia, os autores sugerem que as APP ao longo de rios deveriam manter pelo menos 200
m de área florestada de cada lado do rio para que haja uma plena conservação da biodiversidade. A manutenção
de corredores de 60 m (30 m de cada lado do rio), conforme a legislação atual, resultaria na conservação de apenas
60% das espécies locais. No Cerrado, Tubelis et al. (2004) sugerem que as matas de galeria tenham pelos menos
120 m de largura para a devida proteção das aves. Na Mata Atlântica, Metzger et al. (1997, 1998) trabalharam
com 15 corredores de mata ripária ao longo do rio Jacaré-Pepira, no interior do estado de São Paulo. Nestes
corredores, que variaram de 30 a 650 m de largura, os autores levantaram a diversidade de árvores e arbustos, e
puderam observar que apenas 55% delas estava presente em corredores de menos de 50 m, enquanto 80% estava
presente em corredores com mais 100 m. Esses dados confirmam que corredores de apenas 30 m têm capacidade
muito limitada de manutenção da biodiversidade.
Desta forma, o conhecimento científico obtido nestes últimos anos permite não apenas sustentar os valores
indicados no Código Florestal de 1965 em relação à extensão das Áreas de Preservação Permanente, mas na
realidade indicam a necessidade de expansão destes valores para limiares mínimos de pelos menos 100 m (50
m de cada lado do rio), independentemente do bioma, do grupo taxonômico, do solo ou do tipo de topografia.
Qual a quantidade mínima de rl em termos de conservação da biodiversidade?
A extensão das Reservas Legais varia entre biomas, sendo mais ampla na Amazônia, e mais restrita em outras
regiões do Brasil. Há dados científicos que permitam sustentar os valores de 20, 35 e 80% de RL?
O adequado debate dessas questões necessita considerar, antes de mais nada, a função das RL. Apesar de
inicialmente essas reservas terem sido planejadas como reservas de “exploração florestal”, elas são hoje em dia
consideradas, segundo o Código Florestal, como áreas voltadas ao:
[...] uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flora nativas (Código Florestal).
Trata-se, basicamente, de elementos da paisagem que deveriam promover ou auxiliar a conservação da
biodiversidade.
Neste âmbito, a definição da extensão das RL poderia ser pautada, teoricamente, em questões relacionadas com
Populações Mínimas Viáveis, ou com áreas mínimas para se manter populações viáveis de grande predadores.
Infelizmente, as evidências empíricas descartam a existência de um valor único, válido para todas as populações
e comunidades, e apontam para áreas muito extensas para se conservar a integridade de um sistema ecológico
(SOULÉ & SIMBERLOFF, 1986). Esta literatura é certamente útil para definição das áreas das Unidades de
Conservação, mas é de pouco valor no caso das RL. Por outro lado, há um conjunto de dados e teorias, mais
recentes, que são de grande valia nesta questão: os limiares de percolação e de fragmentação.
O limiar de percolação é a quantidade mínima de habitat necessária numa determinada paisagem para que uma
espécie, que não tem capacidade de sair do seu habitat, possa cruzar a paisagem de uma ponta a outra. A teoria
da percolação foi desenvolvida inicialmente na física, para solucionar questões sobre a quantidade mínima de
material condutor necessário para prover condutividade elétrica, e agora é amplamente utilizada em ecologia
para questões de conectividade biológica. Em simulações feitas em computador, foi possível definir o limiar de
percolação como sendo de 59,28% em paisagens aleatórias, homogêneas (STAUFFER, 1985). Acima deste
valor, o habitat encontra-se ainda mais agrupado, em grandes fragmentos, favorecendo os fluxos biológicos pela
paisagem, inclusive de espécies que não se deslocam fora do seu habitat. No limiar, há uma mudança brusca
208](https://image.slidesharecdn.com/cpla-rqa20111-110819094122-phpapp01/85/Relatorio-de-Qualidade-Ambiental-2011-227-320.jpg)

![Desta forma, a literatura sobre limiares em ecologia sustenta a definição de limites mínimos de RL de 50% ou
preferencialmente 60% na Amazônia, e de pelo menos 20% em regiões mais intensamente ocupadas, isso sem
incluir as APP nestes percentuais.
reserva legal: sua função pode ser mantida com a incorporação das aPP ou com o uso
de espécies exóticas?
Há fortes pressões para se flexibilizar o Código Florestal, no intuito principal de facilitar a expansão econômica
e a regularização de atividades agrícolas, e isso poderia ser obtido por duas formas:
i) a inclusão das APP no cômputo das RL; e
ii) o uso de espécies de interesse econômico, em geral exóticas, numa parte destas reservas.
Mais uma vez, a questão levantada aqui é de saber quais são as bases científicas para essas mudanças.
A inclusão das Áreas de Preservação Permanente no cômputo da Reserva Legal já é prevista no Código Florestal,
podendo ocorrer para todas as propriedades em áreas florestadas da Amazônia Legal, ou então quando APP e
RL somam 50% ou mais da propriedade nas demais regiões do Brasil (ou seja, quando as APP cobrem mais de
30% da propriedade), ou 25% no caso das propriedades pequenas, que são aquela com 30 ou 50 ha, em função da
localização no país. A questão é de saber se a inclusão da APP no cômputo da RL pode ser generalizada, ao invés
de ocorrer apenas nas três situações mencionadas acima. Esta ampla inclusão é defendida por aqueles que consi-
deram insuficientes as áreas disponíveis atualmente para expansão agrícola, urbana ou industrial (MIRANDA
et al. 2008). Por outro lado, essa inclusão é rebatida de diversas formas, sendo o argumento mais comum o fato
de ca. 3 milhões de km2 serem área mais do que suficiente para a expansão das atividades econômicas, além da
existência de amplas áreas já utilizadas, mas que se encontram degradadas, e que deveriam ser alvo de projetos de
recuperação para futura exploração. Esses argumentos são sem dúvida pertinentes, porém eu gostaria de acres-
centar ao debate uma outra linha de raciocínio, apresentada a seguir.
Como dito anteriormente, as RL visam essencialmente à conservação da biodiversidade e ao uso sustentável de
recursos naturais, enquanto as APP têm como:
[...] função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (artigo primeiro do Código Florestal).
As APP basicamente evitam a erosão de terrenos declivosos e a colmatagem dos rios, asseguram os recursos
hídricos, propiciam fluxo gênico, e prestam assim serviços ambientais capitais. Certamente essas áreas também
contribuem para a conservação da biodiversidade, porém considerá-las equivalentes às RL seria um grande erro.
Por se situarem justo adjacentes às áreas ripárias, em terrenos declivosos, ou ainda em restingas, tabuleiros,
chapadas, e em áreas elevadas (acima de 1.800 m de altitude), as APP apresentam embasamento geológico e
pedológico, clima e dinâmica hidro-geomorfológica distintas daquelas situadas distantes dos rios, em terrenos
planos, mais longe das influências marinhas, ou em altitudes mais baixas. Em conseqüência disso, a composição
de espécies da flora e da fauna nativa varia enormemente quando se comparam áreas situadas dentro e fora das
APP. As evidências mais claras destas variações foram obtidas ao longo dos rios, mostrando, em particular, que
a composição arbórea muda em função da distância ao leito do rio, sendo que as diferenças mais bruscas são
obtidas nos primeiros 10-20 m (OLIVEIRA-FILHO 1994a,b; METZGER et al. 1997; RODRIGUES &
LEITÃO-FILHO, 2004). Ou seja, as APP não protegem as mesmas espécies presentes nas RL, e vice-versa.
Em termos de conservação biológica, essas áreas se complementam, pois são biologicamente distintas, e seria
um grande erro ecológico considerá-las como equivalentes. Todo planejamento territorial deveria considerar a
heterogeneidade biológica, e um dos primeiros passos neste sentido é distinguir RL e APP, mantendo estratégias
distintas para a conservação nestas duas situações.
210](https://image.slidesharecdn.com/cpla-rqa20111-110819094122-phpapp01/85/Relatorio-de-Qualidade-Ambiental-2011-229-320.jpg)
![O segundo mecanismo de flexibilização das RL também já está parcialmente contemplado no Código Florestal,
uma vez que em:
[...] pequenas propriedades ou de posse rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos
por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas (terceiro parágrafo do artigo 16).
O que se discute, mais recentemente, é a ampliação desta flexibilização, permitindo que até 50% da RL possa ser
composta por espécies exóticas, como o dendê ou o Eucalipto. Qual seria a efetividade da RL em termos de conser-
vação biológica neste caso? Creio que já temos dados concretos para responder essa pergunta, em particular vindos
de estudos de sistemas consorciados na Bahia, e de plantações de Eucalipto na Amazônia e na Mata Atlântica. Na
região de Ilhéus, um grupo de pesquisadores das Universidades Estaduais de Campinas, São Paulo e Santa Cruz
estudou o valor, em termos de conservação, de um sistema denominado “cabruca”, que são plantações de cacau som-
breadas por um dossel de mata (FARIA et al. 2006, 2007; PARDINI et al. 2009). A principal conclusão que esses
pesquisadores chegaram é que o valor da cabruca depende do contexto no qual ela se encontra. Em paisagens pre-
dominantemente florestais, com amplas extensões de florestas maduras (ca. 50%), e também com presença de man-
chas de florestas secundárias (16%) e áreas produtivas florestadas (no caso, cabrucas, que cobrem 6% da paisagem,
e seringais), as cabrucas conseguem manter uma parcela considerável das comunidades estudadas (samambaia,
sapos, lagartos, morcegos e aves). No entanto, em outra paisagem vizinha, na qual as cabrucas dominam a paisagem
(ca. 82%), e os remanescentes florestais são reduzidos (ca. 5%) e fragmentados, estes sistemas são extremamente
emprobrecidos, e mantêm uma parcela pequena da biodiversidade regional (FARIA et al. 2006, 2007). Ou seja,
a ocorrência ou manutenção da fauna e flora nativa em cabrucas depende da existência de uma fonte de espécie
próxima relativamente extensa. Isso significa que em paisagens predominantemente florestais, tais quais as que se
quer conservar na Amazônia, sistemas similares ao das cabrucas poderiam ser considerados como boas alternativas
de uso sustentável de recursos naturais em parte da RL (sendo que a extensão destas áreas deve ser estudada com
cuidado). No entanto, em outras regiões do Brasil, onde a vegetação nativa já está consideravelmente reduzida e
fragmentada, RL formadas por sistemas que intercalam espécies plantadas de interesse econômico com espécies
nativas teriam reduzido valor conservacionista, e esta opção deveria ser evitada.
No caso das plantações de espécies de uso comercial, em geral exóticas, como o Eucalipto, a situação é distinta.
Estudos promovidos no Rio Grande do Sul mostram que estas monoculturas arbóreas podem conter parte da
biota nativa, porém isso depende fortemente do tipo de manejo da plantação, e em particular da manutenção
da regeneração de espécies nativas no sub-bosque, e da ligação das áreas plantadas com fontes de espécies na-
tivas próximas (FONSECA et al. 2009). Infelizmente, a grande maioria dos reflorestamentos comerciais não
segue essas regras. Num dos mais completos estudos sobre esses reflorestamentos feitos no país, no projeto Jarí
(Amazônia), Barlow et al. (2007a, b) mostraram, para diferentes grupos taxonômicos, haver baixa similaridade
de espécies entre florestas nativas maduras e áreas de reflorestamento, deixando claro o limitado valor destas
plantações em conservar espécies nativas.
Logo, independentemente da cobertura florestal remanes ente na paisagem, não é aconselhável a substituição de
c
RL de espécies nativas por plantações homogêneas de espécies exóticas. Por outro lado, sistemas consorciados
de espécies nativas e de interesse econômico podem ser opções interessantes para parte das RL da Amazônia,
num contexto de ampla cobertura florestal nativa. Ademais, a fusão de APP e RL seria temerária em termos
biológicos simplesmente porque estas têm funções e composições de espécies distintas, e desempenham assim
papeis complementares em termos de conservação da biodiversidade.
devemos manter pequenos fragmentos de vegetação nativa sob forma de rl?
O valor de pequenos fragmentos de RL para a conservação da biodiversidade vem sendo questionado, levando
a propostas de não mais contabilizar essas reservas por propriedade, mas sim por bacia hidrográfica ou mesmo
por bioma, de forma a agrupar essas áreas em fragmentos maiores, e assim aumentar seu valor biológico. Esse
211](https://image.slidesharecdn.com/cpla-rqa20111-110819094122-phpapp01/85/Relatorio-de-Qualidade-Ambiental-2011-230-320.jpg)


![LAURANCE SG & LAURANCE WF, 1999. Tropical wildlife corridors: Use of linear rainforest remnants by arboreal mammals.
Biological Conservation, 91:231-239.
LAURANCE WF et al., 2002. Ecosystem decay of Amazonian forest fragments: a 22-year investigation. Conservation Biology, 16:605-618.
LEES AC & PERES CA, 2008. Conservation value of remnant riparian forest corridors of varying quality for Amazonian birds and
mammals. Conservation Biology, 22:439-449.
LIMA MG & GASCON C, 1999. The conservation value of linear forest remnants in central Amazonia. Biological Conservation,
91:241-247.
LINDENMAYER DB & Luck G, 2005. Synthesis: Thresholds in conservation and management. Biological Conservation, 124:351-354.
LOPES AV et al., 2009. Long-term erosion of tree reproductive trait diversity in edge-dominated Atlantic forest fragments. Biological
Conservation, 142:1154-1165.
MALTCHIK L et al., 2008. Dynamics of the terrestrial amphibian assemblage in a flooded riparian forest fragment in a Neotropical
region in the south of Brazil. Brazilian Journal of Biology, 68:763-769.
MARINHO-FILHO J & VERISSIMO EW, 1997. The rediscovery of Callicebus personatus barbarabrownae in northeastern Brazil
with a new western limit for its distribution. Primates, 38:429-433.
MARINI MA et al., 2009. Predicted climate-driven bird distribution changes and forecasted conservation conflicts in a neotropical
savanna. Conservation Biology, 23:1558-1567.
MARTENSEN AC, PIMENTEL RG & METZGER JP, 2008. Relative effects of fragment size and connectivity on bird community
in the Atlantic Rain Forest: Implications for conservation. Biological Conservation, 141:2184-2192.
METZGER JP, 2001. Effects of deforestation pattern and private nature reserves on the forest conservation in settlement areas of the
Brazilian Amazon. Biota Neotropica. Avaliable from: http://www.biotaneotropica.org.br/v1n12.
METZGER JP, 2002. Bases biológicas para definição de Reservas Legais. Ciência Hoje, 31:183-184.
METZGER JP & DÉCAMPS H, 1997. The structural connectivity threshold: an hypothesis in conservation biology at the landscape
scale. Acta Ecologica, 18:1-12.
METZGER JP, BERNACCI LC & GOLDENBERG R, 1997. Pattern of tree species diversity in riparian forest fragments with differ-
ent widths (SE Brazil). Plant Ecology, 133:135-152.
METZGER JP, GOLDENBERG R & BERNACCI LC, 1998. Diversidade e estrutura de fragmentos de mata de várzea e de mata
mesófila semidecídua submontana do rio Jacaré-Pepira (SP). Revista Brasileira de Botânica, 21:321-330.
METZGER JP et al., 2009. Time-lag in biological responses to landscape changes in a highly dynamic Atlantic forest region. Biological
Conservation, 142:1166-1177.
MICHALSKI F et al., 2006. Human-wildlife conflicts in a fragmented Amazon an forest landscape: Determinants of large felid depre-
dation on livestock. Animal Conservation, 9:179-188.
MIRANDA EE et al., 2008. Alcance Territorial da Legislação Ambiental e Indigenista. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite.
[cited 2010 March 8]. Available from:http://www.alcance.cnpm.embrapa.br.Acesso em: 8 mar. 2010.
MOURA DC & SCHLINDWEIN C, 2009. The gallery forests of the São Francisco river as corridors for euglossine bees (Hymenop-
tera: Apidae) from tropical rainforests. Neotropical Entomology, 38:281-284.
OLIVEIRA-FILHO FJB & METZGER JP, 2006. Thresholds in landscape structure for three common deforestation patterns in the
Brazilian Amazon. Landscape Ecology, 21:1061-1073.
OLIVEIRA-FILHO AT et al., 1994a. Differentiation of streamside and upland vegetation in an area of montane semideciduous forest
in southeastern brazil. Flora,189:287-305.
OLIVEIRA-FILHO AT et al., 1994b. Effects of soils and topography on the distribution of tree species in a tropical riverine forest in
south-eastern Brazil. Journal of Tropical Ecology, 10:483-508.
PARDINI R et al., 2005. The role of forest structure, fragment size and corridors in maintaining small mammal abundance and diversity
in an Atlantic forest landscape. Biological Conservation, 124:253-266.
PARDINI R et al., 2009. The challenge of maintaining Atlantic forest biodiversity: a multi-taxa conservation assessment of specialist and
generalist species in an agro-forestry mosaic in southern Bahia. Biological Conservation, 142:1178-1190.
PINAY G & DÁCAMPS H, 1988. The role of riparian woods in regulating nitrogen fluxes between the alluvial aquifer and surface
water: a conceptual model. Regulated Rivers - Research & Management, 2:507-516.
QUIGLEY HB & CRAWSHAW J, 1992. A conservation plan for the jaguar Panthera onca in the Pantanal region of Brazil. Biological
Conservation, 61:149-157.
RIBEIRO MC et al., 2009. Brazilian Atlantic forest: how much is left and how is the remaining forest distributed? Implications for
conservation. Biological Conservation, 142:1141-1153
214](https://image.slidesharecdn.com/cpla-rqa20111-110819094122-phpapp01/85/Relatorio-de-Qualidade-Ambiental-2011-233-320.jpg)